 OS «SINTOMAS DO ESTÉTICO» E A TEORIA DO FUNCIONAMENTO SIMBÓLICO DAS OBRAS DE ARTE, Parte I, por Isabel Rosete
OS «SINTOMAS DO ESTÉTICO» E A TEORIA DO FUNCIONAMENTO SIMBÓLICO DAS OBRAS DE ARTE, Parte I, por Isabel Rosete«A questão de saber exactamente que características distinguem ou são indicadores da simbolização que constitui o funcionamento da algo como obra de arte pede um estudo cuidadoso à luz de uma teoria geral dos símbolos. Isto é mais do que aquilo que posso aqui empreender, mas arrisco a hipótese de que há cinco sintomas do estético»[1]
§ 1. O Estatuto Epistemológico dos “Sintomas do Estético”
Se, para Goodman, todas as obras de arte são símbolos e se todos os objectos podem funcionar como símbolos, então todos os símbolos são símbolos estéticos e todos os objectos podem ser considerados, indiferentemente, como obras de arte? Obviamente que não. Embora o sistema filosófico de Goodman seja profundamente amplo, não é compatível com qualquer forma de arbitrariedade que nos impeça de distinguir, com precisão, o estético do não estético. Requer, ao invés, o máximo de rigor em cada afirmação que proferimos ou em cada interpretação que apresentemos de uma pintura, de um poema ou de uma dada partitura musical. A fuga ao aleatório, ao puramente relativista e arbitrário é encontrada num conjunto de sintomas, que o autor denomina por “sintomas do estético”.
Os sistemas da arte tendem a ser, preferencialmente, e ao invés dos da ciência, «sintáctica e semanticamente densos, saturados, exemplificativos e multireferenciais»[2]. Este conjunto de características constituem os meios adequados que nos permitem distinguir o estético do não-estético. São propriedades dos símbolos, pelo que é-nos permitido construir a experiência estética assim como a experiência que temos dos objectos atentando no funcionamento simbólico dos objectos de acordo com estas características e, do mesmo modo, construir as obras de arte como os objectos que desempenham esse mesmo funcionamento.
As cinco características não determinam propriamente a dimensão estética do objecto, nem tão pouco fornecem nenhuma definição ou descrição. Têm, apenas, o estatuto epistemológico de “sintomas”. São pistas, que nos permitem identificar quando um dado objecto pode ou não ser considerado como pertencente ao domínio do estético está a funcionar como obra de arte; são sinais que, em conjunto com outros, tendem a estar presentes quando há uma situação estética, indicando, portanto, o estético probabilisticamente. São, numa palavra, “sintomas”, “sintomas do estético” que, contudo, só podem requerer «alguma redefinição das várias e erráticas fronteiras do estético» se chegarem «algures perto de serem disjuntivamente necessários e conjuntivamente suficientes (como um síndroma). Além disso, repare-se que estas propriedades tendem a concentrar a atenção no símbolo, pelo menos tanto ou mais do que aquilo a que ele se refere».[3]
Tal como o médico detecta uma determinada doença depois de fazer o diagnóstico detalhado com base nos sintomas que o doente lhe apresenta (sabemos que, por exemplo, ter os olhos vermelhos, lacrimejantes, congestionadas é sinal de conjuntivite), o artista, o crítico de arte, o filósofo ou o simples espectador com o mínimo de formação sabe distinguir o que pertence ou não pertence à esfera do estético. São esses sintomas que nos mostram “quando é arte”: um objecto funciona como arte quando funciona simbolicamente exibindo os (ou alguns dos) sintomas do estético.
§ 2. Os “Sintomas do Estético” como Resposta à Questão “Quando é Arte?”
Encaminhámo-nos, assim, para a resposta à questão que pergunta “Quando é Arte?” – embora não tenhamos respondido àquela que inquire “O que é a Arte?”[4] ‘preterida pelo autor, por razões óbvias que parece interessar apenas aos essencialistas, os quais procuram uma definição única para a pluralidade dos fenómenos estéticos. A questão “Quando é Arte?” enuncia uma das problemáticas centrais de Modos de Fazer Mundos, e, quiçá, de toda a filosofia da arte se considerarmos, desde Duchamp, pelo menos, alguns dos casos mais bizarros da arte contemporânea, cuja problematização terá de ser claramente colocada em termos da função simbólica da arte.
Se a primeira questão se revela filosoficamente interessante, a segunda nem por isso. Não estamos, de facto, num sistema essencialista que procure a busca exaustiva dos fundamentos, ou essências das coisas, a revelação da essência primordial de todo o ente que é, mas num sistema que coloca em primeiro plano a noção de símbolo, quando se refere à arte e a todos os outros modos de construção de mundos. Num sistema filosófico que vê o mundo pelos óculos da teoria geral dos símbolos e do funcionamento simbólico das obras de arte e que não determina o que é arte pela delimitação de uma qualquer formulação eidética nem tão-só pelos critérios que as teorias institucionais possam delimitar como os mais adequados para distinguir o que é obra de arte daquilo que (aparentemente) não é.
Ambas as posições – a essencialista e a institucionalista – excluíram muitas das obras que hoje consagramos. Apresentam-se aos olhos de Goodman como excessivamente reducionistas por não considerarem a potencialidade simbólica de qualquer objecto que pode funcionar como obra de arte (e o termo a sublinhar é precisamente funcionar), tendo em consideração os sistemas e os contextos, simplesmente porque exemplifica, porque é amostra ou “símbolo-amostra” de, porque está em vez de, mesmo que a sua denotação seja absolutamente nula. Ora, como a simbolização não está dependente das propriedades intrínsecas dos objectos, ao invés dos valores que tradicionalmente eram confinados à arte (o belo, o harmonioso, o sublime, etc.), resta-nos reiterar a tese de que qualquer coisa pode funcionar como arte desde que exiba os referidos “sintomas do estético”. A arte conceptual ou os ready-made e os happennings, encontram, agora, o seu lugar de acolhimento adequado.
Esta problemática conduz-nos à importantíssima questão que se situa no ponto em que devemos fazer a distinção entre o funcionar como obra de arte e o ser obra de arte. Esta distinção é feita em termos da estabilidade do funcionamento simbólico e indica-nos que um objecto funciona como obra de arte, quando, e somente quando (o ponto central da questão “Quando há arte?”, situa-se precisamente no «quando», porque o que interessa é saber quando é que um objecto funciona como arte), funciona como símbolo que exibe os, ou alguns dos sintomas do estético, admite Goodman. Mas, só é uma obra de arte, se e somente se, a sua função habitual é justamente essa.
É neste sentido, que devemos entender a tese que afirma que um objecto “X” pode estar a funcionar como arte e não ser arte (o caso da pedra de Alberto Carneiro, a que já nos referimos, encontra aqui a sua explicação e legitimação definitiva), ou, pelo contrário, um objecto “Y” ser arte e não estar a funcionar como arte (se colocarmos «O Banho» (1989), de Botero, a tapar o buraco deixado por uma janela cujos vidros se partiram, estamos a exemplificar o caso do objecto “Y”: a consagrada obra de arte deixa, naquele momento, de funcionar como obra de arte, embora o quadro não deixe de ser uma obra de arte, porque não desempenha essa função, mas outra que lhe é absolutamente estranha, e para a qual não foi feito)[5].
Os “sintomas do estético”, em virtude de constituírem um conjunto de noções clara, rigorosa e sistematicamente construídas, susceptíveis de serem examinados e discutidos, permitem-nos, pois, compreender as mais importantes propriedades tradicionalmente atribuídas, como elementos distintivos da arte, bem como todas aquelas que inesperadamente vão sendo introduzidas cada vez que uma nova «versão-de-mundo» é construída. Os “sintomas” apresentam como objectivo imediato explicar o porquê da complexidade da compreensão das obras de arte, resultante da dificuldade que habitualmente encontramos na identificação dos seus símbolos e dos seus referentes, sem que tenhamos de ceder às pressões intelectualistas, segundo as quais a percepção estética é enformada por um carácter transcendente, misterioso e até mesmo inefável.
Este conjunto de “pistas” ou “sinais” – termos absolutamente sinónimos pelos quais nos referimos aos “sintomas” – são requisitos que funcionam como uma espécie de bitola pela qual nos é permitido estabelecer as fronteiras entre o estético e o não estético, bem como identificarmos, sem arbitrariedade, “Quando é Arte?”. A sua aplicação é retrospectiva e prospectiva. O seu âmbito é assaz abrangente e a sua capacidade de abertura ao novo, ao diferente, no interior de um dado sistema, é uma das características fundamentais que não podemos deixar de salientar.
A partir dos «sintomas» compreendemos porque é que a interpretação das obras de arte não é meramente uma operação automática ou linear, como acontece no caso da interpretação das obras científicas. Antes de mais, porque a ciência prescreve, sem restrições, o que é relevante ou não para a identificação e interpretação dos seus símbolos e dos respectivos referentes, ignorando completamente o que se situa para além dessa restrita fronteira. Ao invés, na arte, nada pode ser, em princípio, considerado como insignificante, contingente ou sem sentido. Requer-se o máximo de perspicácia, de sensibilidade, de emoção e de finura interpretativa (propriedades que a ciência descura, embora não estejam propriamente ausentes do processo de construção das suas “versões-de-mundo”), de molde a que seja possível detectar a textura da matéria, a especificidade de uma pincelada (não podemos confundir a pincelada de Van Gogh com a de Miró, ou com a de Rembrandt), a subtileza de uma alusão ou de uma metáfora pictórica, ou a multireferencialidade de um quadro ou de um poema. Esta diferença abissal é particularmente resultante do facto de os símbolos científicos serem semanticamente austeros e de os símbolos estéticos não enfermarem desta restrição, não colocando, por isso, qualquer tipo de freios ao eventual prosseguimento ilimitado da sua interpretação.
É precisamente por esta ordem de razões que os cientistas se sentem perfeitamente a vontade para afirmar de um modo geralmente peremptório que na arte não há progresso cumulativo, nem acordo entre os espíritos, ou que a arte não é cognitiva, características ou propriedades que reivindicam como exclusivas da ciência.
§ 3. As «Amostras» e a Teoria da Exemplificação
«As obras de arte, contudo, caracteristicamente ilustram em vez de nomear ou descrever espécies relevantes. Mesmo onde os âmbitos de aplicação – as coisas descritas ou representadas pictoricamente – coincidem, as características ou espécies exemplificadas ou exprimidas podem ser muito diferentes».[6]
Nelson Goodman
«Considere-se, de novo, uma vulgar amostra de tecido no catálogo de amostras de um alfaiate ou de um estofador. É improvável que seja uma obra de arte, que represente pictoricamente ou exprima alguma coisa. É simplesmente uma amostra – uma simples amostra. Mas de que é ela uma amostra? Da Textura, da cor, da tecedura, da grossura, das fibras de que é feita...; tudo o que importa nesta amostra, somos tentados a dizer, é que ela foi cortada de uma peça de tecido e tem as mesmas propriedades do resto do matéria.»
Se, para Goodman, todas as obras de arte são símbolos e se todos os objectos podem funcionar como símbolos, então todos os símbolos são símbolos estéticos e todos os objectos podem ser considerados, indiferentemente, como obras de arte? Obviamente que não. Embora o sistema filosófico de Goodman seja profundamente amplo, não é compatível com qualquer forma de arbitrariedade que nos impeça de distinguir, com precisão, o estético do não estético. Requer, ao invés, o máximo de rigor em cada afirmação que proferimos ou em cada interpretação que apresentemos de uma pintura, de um poema ou de uma dada partitura musical. A fuga ao aleatório, ao puramente relativista e arbitrário é encontrada num conjunto de sintomas, que o autor denomina por “sintomas do estético”.
Os sistemas da arte tendem a ser, preferencialmente, e ao invés dos da ciência, «sintáctica e semanticamente densos, saturados, exemplificativos e multireferenciais»[2]. Este conjunto de características constituem os meios adequados que nos permitem distinguir o estético do não-estético. São propriedades dos símbolos, pelo que é-nos permitido construir a experiência estética assim como a experiência que temos dos objectos atentando no funcionamento simbólico dos objectos de acordo com estas características e, do mesmo modo, construir as obras de arte como os objectos que desempenham esse mesmo funcionamento.
As cinco características não determinam propriamente a dimensão estética do objecto, nem tão pouco fornecem nenhuma definição ou descrição. Têm, apenas, o estatuto epistemológico de “sintomas”. São pistas, que nos permitem identificar quando um dado objecto pode ou não ser considerado como pertencente ao domínio do estético está a funcionar como obra de arte; são sinais que, em conjunto com outros, tendem a estar presentes quando há uma situação estética, indicando, portanto, o estético probabilisticamente. São, numa palavra, “sintomas”, “sintomas do estético” que, contudo, só podem requerer «alguma redefinição das várias e erráticas fronteiras do estético» se chegarem «algures perto de serem disjuntivamente necessários e conjuntivamente suficientes (como um síndroma). Além disso, repare-se que estas propriedades tendem a concentrar a atenção no símbolo, pelo menos tanto ou mais do que aquilo a que ele se refere».[3]
Tal como o médico detecta uma determinada doença depois de fazer o diagnóstico detalhado com base nos sintomas que o doente lhe apresenta (sabemos que, por exemplo, ter os olhos vermelhos, lacrimejantes, congestionadas é sinal de conjuntivite), o artista, o crítico de arte, o filósofo ou o simples espectador com o mínimo de formação sabe distinguir o que pertence ou não pertence à esfera do estético. São esses sintomas que nos mostram “quando é arte”: um objecto funciona como arte quando funciona simbolicamente exibindo os (ou alguns dos) sintomas do estético.
§ 2. Os “Sintomas do Estético” como Resposta à Questão “Quando é Arte?”
Encaminhámo-nos, assim, para a resposta à questão que pergunta “Quando é Arte?” – embora não tenhamos respondido àquela que inquire “O que é a Arte?”[4] ‘preterida pelo autor, por razões óbvias que parece interessar apenas aos essencialistas, os quais procuram uma definição única para a pluralidade dos fenómenos estéticos. A questão “Quando é Arte?” enuncia uma das problemáticas centrais de Modos de Fazer Mundos, e, quiçá, de toda a filosofia da arte se considerarmos, desde Duchamp, pelo menos, alguns dos casos mais bizarros da arte contemporânea, cuja problematização terá de ser claramente colocada em termos da função simbólica da arte.
Se a primeira questão se revela filosoficamente interessante, a segunda nem por isso. Não estamos, de facto, num sistema essencialista que procure a busca exaustiva dos fundamentos, ou essências das coisas, a revelação da essência primordial de todo o ente que é, mas num sistema que coloca em primeiro plano a noção de símbolo, quando se refere à arte e a todos os outros modos de construção de mundos. Num sistema filosófico que vê o mundo pelos óculos da teoria geral dos símbolos e do funcionamento simbólico das obras de arte e que não determina o que é arte pela delimitação de uma qualquer formulação eidética nem tão-só pelos critérios que as teorias institucionais possam delimitar como os mais adequados para distinguir o que é obra de arte daquilo que (aparentemente) não é.
Ambas as posições – a essencialista e a institucionalista – excluíram muitas das obras que hoje consagramos. Apresentam-se aos olhos de Goodman como excessivamente reducionistas por não considerarem a potencialidade simbólica de qualquer objecto que pode funcionar como obra de arte (e o termo a sublinhar é precisamente funcionar), tendo em consideração os sistemas e os contextos, simplesmente porque exemplifica, porque é amostra ou “símbolo-amostra” de, porque está em vez de, mesmo que a sua denotação seja absolutamente nula. Ora, como a simbolização não está dependente das propriedades intrínsecas dos objectos, ao invés dos valores que tradicionalmente eram confinados à arte (o belo, o harmonioso, o sublime, etc.), resta-nos reiterar a tese de que qualquer coisa pode funcionar como arte desde que exiba os referidos “sintomas do estético”. A arte conceptual ou os ready-made e os happennings, encontram, agora, o seu lugar de acolhimento adequado.
Esta problemática conduz-nos à importantíssima questão que se situa no ponto em que devemos fazer a distinção entre o funcionar como obra de arte e o ser obra de arte. Esta distinção é feita em termos da estabilidade do funcionamento simbólico e indica-nos que um objecto funciona como obra de arte, quando, e somente quando (o ponto central da questão “Quando há arte?”, situa-se precisamente no «quando», porque o que interessa é saber quando é que um objecto funciona como arte), funciona como símbolo que exibe os, ou alguns dos sintomas do estético, admite Goodman. Mas, só é uma obra de arte, se e somente se, a sua função habitual é justamente essa.
É neste sentido, que devemos entender a tese que afirma que um objecto “X” pode estar a funcionar como arte e não ser arte (o caso da pedra de Alberto Carneiro, a que já nos referimos, encontra aqui a sua explicação e legitimação definitiva), ou, pelo contrário, um objecto “Y” ser arte e não estar a funcionar como arte (se colocarmos «O Banho» (1989), de Botero, a tapar o buraco deixado por uma janela cujos vidros se partiram, estamos a exemplificar o caso do objecto “Y”: a consagrada obra de arte deixa, naquele momento, de funcionar como obra de arte, embora o quadro não deixe de ser uma obra de arte, porque não desempenha essa função, mas outra que lhe é absolutamente estranha, e para a qual não foi feito)[5].
Os “sintomas do estético”, em virtude de constituírem um conjunto de noções clara, rigorosa e sistematicamente construídas, susceptíveis de serem examinados e discutidos, permitem-nos, pois, compreender as mais importantes propriedades tradicionalmente atribuídas, como elementos distintivos da arte, bem como todas aquelas que inesperadamente vão sendo introduzidas cada vez que uma nova «versão-de-mundo» é construída. Os “sintomas” apresentam como objectivo imediato explicar o porquê da complexidade da compreensão das obras de arte, resultante da dificuldade que habitualmente encontramos na identificação dos seus símbolos e dos seus referentes, sem que tenhamos de ceder às pressões intelectualistas, segundo as quais a percepção estética é enformada por um carácter transcendente, misterioso e até mesmo inefável.
Este conjunto de “pistas” ou “sinais” – termos absolutamente sinónimos pelos quais nos referimos aos “sintomas” – são requisitos que funcionam como uma espécie de bitola pela qual nos é permitido estabelecer as fronteiras entre o estético e o não estético, bem como identificarmos, sem arbitrariedade, “Quando é Arte?”. A sua aplicação é retrospectiva e prospectiva. O seu âmbito é assaz abrangente e a sua capacidade de abertura ao novo, ao diferente, no interior de um dado sistema, é uma das características fundamentais que não podemos deixar de salientar.
A partir dos «sintomas» compreendemos porque é que a interpretação das obras de arte não é meramente uma operação automática ou linear, como acontece no caso da interpretação das obras científicas. Antes de mais, porque a ciência prescreve, sem restrições, o que é relevante ou não para a identificação e interpretação dos seus símbolos e dos respectivos referentes, ignorando completamente o que se situa para além dessa restrita fronteira. Ao invés, na arte, nada pode ser, em princípio, considerado como insignificante, contingente ou sem sentido. Requer-se o máximo de perspicácia, de sensibilidade, de emoção e de finura interpretativa (propriedades que a ciência descura, embora não estejam propriamente ausentes do processo de construção das suas “versões-de-mundo”), de molde a que seja possível detectar a textura da matéria, a especificidade de uma pincelada (não podemos confundir a pincelada de Van Gogh com a de Miró, ou com a de Rembrandt), a subtileza de uma alusão ou de uma metáfora pictórica, ou a multireferencialidade de um quadro ou de um poema. Esta diferença abissal é particularmente resultante do facto de os símbolos científicos serem semanticamente austeros e de os símbolos estéticos não enfermarem desta restrição, não colocando, por isso, qualquer tipo de freios ao eventual prosseguimento ilimitado da sua interpretação.
É precisamente por esta ordem de razões que os cientistas se sentem perfeitamente a vontade para afirmar de um modo geralmente peremptório que na arte não há progresso cumulativo, nem acordo entre os espíritos, ou que a arte não é cognitiva, características ou propriedades que reivindicam como exclusivas da ciência.
§ 3. As «Amostras» e a Teoria da Exemplificação
«As obras de arte, contudo, caracteristicamente ilustram em vez de nomear ou descrever espécies relevantes. Mesmo onde os âmbitos de aplicação – as coisas descritas ou representadas pictoricamente – coincidem, as características ou espécies exemplificadas ou exprimidas podem ser muito diferentes».[6]
Nelson Goodman
«Considere-se, de novo, uma vulgar amostra de tecido no catálogo de amostras de um alfaiate ou de um estofador. É improvável que seja uma obra de arte, que represente pictoricamente ou exprima alguma coisa. É simplesmente uma amostra – uma simples amostra. Mas de que é ela uma amostra? Da Textura, da cor, da tecedura, da grossura, das fibras de que é feita...; tudo o que importa nesta amostra, somos tentados a dizer, é que ela foi cortada de uma peça de tecido e tem as mesmas propriedades do resto do matéria.»
Nelson Goodman
A tese central sobre a exemplificação, que permite e legitima as nossas interpretações, pode ser analiticamente enunciada do seguinte modo: um dado objecto “X” exemplifica, ou é uma amostra de uma etiqueta “Y” quando e somente quando (“X” é denotado por “Y”) & (“X” refere “Y”). Ou, por outros termos, a exemplificação é a relação simbólica que acontece quando um objecto denotado por um determinado símbolo funciona, por seu turno, como um símbolo que refere aquele que o denotou. Assim, aos símbolos a funcionarem denotativamente, Goodman chama «etiquetas» e aos símbolos que funcionam exemplificativamente, chama «amostras». É interessante verificar a este respeito que a relação de exemplificação é não-simétrica, não-assimétrica, não-transitiva, não-intransitiva, não-reflexiva ou não-irreflexiva, consoante os casos aos quais é aplicada. De qualquer modo, o campo de uma relação de exemplificação é sempre um sistema simbólico determinado, nunca estando constrangida por qualquer restrição de natureza ontológica, na medida em que Goodman parte do pressuposto de que nenhum objecto é intrinsecamente um símbolo de qualquer espécie, mas apenas por restrições de ordem funcional, a saber:
a) Para exemplificar, um objecto tem de estar a funcionar como símbolo;
b) E é necessário que satisfaça plenamente a etiqueta que exemplifica, quer dizer, que possua as respectivas propriedades.
Ora, como um objecto pode ser denotado de múltiplas maneiras, daqui decorre que pode possuir múltiplas propriedades e, por extensão, exemplificar qualquer delas. Porém, como só pode exemplificar, não todas as propriedades, mas apenas aquelas de que é símbolo, as quais se encontram dependentes do sistema de que faz parte. Por isso, o alcance simbólico de uma amostra está sempre dependente do contexto que lhe está subjacente.
A exemplificação não é, porém, um processo de simbolização apenas aplicável à arte. O seu domínio de aplicação é extremamente vasto: intervém na maior parte das nossas práticas cognitivas, seja qual for o domínio do conhecimento a que nos estejamos a referir. No seu uso vulgar, não apenas as amostras, mas também os exemplos, os exemplares e os modelos são símbolos exemplificativos. No que concerne especificamente à arte, para onde Goodman transpõe estas noções correntes, podemos simplesmente invocar o seguinte princípio: o que quer que seja exibido por uma obra de arte é, seguramente, exemplificado por ela (o quadro que exibe “libertação” é um símbolo exemplificativo da “libertação”, no sentido em que, “remate para”, “exibe”, “mostra”, põe em foco a “libertação”, característica/propriedade mais relevante apresentada pelo quadro em função do sistema simbólico a que pertence)[7].
Os símbolos exemplificativos, uma das noções centrais da teoria da exemplificação exposta por Goodman, desempenham, por conseguinte, funções importantíssimas no seio da sua filosofia da arte:
a) A de nos facultarem acesso epistemológico às propriedades ou características de que são símbolos e, por meio destas, a outros objectos que as compartilham;
b) E, assim, adquirir conhecimentos através de amostras consiste tão-só em solucionar problemas quer de indução quer de projectabilidade, isto é, decidir sobre que circunstâncias as características exemplificadas por uma amostra ou exemplar, podem ser projectadas com sucesso para outros caos.
c) Por conseguinte, torna-se possível inferir que a actividade cognitiva desenvolvida através de símbolos exemplificativos implica necessariamente a intervenção de diversas operações, entre as quais devemos destacar:
1. Decidir se a amostra é correcta;
2. Identificar as propriedades exemplificadas;
3. Determinar sobre que objectos devem estas ser projectas;
4. Avaliar a sua adequação aos objectos.
Infere-se das teses anteriores, que uma obra de arte só é correcta, como símbolo exemplificativo, sempre que satisfaça os objectivos delimitados pela simbolização exemplificativa, ou, por outras palavras, sempre que as propriedades exibidas possam ser projectadas, com êxito, de molde a alargar a nossa compreensão em novos domínios;
E, por último, que os critérios de que dispomos para avaliar a correcção de um símbolo exemplificativo restringem-se, necessariamente, aos seguintes pontos:
a) Amostra bem tirada;
b) Acordo entre as amostras;
c) Projectabilidade;
d) Adequação aos objectivos;
Verificamos, pois, que todos estes critérios se aplicam a todas as obras de arte, quando funcionam exemplificativamente e que as cinco teses enunciadas são, invariavelmente, comuns a todos os símbolos exemplificativos. É na arte, no entanto, que a exemplificação se encontra no centro de qualquer construção de mundos, embora se apresente como fundamental quer na ciência quer na vida de todos os dias. As obras de arte são exemplos, modelos, exemplares, amostras ou, como Goodman prefere sublinhar, as obras de arte são «amostras do mar»[8].
Isabel Rosete
Março de 2008
A tese central sobre a exemplificação, que permite e legitima as nossas interpretações, pode ser analiticamente enunciada do seguinte modo: um dado objecto “X” exemplifica, ou é uma amostra de uma etiqueta “Y” quando e somente quando (“X” é denotado por “Y”) & (“X” refere “Y”). Ou, por outros termos, a exemplificação é a relação simbólica que acontece quando um objecto denotado por um determinado símbolo funciona, por seu turno, como um símbolo que refere aquele que o denotou. Assim, aos símbolos a funcionarem denotativamente, Goodman chama «etiquetas» e aos símbolos que funcionam exemplificativamente, chama «amostras». É interessante verificar a este respeito que a relação de exemplificação é não-simétrica, não-assimétrica, não-transitiva, não-intransitiva, não-reflexiva ou não-irreflexiva, consoante os casos aos quais é aplicada. De qualquer modo, o campo de uma relação de exemplificação é sempre um sistema simbólico determinado, nunca estando constrangida por qualquer restrição de natureza ontológica, na medida em que Goodman parte do pressuposto de que nenhum objecto é intrinsecamente um símbolo de qualquer espécie, mas apenas por restrições de ordem funcional, a saber:
a) Para exemplificar, um objecto tem de estar a funcionar como símbolo;
b) E é necessário que satisfaça plenamente a etiqueta que exemplifica, quer dizer, que possua as respectivas propriedades.
Ora, como um objecto pode ser denotado de múltiplas maneiras, daqui decorre que pode possuir múltiplas propriedades e, por extensão, exemplificar qualquer delas. Porém, como só pode exemplificar, não todas as propriedades, mas apenas aquelas de que é símbolo, as quais se encontram dependentes do sistema de que faz parte. Por isso, o alcance simbólico de uma amostra está sempre dependente do contexto que lhe está subjacente.
A exemplificação não é, porém, um processo de simbolização apenas aplicável à arte. O seu domínio de aplicação é extremamente vasto: intervém na maior parte das nossas práticas cognitivas, seja qual for o domínio do conhecimento a que nos estejamos a referir. No seu uso vulgar, não apenas as amostras, mas também os exemplos, os exemplares e os modelos são símbolos exemplificativos. No que concerne especificamente à arte, para onde Goodman transpõe estas noções correntes, podemos simplesmente invocar o seguinte princípio: o que quer que seja exibido por uma obra de arte é, seguramente, exemplificado por ela (o quadro que exibe “libertação” é um símbolo exemplificativo da “libertação”, no sentido em que, “remate para”, “exibe”, “mostra”, põe em foco a “libertação”, característica/propriedade mais relevante apresentada pelo quadro em função do sistema simbólico a que pertence)[7].
Os símbolos exemplificativos, uma das noções centrais da teoria da exemplificação exposta por Goodman, desempenham, por conseguinte, funções importantíssimas no seio da sua filosofia da arte:
a) A de nos facultarem acesso epistemológico às propriedades ou características de que são símbolos e, por meio destas, a outros objectos que as compartilham;
b) E, assim, adquirir conhecimentos através de amostras consiste tão-só em solucionar problemas quer de indução quer de projectabilidade, isto é, decidir sobre que circunstâncias as características exemplificadas por uma amostra ou exemplar, podem ser projectadas com sucesso para outros caos.
c) Por conseguinte, torna-se possível inferir que a actividade cognitiva desenvolvida através de símbolos exemplificativos implica necessariamente a intervenção de diversas operações, entre as quais devemos destacar:
1. Decidir se a amostra é correcta;
2. Identificar as propriedades exemplificadas;
3. Determinar sobre que objectos devem estas ser projectas;
4. Avaliar a sua adequação aos objectos.
Infere-se das teses anteriores, que uma obra de arte só é correcta, como símbolo exemplificativo, sempre que satisfaça os objectivos delimitados pela simbolização exemplificativa, ou, por outras palavras, sempre que as propriedades exibidas possam ser projectadas, com êxito, de molde a alargar a nossa compreensão em novos domínios;
E, por último, que os critérios de que dispomos para avaliar a correcção de um símbolo exemplificativo restringem-se, necessariamente, aos seguintes pontos:
a) Amostra bem tirada;
b) Acordo entre as amostras;
c) Projectabilidade;
d) Adequação aos objectivos;
Verificamos, pois, que todos estes critérios se aplicam a todas as obras de arte, quando funcionam exemplificativamente e que as cinco teses enunciadas são, invariavelmente, comuns a todos os símbolos exemplificativos. É na arte, no entanto, que a exemplificação se encontra no centro de qualquer construção de mundos, embora se apresente como fundamental quer na ciência quer na vida de todos os dias. As obras de arte são exemplos, modelos, exemplares, amostras ou, como Goodman prefere sublinhar, as obras de arte são «amostras do mar»[8].
Isabel Rosete
Março de 2008
Notas:
[1] Nelson Goodman, op. cit., p. 114.
[2] É claro para Goodman que existem características específicas do funcionamento simbólico estético que se distinguem do funcionamento simbólico específico da ciência ou de qualquer outra forma que assuma o saber humano ou o funcionamento prática vida comum. Distingue cinco sintomas, já por nós referidos no segundo parágrafo deste ponto: a densidade sintáctica, a densidade semântica, a saturação relativa, a exemplificação, a referência múltipla e complexa. A este propósito escreve Goodman: «A questão de saber exactamente que características distinguem ou são indicadoras da simbolização que constitui o funcionamento de algo como obra de arte pede um estudo cuidadoso à luz da teoria geral dos símbolos. Isso é mais do que aquilo que posso aqui empreender, mas arrisco a hipótese de que há cinco sintomas do estético: (1) a densidade sintáctica, onde as diferenças mais finas constituem, em certos aspectos, uma diferença entre símbolos – por exemplo, um termómetro de mercúrio não graduado em contraste com um instrumento electrónico de leitura digital; (2) a densidade semântica, quando os símbolos são fornecidos por coisas que se distinguem entre si pelas mais finas diferenças em certos aspectos (...); (3) a saturação relativa, onde, comparativamente, muitos dos aspectos de um símbolo são significativos (...); (4) a exemplificação, onde um símbolo, quer denote ou não, servindo como amostra de propriedades que possui literal ou metaforicamente; (5) a referência múltipla e complexa, onde um símbolo realiza várias funções referenciais e interactivas, algumas directas e algumas mediadas por meio de outros símbolos.». Embora o autor não hierarquize os sintomas entre si, a exemplificação parece-nos ser, entre os sintomas – se tivermos em consideração o papel desempenhado por este processo de simbolização na filosofia da arte de Goodman – o único que o autor considera como condição necessária para que um objecto esteja a funcionar como obra de arte, em virtude da impossibilidade, já assinalada, de se encontrar uma obra de arte que, no seu funcionamento habitual, não exemplifique de qualquer forma que seja.
[3] Cf. Nelson Goodman, Modos de Fazer Mundos, p. 116
[4] Ibidem.
[5] Como observa pertinentemente Carmo D’Orey a propósito desta problemática, «a teoria de Goodman é relativista, mas não é subjectivista. É um relativismo objectivo ou contextual ou, mais precisamente, semiótico, uma vez que tem a ver com o funcionamento dos objectos quando construídos como símbolos. Efectivamente, embora qualquer objecto ou acontecimento possa funcionar como símbolo estético e, portanto, como o. a., ou funcionar como tal para umas pessoas e não para outras, ou em algumas circunstâncias e noutras não, o que simboliza e como simboliza depende das suas propriedades e não dos estado psicológico do sujeito da experiência estética.» (Carmo D’Orey, op. cit., p. 651 - 652).
[6] Nelson Goodman, Modos de Fazer Mundos, p. 49.
[7] Cf. Carmo D’Orey, op. cit., p. 86.
[8] Como explica, a propósito, Carmo D’Orey, «com esta expressão, só em parte metafórica, Goodman quer dizer duas coisas: que são símbolos que simbolizam exemplificativamente e que o seu objectivo é facultar-nos um conhecimento de um todo muito amplo e complexo ao qual não temos acesso de outra maneira». Ora, «como todas as versões-de-mundos, as da arte não partem do nada (...) uma obra de arte é obtida a partir de uma visão do mundo do artista a qual, por sua vez, é construída a partir de outras visões e versões anteriores, de outros artistas, de cientistas ou das percepções e da vida de todos os dias. Faz então sentido, para manter o paralelismo com as outras amostras, dizer que as o. a. são obtidas a partir de um todo que é uma visão do mundo de um artista e que são para ser projectadas para essa visão, à qual todos nós temos doravante acesso?» A esta pergunta assaz pertinente, pela qual Carmo D’Orey questiona um dos pontos/teses centrais da filosofia da arte de Goodman, podemos, segundo a autora responder afirmativamente, «desde que reconheçamos que se há um mundo do qual uma o. a. é amostra esse mundo não é algo independente ou pré-existente a todas as visões e versões. É o mundo organizado por categorias e famílias de categorias exemplificadas pela referida o. a. Não pode, por conseguinte, ser conhecido , nem mesmo pelo artista, até que tenha sido materializado pela produção da o. a. Uma vez realizada, se é correcta, é projectável para a versão-de-mundo de que é amostra e só então essa versão existe para o artista e para nós.» E é, então, deste ponto de vista que se pode colocar, correctamente o problema da criação artística que não nos parece constituir uma das preocupações de Goodman. No entanto, e na sequência da linha argumentativa que estamos a seguir, podemos, agora, considerar que «este é o sentido mais exacto em que podemos dizer que o artista é um criador. Na produção de uma amostra que constitui a única via de aproximação a um mundo até aí desconhecido (e criar é isso mesmo: dar a ver, a-presentar um mundo desconhecido). A nós, interpretes, cabe depois a tarefa de explorar esse mundo.» (Cf. Carmo D’Orey, A Exemplificação na Filosofia da Arte de Nelson Goodman, Dissertação apresentada à Universidade Clássica de Lisboa para obtenção do grau de Doutor em Filosofia, pp. 563 - 564)
[1] Nelson Goodman, op. cit., p. 114.
[2] É claro para Goodman que existem características específicas do funcionamento simbólico estético que se distinguem do funcionamento simbólico específico da ciência ou de qualquer outra forma que assuma o saber humano ou o funcionamento prática vida comum. Distingue cinco sintomas, já por nós referidos no segundo parágrafo deste ponto: a densidade sintáctica, a densidade semântica, a saturação relativa, a exemplificação, a referência múltipla e complexa. A este propósito escreve Goodman: «A questão de saber exactamente que características distinguem ou são indicadoras da simbolização que constitui o funcionamento de algo como obra de arte pede um estudo cuidadoso à luz da teoria geral dos símbolos. Isso é mais do que aquilo que posso aqui empreender, mas arrisco a hipótese de que há cinco sintomas do estético: (1) a densidade sintáctica, onde as diferenças mais finas constituem, em certos aspectos, uma diferença entre símbolos – por exemplo, um termómetro de mercúrio não graduado em contraste com um instrumento electrónico de leitura digital; (2) a densidade semântica, quando os símbolos são fornecidos por coisas que se distinguem entre si pelas mais finas diferenças em certos aspectos (...); (3) a saturação relativa, onde, comparativamente, muitos dos aspectos de um símbolo são significativos (...); (4) a exemplificação, onde um símbolo, quer denote ou não, servindo como amostra de propriedades que possui literal ou metaforicamente; (5) a referência múltipla e complexa, onde um símbolo realiza várias funções referenciais e interactivas, algumas directas e algumas mediadas por meio de outros símbolos.». Embora o autor não hierarquize os sintomas entre si, a exemplificação parece-nos ser, entre os sintomas – se tivermos em consideração o papel desempenhado por este processo de simbolização na filosofia da arte de Goodman – o único que o autor considera como condição necessária para que um objecto esteja a funcionar como obra de arte, em virtude da impossibilidade, já assinalada, de se encontrar uma obra de arte que, no seu funcionamento habitual, não exemplifique de qualquer forma que seja.
[3] Cf. Nelson Goodman, Modos de Fazer Mundos, p. 116
[4] Ibidem.
[5] Como observa pertinentemente Carmo D’Orey a propósito desta problemática, «a teoria de Goodman é relativista, mas não é subjectivista. É um relativismo objectivo ou contextual ou, mais precisamente, semiótico, uma vez que tem a ver com o funcionamento dos objectos quando construídos como símbolos. Efectivamente, embora qualquer objecto ou acontecimento possa funcionar como símbolo estético e, portanto, como o. a., ou funcionar como tal para umas pessoas e não para outras, ou em algumas circunstâncias e noutras não, o que simboliza e como simboliza depende das suas propriedades e não dos estado psicológico do sujeito da experiência estética.» (Carmo D’Orey, op. cit., p. 651 - 652).
[6] Nelson Goodman, Modos de Fazer Mundos, p. 49.
[7] Cf. Carmo D’Orey, op. cit., p. 86.
[8] Como explica, a propósito, Carmo D’Orey, «com esta expressão, só em parte metafórica, Goodman quer dizer duas coisas: que são símbolos que simbolizam exemplificativamente e que o seu objectivo é facultar-nos um conhecimento de um todo muito amplo e complexo ao qual não temos acesso de outra maneira». Ora, «como todas as versões-de-mundos, as da arte não partem do nada (...) uma obra de arte é obtida a partir de uma visão do mundo do artista a qual, por sua vez, é construída a partir de outras visões e versões anteriores, de outros artistas, de cientistas ou das percepções e da vida de todos os dias. Faz então sentido, para manter o paralelismo com as outras amostras, dizer que as o. a. são obtidas a partir de um todo que é uma visão do mundo de um artista e que são para ser projectadas para essa visão, à qual todos nós temos doravante acesso?» A esta pergunta assaz pertinente, pela qual Carmo D’Orey questiona um dos pontos/teses centrais da filosofia da arte de Goodman, podemos, segundo a autora responder afirmativamente, «desde que reconheçamos que se há um mundo do qual uma o. a. é amostra esse mundo não é algo independente ou pré-existente a todas as visões e versões. É o mundo organizado por categorias e famílias de categorias exemplificadas pela referida o. a. Não pode, por conseguinte, ser conhecido , nem mesmo pelo artista, até que tenha sido materializado pela produção da o. a. Uma vez realizada, se é correcta, é projectável para a versão-de-mundo de que é amostra e só então essa versão existe para o artista e para nós.» E é, então, deste ponto de vista que se pode colocar, correctamente o problema da criação artística que não nos parece constituir uma das preocupações de Goodman. No entanto, e na sequência da linha argumentativa que estamos a seguir, podemos, agora, considerar que «este é o sentido mais exacto em que podemos dizer que o artista é um criador. Na produção de uma amostra que constitui a única via de aproximação a um mundo até aí desconhecido (e criar é isso mesmo: dar a ver, a-presentar um mundo desconhecido). A nós, interpretes, cabe depois a tarefa de explorar esse mundo.» (Cf. Carmo D’Orey, A Exemplificação na Filosofia da Arte de Nelson Goodman, Dissertação apresentada à Universidade Clássica de Lisboa para obtenção do grau de Doutor em Filosofia, pp. 563 - 564)











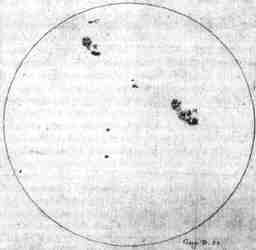















.jpg)
Sem comentários:
Enviar um comentário