
Arte e Simbolização em Nelson Goodman, por Isabel Rosete
Não obstante os progressos da subjectividade moderna, institucionalizados pelo “Mundo-da-Arte”, defrontamo-nos, hoje, com alguns sistemas estéticos, com algumas filosofias da arte, cuja abrangência ainda não atingiu o ponto fulcral que lhes permitisse colocar a questão estética prioritária, proposta por Nelson Goodman, em Modos de Fazer Mundos: “Quando é arte?”.
Esta deve substituir, considera o autor, essa outra, puramente ontológica e essencialista, que pergunta, debalde, “O que é a arte?”, em nome da qual moldámos, durante séculos, o nosso modo ocidental de ver a arte, o artista e as obras de arte.
Embora estas duas questões sejam, de facto, dois modos distintos de formular o problema central da Estética, a segunda tem-nos impedido, afirma Goodman, de aceder à compreensão adequada dos fenómenos artísticos mais recentes.
São, naturalmente, revolucionadores do pensar, dos modos de ser e da arte se dar, pela sua novidade, diferença, especificidade e irredutibilidade. Chocam-nos, por vezes. Colocam-nos para além da vulgaridade. Transcendem o nosso relacionamento familiar com as coisas. Interpelam-nos, mesmo que desviemos o olhar, cerremos os ouvidos ou tornemos o tacto insensível.
Defrontamo-nos, quotidianamente, com fenómenos artísticos controversos, bizarros, polémicos. Agitam, põem em causa os hábitos e as convenções “pré-estabelecidas”, filtradas pela lente da Cultura, imperativamente condicionadora, determinadora, das características ou propriedades pelas quais formamos a nossa imagem do mundo, pela Arte.
Mudanças radicais foram impostas pela era industrial. Grande parte delas, de natureza artisticamente provocatória.
Obras de vários autores contemporâneos, desde Duchamp, têm sido um «quebra-cabeças» para artistas e historiadores. Continuam, ainda hoje, a ser um enigma para o grande público.
Pensemos, por exemplo, em “Why Not Sneeze Rrose Sélavy ?” (“Porquê não espirrar Rose Sélavy?”)[1], “ready-made” criado por Marcel Duchamp, em 1921, por solicitação de Katherine Dreier, que lhe havia encomendado uma obra de arte para oferecer à sua irmã,
Dorothea Dreier, de imediato devolvido por não cumprir, do ponto de vista instituído, nem uma função estética, nem uma função artística.
Que objecto é esse a que o autor atribuiu um título tão invulgar para uma “pretensa” obra de arte: “Porquê não espirrar Rose Sélavy?”. Tão-só um amontoado de cubos de mármore, que parecem pedaços de açúcar; um termómetro e um osso de choco dentro de uma velha gaiola rectangular para pássaros.
A obra não foi um sucesso. Não foram muitas as pessoas que a contemplaram. Mas, aquelas que a viram consideram que era de difícil compreensão, como tantos outros objectos do género, embora ao mesmo tempo demasiado “estranha” para não reter em si mesma algum significado.
Tratava-se de uma espécie de “objecto de transição” que insuflou o espírito dadaísta nos pulmões do surrealismo que começava, na altura, a evoluir em múltiplas e diferenciadas formas.
Apesar de de ter sido integrada, em 1936, numa exposição surrealista, não deixou de ser colocada numa vitrina, ao lado e com o mesmo estatuto de fétiches da Papuásia, de modelos de demonstração matemática do “Instituto Científico de Poincaré”.
A semelhança com estes modelos pretenderia incitar o espectador a retirar o objecto do contexto artístico? Ou conferir-lhe um outro estatuto que não o de obra de arte ou de objecto estético? Saberemos onde colocar, com legitimidade, esta espécie de objectos que os artistas contemporâneos nos apresentam como sendo obras de arte, mas que para o espectador, e até mesmo para alguns críticos e historiadores de arte, se apresentam com um estatuto assaz ambíguo?
O dilema é apenas este: até ao final do século XIX sabíamos identificar, com alguma facilidade, um dado objecto como obra de arte, na medica em que as distinções entre as obras de arte, propriamente ditas, e os outros objectos que assim não eram considerados, estavam “explicitamente” estabelecidas pelas qualidades das obras, no que respeita aos meios empregues, à estrutura formal e ao assunto. De um modo geral, sabíamos que a pintura e a escultura eram sempre representações de objectos ou de acontecimentos efectivamente presentes na vida dos povos.
O que designamos, hoje, por “arte abstracta”, “arte conceptual”, “ready-made” ou “happennings”, não tem mais lugar na concepção “tradicional” de artisticidade pautada por regras bem definidas, absolutamente inflexíveis, excluitórias do diferente, do aparentemente “estranho” ou “excêntrico”, do completamente novo, do “desenquadrado” das bitolas do modo ocidental costumeiro de perspectivar a Arte. Aqui, constata Goodman, não encontramos mais respostas para as novas formas de criação do espírito humano que exigem, por sua vez, outras formas de avaliação, à luz de outras categorias estéticas que não o belo, o sublime ou o harmonioso.
Esta mudança de postura, esta alteração dos hábitos do ver, do sentir ou do escutar as obras arte, tem causado grandes embaraços à generalidade das doutrinas estéticas contemporâneas que enveredam, desesperadamente, pelo caminho de uma definição mais ou menos consensual de arte e de obra de arte.
Ainda não estamos esteticamente despertos, repara Goodman, para a elasticidade frequente dos objectos comuns que, ora podem ou não “funcionar”, como obras de arte. A dimensão simbólica que encerram é tão ou mais efémera que vida dos seus próprios criadores, tal como o seu estar artístico.
Não soubemos acompanhar, teoricamente, a ideia central da Estética contemporânea, jamais preocupada com definições essencialistas ou ontológicas, jamais interessada na procura de propriedades comuns que diferenciem o que é Arte, daquilo que o não é.
Interessa averiguar, sobretudo, quando determinado objecto, num dado momento, ocupa o estatuto de obra de arte, e simultaneamente quando, num outro momento, o perde, em função das circunstâncias que alteram o contexto que o fazia pertencer a esse conjunto de coisas que designamos, convencionalmente, como obras de arte.
Mesmo os artistas que vestiram a roupagem desta nova vaga, os impulsionadores mais provocatórios dos novos movimentos estéticos, se deparam com a dificuldade da questão da definibilidade da Arte. Apresentam, de facto, algumas dificuldades em explicar as suas próprias criações, tendo em consideração o modo objectivo de compreensão que o grande público exige.
Goodman acompanhou de perto toda esta panóplia em constante metamorfose. Elaborou a sua visão artística do mundo à luz de uma elucidação bem clara desta problemática – da qual o texto “Quando é Arte?” é o testemunho mais evidente – lógica e filosoficamente fundada numa argumentação de fina sensibilidade estética, da qual resultam teses explicitamente justificativas dos modos emergentes de criação artística, bem como um conjunto de pistas que nos permitem compreender o estatuto mutável dos objectos estéticos.
Marcel Duchamp manifesta esse tipo embaraço, quando lhe pedem para esclarecer ou, pelo menos, para alvitrar uma interpretação plausível desse objecto “estranho” que apelidou, “bizarramente”, de “Porquê não espirrar Rose Sélavy?”. As suas palavras, são simples. O seu discurso, puramente descritivo. Pouco acrescenta ao que podemos observar directamente:
«Esta pequena gaiola está cheia de cubos de açúcar... mas os cubos de açúcar são feitos de mármore, quando se lhe pega, fica-se surpreendido pelo peso inesperado. O termómetro destina-se a registar a temperatura do mármore.»[2]
Esta obra, assim descrita pelo seu autor, é apenas um dos casos paradigmáticos, entre outros que poderíamos apresentar, com idênticas dificuldades hermenêuticas. Permite-nos, no entanto, compreender e justificar, de uma forma ainda mais evidente, a problemática central que envolve Goodman em “Quando é Arte?”.
O que nos resta acrescentar às declarações de Duchamp, de molde a que possamos fundamentar, exemplificativamente, o paradigma filosófico-estético goodmaniano em análise?
“Porquê não espirrar Rose Sélavy?”, com as suas sugestões de peso – o mármore – promessa de doçura – os falsos cubos de açúcar – falta de calor – termómetro – eventualmente poesia – o canto do pássaro, exemplificado pelo osso de choco – voo aprisionado – o osso de choco dentro da gaiola – e arte – o cubismo e a utilização do mármore – parece conter uma mensagem para as promotoras da encomenda: as irmãs Dreier. O título irreverente é, seguramente, uma proposta.
Este e outros exemplos que podemos recolher da história da arte, sobretudo a partir do início do século XX, mostram a complexidade desta tipologia artística, ao mesmo tempo que tornam possível a compreensão do triângulo estético que os delimita, e dos quais são absolutamente inseparáveis.
A teoria funcional de Goodman ou, se preferirmos, a teoria do funcionamento simbólico das obras de arte, parte precisamente de uma reflexão sobre o estatuto dos “ready-made”, dos “happennings”, dos “objects trouvés” e da “arte conceptual”, modos peculiares da arte contemporânea se apresentar, amiúde geradores de polémicas diversas e de tensões assaz conflituosas, que colocam em questão o estatuto da obra de arte e a noção de artisticidade.
É claro que este problema só se coloca, com acuidade, a partir do século XX, em função desses casos “bizarros” que os artistas põem à nossa disposição, propondo que os aceitemos como obras de arte, mas que, no entanto, em nada se assemelham ao conjunto daquelas que institucionalmente foram considerados enquanto tal. Não apresentarem características comuns que nos permitem afirmar, segundo o uso classificativo ou descritivo, que tal ou tal objecto pertence ao consagrado mundo das obras de arte.
Torna-se necessário ultrapassar as questões de ambiguidade colocadas pelos “objectos ansiosos”, quer dizer, uma espécie de criações da arte contemporânea que conduz à formulação de juízos incertos, assaz duvidosos, no que concerne ao facto de tal objecto ser ou de não ser classificado como uma obra de arte.
Por extensão, importa reflectir sobre a natureza da Arte, tendo em consideração a especificidade do choque provocado, de molde a evitar que se caia numa das duas posições extremistas:
a) “Tudo é Arte”, defendida pelos que se situam numa posição que prima pela ausência de critérios artísticos determinados;
b) «O que é a arte?», questão colocada por todas as correntes estéticas em demanda do conjunto de características ou propriedades dadas como absolutas e definitivas, como determinantes do conjunto de objectos que, efectivamente, podem ser designados como obras de arte.
Nada pode ser determinado ad eternum, dado como absoluto ou definitivo, seja qual for o domínio cognitivo em que nos situemos. Nada pode ser concebido como imutável, mas sempre sujeito às mais inesperadas metamorfoses. A História da Arte é percorrida por alterações sucessivas, e até mesmo sistemáticas, de paradigmas estéticos. Ao longo das épocas, muitos foram os choques a que assistimos (o mesmo diremos relativamente à história do conhecimento humano em geral), pelo proliferamento das formas sempre novas da arte se dar.
Os “objectos ansiosos” – que apareceram pela primeira vez com Duchamp, em 1917, aquando da apresentação provocatória da “Fontaine” (“Fonte”)[3], à Society of Independent Artists – contam-se entre as aventuras da arte, entre as experiências limite do mundo da arte, até meados do século XX. E se não foram importantes para a Arte foram-no, seguramente, para a Estética.
Goodman capta, apresenta e legitima o essencial desta problemática. Renova, em 1968, a questão prioritária da caracterização da arte, ao infirmar, por um lado, a necessidade de uma definição de arte e, ao afirmar, por outro, que a natureza da arte deve ser procurada na simbolização.
Precisamente na obra de 1968, Languages of Art (Linguagens da Arte), a função simbólica da arte é dada por adquirida. O objectivo do autor consiste em analisar, detalhadamente e de um modo absolutamente rigoroso, os diferentes sistemas de símbolos e processos de simbolização, pelos quais essa função se manifesta.
Todavia, é apenas em 1977, com o texto When is Art? (Quando é Arte?) que a caracterização da arte pela simbolização se torna um problema central para o filósofo, porque:
a) Goodman não acredita nem aceita que exista uma forma única de experiência estética, que permita substituir o essencialismo artístico pelo essencialismo estético;
b) Procede à seguinte deslocação: são os processos simbólicos que se encontram implicados na experiência estética que caracterizam a arte.
Como qualquer um dos teóricos da indefinibilidade da arte, Goodman compartilha a crítica das teorias essencialistas e, em particular, a ideia de que a questão “O que é a Arte?” não deve ser a questão inicial, a questão prioritária que a estética ou a filosofia da arte devam colocar. Porém, não aceita que a dificuldade em caracterizar a arte decorra do facto de esta ser um “conceito aberto”, não acredita, ao mesmo tempo, que uma teoria estética sistemática constitua uma impossibilidade lógica.
A teoria de Goodman tem em comum com as teorias institucionais a tese central, por estas reiterada: a caracterização da arte não deve ser procurada nas propriedades intrínsecas dos objectos que são obras de arte, mas nas suas propriedades relacionais. No entanto, e contrariamente a estas teorias, jamais admite que tal caracterização tenha de ser dependente da apreciação crítica. Este posicionamento indica-nos que a questão estética inicial deve ser: “Quando é Arte?”.
A resposta a esta questão, absolutamente prioritária, quando se trata da identificação do que é obra de arte, é clara, simples e rigorosa, pondo fim à questão da ambiguidade despoletada por todas essas situações de choque que perpassam o mundo da arte, mas que hoje – e, particularmente, depois de Goodman –, já não nos chocam de sobremaneira, porque: «é devido ao facto de funcionar como símbolo de uma certa maneira que um objecto se torna, “quando” assim “funciona”, uma obra de arte»[4]. Os termos a destacar são: “funcionar” e «símbolo». A expressão central desta resposta é: “funcionar como um símbolo de uma certa maneira”.
Goodman funda a natureza da arte na simbolização. Para que tal fundação seja possível é necessário demonstrar que:
a) Todas as obras de arte desempenham uma qualquer função simbólica;
b) Existem características específicas a esse funcionamento em relação a outros modos de funcionamento simbólico, tais como o da ciência, da filosofia ou o das práticas da vida quotidiana.
A condição a) parece-nos ser logicamente prioritária. Consequentemente, a primeira tarefa da filosofia da arte consiste em demonstrar que todas as obras de arte desempenham, necessariamente, uma função simbólica ou, por outros termos, que o funcionamento simbólico é a condição necessária para que haja arte, ou para que um dado objecto seja considerado como obra de arte.
Embora não focalizemos, neste momento da nossa análise, mais pormenores sobre a estrutura argumentativa que envolve a perspectiva estética goodmaniana, importa, no entanto, referenciar que a caracterização da arte em termos de simbolização, tal como Goodman a apresenta, traz vantagens indiscutíveis no âmbito das incursões estético-hermenêuticas requeridas por todos os casos controversos do mundo da arte contemporânea, ao mesmo tempo que nos permite aceder a uma explicação não só mais plausível, mas, sobretudo, mais legitima, afastando-nos da ambiguidade conceptual, sempre de se trata de classificar tal ou tal objecto como obra de arte, pelos seguintes argumentos:
a) Simbolizar é algo que pode acontecer a qualquer objecto ou acontecimento, uma vez que ser símbolo não depende das propriedades intrínsecas dos objectos. Qualquer objecto ou acontecimento pode ser uma obra de arte, desde que funcione simbolicamente;
b) Como a simbolização não é consignada a um estatuto fixo, pode ser adquirida ou perdida por qualquer objecto em função do contexto ou circunstâncias que lhe estão adstritas. Não temos de colocar a questão da simbolização ao mesmo nível daquela que inquire pela essência das obras de arte. Não se estranha, portanto, que os objectos possam ser e não obras de arte em contextos ou situações diferenciadas;
c) Dois objectos perfeitamente idênticos podem funcionar, um e não outro, como símbolos estéticos[5].
Isabel Rosete
Novembro, 2007
[1] Fig. 1 – M. Duchamp, “Why Not Sneeze Rose Sélavy ?”,1921 /1964
[2]Marcel Duchamp, in Janis Mink, Marcel Duchamp, 1887 – 1968. A Arte como Contra-Arte, p.7.
Precisa-se apenas de virar o caleidoscópio da interpretação para descobrir que os fragmentos da obra de Duchamp formam um novo padrão. Duchamp, ele próprio, aceitava calmamente todas as interpretações da sua arte, mesmo as mais fantasiosas. Interessavam-lhe como criações das pessoas que as exprimiam, mesmo que não correspondessem necessariamente à realidade.
[3] Fig. 2, Marcel Duchamp, Fontaine, 1917/1964.
[4] Nelson Goodman, citado por Carmo D’Orey, in “O Que É Arte?” Ou “Quando Há Arte?”, p. 83.
[5] Cf. Carmo D’Orey, op. Cit., pp. 84 - 85.
Não obstante os progressos da subjectividade moderna, institucionalizados pelo “Mundo-da-Arte”, defrontamo-nos, hoje, com alguns sistemas estéticos, com algumas filosofias da arte, cuja abrangência ainda não atingiu o ponto fulcral que lhes permitisse colocar a questão estética prioritária, proposta por Nelson Goodman, em Modos de Fazer Mundos: “Quando é arte?”.
Esta deve substituir, considera o autor, essa outra, puramente ontológica e essencialista, que pergunta, debalde, “O que é a arte?”, em nome da qual moldámos, durante séculos, o nosso modo ocidental de ver a arte, o artista e as obras de arte.
Embora estas duas questões sejam, de facto, dois modos distintos de formular o problema central da Estética, a segunda tem-nos impedido, afirma Goodman, de aceder à compreensão adequada dos fenómenos artísticos mais recentes.
São, naturalmente, revolucionadores do pensar, dos modos de ser e da arte se dar, pela sua novidade, diferença, especificidade e irredutibilidade. Chocam-nos, por vezes. Colocam-nos para além da vulgaridade. Transcendem o nosso relacionamento familiar com as coisas. Interpelam-nos, mesmo que desviemos o olhar, cerremos os ouvidos ou tornemos o tacto insensível.
Defrontamo-nos, quotidianamente, com fenómenos artísticos controversos, bizarros, polémicos. Agitam, põem em causa os hábitos e as convenções “pré-estabelecidas”, filtradas pela lente da Cultura, imperativamente condicionadora, determinadora, das características ou propriedades pelas quais formamos a nossa imagem do mundo, pela Arte.
Mudanças radicais foram impostas pela era industrial. Grande parte delas, de natureza artisticamente provocatória.
Obras de vários autores contemporâneos, desde Duchamp, têm sido um «quebra-cabeças» para artistas e historiadores. Continuam, ainda hoje, a ser um enigma para o grande público.
Pensemos, por exemplo, em “Why Not Sneeze Rrose Sélavy ?” (“Porquê não espirrar Rose Sélavy?”)[1], “ready-made” criado por Marcel Duchamp, em 1921, por solicitação de Katherine Dreier, que lhe havia encomendado uma obra de arte para oferecer à sua irmã,
Dorothea Dreier, de imediato devolvido por não cumprir, do ponto de vista instituído, nem uma função estética, nem uma função artística.
Que objecto é esse a que o autor atribuiu um título tão invulgar para uma “pretensa” obra de arte: “Porquê não espirrar Rose Sélavy?”. Tão-só um amontoado de cubos de mármore, que parecem pedaços de açúcar; um termómetro e um osso de choco dentro de uma velha gaiola rectangular para pássaros.
A obra não foi um sucesso. Não foram muitas as pessoas que a contemplaram. Mas, aquelas que a viram consideram que era de difícil compreensão, como tantos outros objectos do género, embora ao mesmo tempo demasiado “estranha” para não reter em si mesma algum significado.
Tratava-se de uma espécie de “objecto de transição” que insuflou o espírito dadaísta nos pulmões do surrealismo que começava, na altura, a evoluir em múltiplas e diferenciadas formas.
Apesar de de ter sido integrada, em 1936, numa exposição surrealista, não deixou de ser colocada numa vitrina, ao lado e com o mesmo estatuto de fétiches da Papuásia, de modelos de demonstração matemática do “Instituto Científico de Poincaré”.
A semelhança com estes modelos pretenderia incitar o espectador a retirar o objecto do contexto artístico? Ou conferir-lhe um outro estatuto que não o de obra de arte ou de objecto estético? Saberemos onde colocar, com legitimidade, esta espécie de objectos que os artistas contemporâneos nos apresentam como sendo obras de arte, mas que para o espectador, e até mesmo para alguns críticos e historiadores de arte, se apresentam com um estatuto assaz ambíguo?
O dilema é apenas este: até ao final do século XIX sabíamos identificar, com alguma facilidade, um dado objecto como obra de arte, na medica em que as distinções entre as obras de arte, propriamente ditas, e os outros objectos que assim não eram considerados, estavam “explicitamente” estabelecidas pelas qualidades das obras, no que respeita aos meios empregues, à estrutura formal e ao assunto. De um modo geral, sabíamos que a pintura e a escultura eram sempre representações de objectos ou de acontecimentos efectivamente presentes na vida dos povos.
O que designamos, hoje, por “arte abstracta”, “arte conceptual”, “ready-made” ou “happennings”, não tem mais lugar na concepção “tradicional” de artisticidade pautada por regras bem definidas, absolutamente inflexíveis, excluitórias do diferente, do aparentemente “estranho” ou “excêntrico”, do completamente novo, do “desenquadrado” das bitolas do modo ocidental costumeiro de perspectivar a Arte. Aqui, constata Goodman, não encontramos mais respostas para as novas formas de criação do espírito humano que exigem, por sua vez, outras formas de avaliação, à luz de outras categorias estéticas que não o belo, o sublime ou o harmonioso.
Esta mudança de postura, esta alteração dos hábitos do ver, do sentir ou do escutar as obras arte, tem causado grandes embaraços à generalidade das doutrinas estéticas contemporâneas que enveredam, desesperadamente, pelo caminho de uma definição mais ou menos consensual de arte e de obra de arte.
Ainda não estamos esteticamente despertos, repara Goodman, para a elasticidade frequente dos objectos comuns que, ora podem ou não “funcionar”, como obras de arte. A dimensão simbólica que encerram é tão ou mais efémera que vida dos seus próprios criadores, tal como o seu estar artístico.
Não soubemos acompanhar, teoricamente, a ideia central da Estética contemporânea, jamais preocupada com definições essencialistas ou ontológicas, jamais interessada na procura de propriedades comuns que diferenciem o que é Arte, daquilo que o não é.
Interessa averiguar, sobretudo, quando determinado objecto, num dado momento, ocupa o estatuto de obra de arte, e simultaneamente quando, num outro momento, o perde, em função das circunstâncias que alteram o contexto que o fazia pertencer a esse conjunto de coisas que designamos, convencionalmente, como obras de arte.
Mesmo os artistas que vestiram a roupagem desta nova vaga, os impulsionadores mais provocatórios dos novos movimentos estéticos, se deparam com a dificuldade da questão da definibilidade da Arte. Apresentam, de facto, algumas dificuldades em explicar as suas próprias criações, tendo em consideração o modo objectivo de compreensão que o grande público exige.
Goodman acompanhou de perto toda esta panóplia em constante metamorfose. Elaborou a sua visão artística do mundo à luz de uma elucidação bem clara desta problemática – da qual o texto “Quando é Arte?” é o testemunho mais evidente – lógica e filosoficamente fundada numa argumentação de fina sensibilidade estética, da qual resultam teses explicitamente justificativas dos modos emergentes de criação artística, bem como um conjunto de pistas que nos permitem compreender o estatuto mutável dos objectos estéticos.
Marcel Duchamp manifesta esse tipo embaraço, quando lhe pedem para esclarecer ou, pelo menos, para alvitrar uma interpretação plausível desse objecto “estranho” que apelidou, “bizarramente”, de “Porquê não espirrar Rose Sélavy?”. As suas palavras, são simples. O seu discurso, puramente descritivo. Pouco acrescenta ao que podemos observar directamente:
«Esta pequena gaiola está cheia de cubos de açúcar... mas os cubos de açúcar são feitos de mármore, quando se lhe pega, fica-se surpreendido pelo peso inesperado. O termómetro destina-se a registar a temperatura do mármore.»[2]
Esta obra, assim descrita pelo seu autor, é apenas um dos casos paradigmáticos, entre outros que poderíamos apresentar, com idênticas dificuldades hermenêuticas. Permite-nos, no entanto, compreender e justificar, de uma forma ainda mais evidente, a problemática central que envolve Goodman em “Quando é Arte?”.
O que nos resta acrescentar às declarações de Duchamp, de molde a que possamos fundamentar, exemplificativamente, o paradigma filosófico-estético goodmaniano em análise?
“Porquê não espirrar Rose Sélavy?”, com as suas sugestões de peso – o mármore – promessa de doçura – os falsos cubos de açúcar – falta de calor – termómetro – eventualmente poesia – o canto do pássaro, exemplificado pelo osso de choco – voo aprisionado – o osso de choco dentro da gaiola – e arte – o cubismo e a utilização do mármore – parece conter uma mensagem para as promotoras da encomenda: as irmãs Dreier. O título irreverente é, seguramente, uma proposta.
Este e outros exemplos que podemos recolher da história da arte, sobretudo a partir do início do século XX, mostram a complexidade desta tipologia artística, ao mesmo tempo que tornam possível a compreensão do triângulo estético que os delimita, e dos quais são absolutamente inseparáveis.
A teoria funcional de Goodman ou, se preferirmos, a teoria do funcionamento simbólico das obras de arte, parte precisamente de uma reflexão sobre o estatuto dos “ready-made”, dos “happennings”, dos “objects trouvés” e da “arte conceptual”, modos peculiares da arte contemporânea se apresentar, amiúde geradores de polémicas diversas e de tensões assaz conflituosas, que colocam em questão o estatuto da obra de arte e a noção de artisticidade.
É claro que este problema só se coloca, com acuidade, a partir do século XX, em função desses casos “bizarros” que os artistas põem à nossa disposição, propondo que os aceitemos como obras de arte, mas que, no entanto, em nada se assemelham ao conjunto daquelas que institucionalmente foram considerados enquanto tal. Não apresentarem características comuns que nos permitem afirmar, segundo o uso classificativo ou descritivo, que tal ou tal objecto pertence ao consagrado mundo das obras de arte.
Torna-se necessário ultrapassar as questões de ambiguidade colocadas pelos “objectos ansiosos”, quer dizer, uma espécie de criações da arte contemporânea que conduz à formulação de juízos incertos, assaz duvidosos, no que concerne ao facto de tal objecto ser ou de não ser classificado como uma obra de arte.
Por extensão, importa reflectir sobre a natureza da Arte, tendo em consideração a especificidade do choque provocado, de molde a evitar que se caia numa das duas posições extremistas:
a) “Tudo é Arte”, defendida pelos que se situam numa posição que prima pela ausência de critérios artísticos determinados;
b) «O que é a arte?», questão colocada por todas as correntes estéticas em demanda do conjunto de características ou propriedades dadas como absolutas e definitivas, como determinantes do conjunto de objectos que, efectivamente, podem ser designados como obras de arte.
Nada pode ser determinado ad eternum, dado como absoluto ou definitivo, seja qual for o domínio cognitivo em que nos situemos. Nada pode ser concebido como imutável, mas sempre sujeito às mais inesperadas metamorfoses. A História da Arte é percorrida por alterações sucessivas, e até mesmo sistemáticas, de paradigmas estéticos. Ao longo das épocas, muitos foram os choques a que assistimos (o mesmo diremos relativamente à história do conhecimento humano em geral), pelo proliferamento das formas sempre novas da arte se dar.
Os “objectos ansiosos” – que apareceram pela primeira vez com Duchamp, em 1917, aquando da apresentação provocatória da “Fontaine” (“Fonte”)[3], à Society of Independent Artists – contam-se entre as aventuras da arte, entre as experiências limite do mundo da arte, até meados do século XX. E se não foram importantes para a Arte foram-no, seguramente, para a Estética.
Goodman capta, apresenta e legitima o essencial desta problemática. Renova, em 1968, a questão prioritária da caracterização da arte, ao infirmar, por um lado, a necessidade de uma definição de arte e, ao afirmar, por outro, que a natureza da arte deve ser procurada na simbolização.
Precisamente na obra de 1968, Languages of Art (Linguagens da Arte), a função simbólica da arte é dada por adquirida. O objectivo do autor consiste em analisar, detalhadamente e de um modo absolutamente rigoroso, os diferentes sistemas de símbolos e processos de simbolização, pelos quais essa função se manifesta.
Todavia, é apenas em 1977, com o texto When is Art? (Quando é Arte?) que a caracterização da arte pela simbolização se torna um problema central para o filósofo, porque:
a) Goodman não acredita nem aceita que exista uma forma única de experiência estética, que permita substituir o essencialismo artístico pelo essencialismo estético;
b) Procede à seguinte deslocação: são os processos simbólicos que se encontram implicados na experiência estética que caracterizam a arte.
Como qualquer um dos teóricos da indefinibilidade da arte, Goodman compartilha a crítica das teorias essencialistas e, em particular, a ideia de que a questão “O que é a Arte?” não deve ser a questão inicial, a questão prioritária que a estética ou a filosofia da arte devam colocar. Porém, não aceita que a dificuldade em caracterizar a arte decorra do facto de esta ser um “conceito aberto”, não acredita, ao mesmo tempo, que uma teoria estética sistemática constitua uma impossibilidade lógica.
A teoria de Goodman tem em comum com as teorias institucionais a tese central, por estas reiterada: a caracterização da arte não deve ser procurada nas propriedades intrínsecas dos objectos que são obras de arte, mas nas suas propriedades relacionais. No entanto, e contrariamente a estas teorias, jamais admite que tal caracterização tenha de ser dependente da apreciação crítica. Este posicionamento indica-nos que a questão estética inicial deve ser: “Quando é Arte?”.
A resposta a esta questão, absolutamente prioritária, quando se trata da identificação do que é obra de arte, é clara, simples e rigorosa, pondo fim à questão da ambiguidade despoletada por todas essas situações de choque que perpassam o mundo da arte, mas que hoje – e, particularmente, depois de Goodman –, já não nos chocam de sobremaneira, porque: «é devido ao facto de funcionar como símbolo de uma certa maneira que um objecto se torna, “quando” assim “funciona”, uma obra de arte»[4]. Os termos a destacar são: “funcionar” e «símbolo». A expressão central desta resposta é: “funcionar como um símbolo de uma certa maneira”.
Goodman funda a natureza da arte na simbolização. Para que tal fundação seja possível é necessário demonstrar que:
a) Todas as obras de arte desempenham uma qualquer função simbólica;
b) Existem características específicas a esse funcionamento em relação a outros modos de funcionamento simbólico, tais como o da ciência, da filosofia ou o das práticas da vida quotidiana.
A condição a) parece-nos ser logicamente prioritária. Consequentemente, a primeira tarefa da filosofia da arte consiste em demonstrar que todas as obras de arte desempenham, necessariamente, uma função simbólica ou, por outros termos, que o funcionamento simbólico é a condição necessária para que haja arte, ou para que um dado objecto seja considerado como obra de arte.
Embora não focalizemos, neste momento da nossa análise, mais pormenores sobre a estrutura argumentativa que envolve a perspectiva estética goodmaniana, importa, no entanto, referenciar que a caracterização da arte em termos de simbolização, tal como Goodman a apresenta, traz vantagens indiscutíveis no âmbito das incursões estético-hermenêuticas requeridas por todos os casos controversos do mundo da arte contemporânea, ao mesmo tempo que nos permite aceder a uma explicação não só mais plausível, mas, sobretudo, mais legitima, afastando-nos da ambiguidade conceptual, sempre de se trata de classificar tal ou tal objecto como obra de arte, pelos seguintes argumentos:
a) Simbolizar é algo que pode acontecer a qualquer objecto ou acontecimento, uma vez que ser símbolo não depende das propriedades intrínsecas dos objectos. Qualquer objecto ou acontecimento pode ser uma obra de arte, desde que funcione simbolicamente;
b) Como a simbolização não é consignada a um estatuto fixo, pode ser adquirida ou perdida por qualquer objecto em função do contexto ou circunstâncias que lhe estão adstritas. Não temos de colocar a questão da simbolização ao mesmo nível daquela que inquire pela essência das obras de arte. Não se estranha, portanto, que os objectos possam ser e não obras de arte em contextos ou situações diferenciadas;
c) Dois objectos perfeitamente idênticos podem funcionar, um e não outro, como símbolos estéticos[5].
Isabel Rosete
Novembro, 2007
[1] Fig. 1 – M. Duchamp, “Why Not Sneeze Rose Sélavy ?”,1921 /1964
[2]Marcel Duchamp, in Janis Mink, Marcel Duchamp, 1887 – 1968. A Arte como Contra-Arte, p.7.
Precisa-se apenas de virar o caleidoscópio da interpretação para descobrir que os fragmentos da obra de Duchamp formam um novo padrão. Duchamp, ele próprio, aceitava calmamente todas as interpretações da sua arte, mesmo as mais fantasiosas. Interessavam-lhe como criações das pessoas que as exprimiam, mesmo que não correspondessem necessariamente à realidade.
[3] Fig. 2, Marcel Duchamp, Fontaine, 1917/1964.
[4] Nelson Goodman, citado por Carmo D’Orey, in “O Que É Arte?” Ou “Quando Há Arte?”, p. 83.
[5] Cf. Carmo D’Orey, op. Cit., pp. 84 - 85.











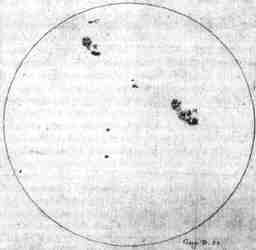















.jpg)
Sem comentários:
Enviar um comentário