A Ilusão do Livre-arbítrio
A ilusão do livre-arbítrio foi um obstáculo no caminho do pensamento humano durante milhares de anos. Vejamos se o senso comum e o conhecimento não o podem remover.
O livre-arbítrio é um assunto de grande importância para nós neste caso e devemos tratá-lo com os olhos bem abertos e com a inteligência bem desperta; não porque seja muito difícil, mas porque tem sido atado e torcido num emaranhado de nós górdios durante vinte séculos cheios de filósofos palavrosos e mal sucedidos.
Robert Blatchford, 1913
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
sexta-feira, 18 de dezembro de 2009
"A felicidade eterna prometida pelo Cristianismo", por Søren Kierkegaard
A felicidade eterna prometida pelo Cristianismo
O problema objectivo consiste numa investigação acerca da verdade do Cristianismo. O problema subjectivo diz respeito à relação do indivíduo com o Cristianismo. Para pôr as coisas de forma simples: como é que eu, Johannes Climacus [Kierkegaard], posso participar da felicidade prometida pelo Cristianismo?
Søren Kierkegaard
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
O problema objectivo consiste numa investigação acerca da verdade do Cristianismo. O problema subjectivo diz respeito à relação do indivíduo com o Cristianismo. Para pôr as coisas de forma simples: como é que eu, Johannes Climacus [Kierkegaard], posso participar da felicidade prometida pelo Cristianismo?
Søren Kierkegaard
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
Citação de Francisco Sanches
Não esperes de mim um estilo ataviado e polido. Empregá-lo-ia se quisesse mas a verdade escapa-se quando estamos a escolher muito as palavras e usamos de rodeios: isso é nem mais nem menos que enganar. Se é isso que desejas, recorre a Cícero, pois é esse o seu ofício. O que eu disser será bastante belo, se bastante verdadeiro.
As belas frases convêm aos retóricos, aos poetas, aos áulicos, aos namorados, às cortesãs, aos proxenetas, aos aduladores, aos parasitas e semelhantes, para os quais o falar bem é um fim. Para a ciência basta, e é necessária mesmo, a propriedade, o que não pode conjugar-se com aquilo. Não exijas também de mim muitas citações, ou uma reverência para com os autores que é mais própria de um ânimo servil e inculto do que de um espírito livre e que busca a verdade. A autoridade manda crer; a razão demonstra; aquela é própria da fé; esta, da ciência. Dos outros, aquilo que me parecer verdadeiro, confirmá-lo-ei com a razão; o que me parecer falso, infirmá-lo-ei. Oxalá que tudo aquilo que eu atentamente elaboro, depois de elaborado tu o recebas com o mesmo espírito e precaução, e o julgues com são critério: e que tudo aquilo que parecer falso, tu o destruas com razões sólidas (coisa que, sendo, como é, própria de um filósofo, me é extremamente grata), e não, como fazem os invejosos e alguns ignorantes, com injúrias ineptas e que nada invalidam (coisa que, sendo, como é, própria de mulheres, é indigna de um filósofo, e para mim absolutamente desagradável); aquilo, porém, que parecer justo, oxalá que tu o aproves e confirmes. Francisco Sanches, "Que Nada se Sabe", Lisboa, Vega, p. 60
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
As belas frases convêm aos retóricos, aos poetas, aos áulicos, aos namorados, às cortesãs, aos proxenetas, aos aduladores, aos parasitas e semelhantes, para os quais o falar bem é um fim. Para a ciência basta, e é necessária mesmo, a propriedade, o que não pode conjugar-se com aquilo. Não exijas também de mim muitas citações, ou uma reverência para com os autores que é mais própria de um ânimo servil e inculto do que de um espírito livre e que busca a verdade. A autoridade manda crer; a razão demonstra; aquela é própria da fé; esta, da ciência. Dos outros, aquilo que me parecer verdadeiro, confirmá-lo-ei com a razão; o que me parecer falso, infirmá-lo-ei. Oxalá que tudo aquilo que eu atentamente elaboro, depois de elaborado tu o recebas com o mesmo espírito e precaução, e o julgues com são critério: e que tudo aquilo que parecer falso, tu o destruas com razões sólidas (coisa que, sendo, como é, própria de um filósofo, me é extremamente grata), e não, como fazem os invejosos e alguns ignorantes, com injúrias ineptas e que nada invalidam (coisa que, sendo, como é, própria de mulheres, é indigna de um filósofo, e para mim absolutamente desagradável); aquilo, porém, que parecer justo, oxalá que tu o aproves e confirmes. Francisco Sanches, "Que Nada se Sabe", Lisboa, Vega, p. 60
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
Goodman e as linguagens da arte, por Aires Almeida

Goodman e as linguagens da arte
Aires Almeida
Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão
Vida e obra de Goodman
Linguagens da Arte é um dos mais influentes, originais e controversos livros de filosofia da arte dos últimos cinquenta anos, escrito por uma das mais influentes e originais figuras da filosofia contemporânea.
Nascido em 1906 no estado americano do Massachussets, Nelson Goodman ensinou nas universidades de Tufts (1945-1946), Pennsylvania (1946-1964), Brandeis (1964-1967) e Harvard (a partir de 1967). Foi uma pessoa com uma curiosidade intelectual e uma gama de interesses verdadeiramente invulgares, sentindo-se à vontade nos mais diversos domínios.
Durante doze anos foi co-proprietário e director da Walker-Goodman Art Gallery, em Boston, e um bem-sucedido negociante de arte. Ao longo da sua vida revelou-se um incansável coleccionador de arte antiga e contemporânea, de diferentes estilos e tradições. Vários museus de Massachussets e Wisconsin receberam importantes obras doadas por si.
Na Universidade de Harvard fundou o Project Zero, cuja finalidade era, e continua a ser, a compreensão e o desenvolvimento da aprendizagem e do pensamento criativo nas artes, nas humanidades e nas ciências, tanto a nível individual como institucional, envolvendo a participação de várias escolas, universidades e museus. Trata-se de um projecto em que o conhecimento das artes é seriamente encarado como uma importante actividade cognitiva. Ainda em Harvard fundou e dirigiu o Harvard Dance Center e colaborou na criação de peças de dança com a coreógrafa Martha Gray, o compositor minimalista John Adams e a pintora Katharina Sturgis, sua mulher, além de participar em performances de outros artistas. Muitas destas actividades decorriam em paralelo com a preparação e publicação de inúmeros livros e artigos, que abarcam um leque bastante vasto de tópicos filosóficos.
Além de Linguagens da Arte, publicado em 1968, os seus livros mais importantes são The Structure of Appearance, de 1951, Fact, Fiction and Forecast, de 1954 (trad. port.: Facto, Ficção e Previsão, 1991), Problems and Projects, de 1972, Ways of Worldmaking, de 1978 (trad. port.: Modos de Fazer Mundos, 1995), Of Mind and Other Matters, de 1984 e Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences, de 1988, escrito em parceria com Catherine Z. Elgin. Nos anos 50 do século XX foi durante dois anos vice-presidente da Association for Symbolic Logic e em 1967 desempenhou o cargo de presidente da American Philosophical Association, Eastern Division.
Empenhou-se activa e intensamente em várias causas, nomeadamente na protecção dos animais não humanos, tendo sido um membro destacado da World Society for the Protection of Animals. Morreu em Dezembro de 1998, com 92 anos de idade.
Goodman não só conferiu à estética e filosofia da arte o rigor analítico patente em outras áreas filosóficas, como contribuiu visivelmente para disciplinas como a metafísica, a lógica, a epistemologia, a filosofia da ciência e a filosofia da linguagem. Muitas das ideias de Goodman nestas áreas deram início a importantes discussões que envolveram alguns dos mais destacados filósofos contemporâneos.
No primeiro livro que publicou, The Structure of Appearance, Goodman apresentou, de forma muito persuasiva, uma versão contemporânea de nominalismo, ao defender que nem as coisas, nem as qualidades, nem as semelhanças entre coisas têm qualquer fundamento ontológico exterior, sendo apenas o produto dos nossos hábitos linguísticos. Para o nominalista, não há universais (como a sabedoria, a brancura, a triangularidade, a beleza) nem entidades abstractas ou ideais (como géneros ou classes), opondo-se assim ao platonismo metafísico, o qual, segundo o nominalista, confere realidade independente a meras abstracções conceptuais. Para o nominalista extremo, só há indivíduos (como Lisboa, Porto, Cavaco Silva, José Sócrates, esta casa, aquela casa). Quando se pensa numa frase como "Sócrates é sábio", aquilo que está a ser denotado é diferente para o nominalista e para o platonista. Apesar de tanto para um como para o outro o nome "Sócrates" denotar um objecto extralinguístico, a saber, a pessoa de Sócrates, para o nominalista o predicado "é sábio" não denota algo do domínio extralinguístico, enquanto para o platonista denota algo do domínio extralinguístico, a saber, a propriedade da Sabedoria. Assim, para um nominalista como Goodman, só há objectos, pelo que predicados como "é sábio" são apenas etiquetas linguísticas — essa é, aliás, a razão que leva Goodman a utilizar recorrentemente o termo "etiqueta" em Linguagens da Arte. Etiquetas essas que, de forma puramente convencional, se aplicam a vários objectos, conforme os nossos hábitos linguísticos e o modo de organização das coisas que melhor serve os nossos interesses. Nada há nos próprios objectos que nos leve a classificá-los de uma ou de outra maneira.
A defesa do nominalismo foi retomada por Goodman no seu livro Modos de Fazer Mundos, articulando-o com uma forma de construtivismo relativista. A tese central aí exposta é que não há um mundo que esteja à espera de ser descoberto por nós.
O construtivismo consiste na ideia de que há vários mundos e esses mundos, assim como os objectos que deles fazem parte, são construídos, e não descobertos. Goodman argumenta que se pensarmos nos membros de um qualquer grupo de objectos, verificamos que se assemelham em certos aspectos, mas que também são muito diferentes em outros. Segundo ele, isto mostra que a mera inspecção das suas características não permite estabelecer se duas coisas são do mesmo tipo ou se dois eventos são a manifestação da mesma coisa. Precisamos de algum esquema ou sistema categorial que nos permita distinguir as diferenças que contam das que não contam, de modo a classificar os objectos numa mesma categoria. Estes esquemas não estão disponíveis na natureza; são construídos por nós. Somos nós quem decide que objectos pertencem a que domínio, havendo várias maneiras de o fazer. A tarefa do artista, do cientista ou do homem comum consiste em organizar e classificar as coisas, construindo versões de mundos.
O relativismo, por sua vez, consiste na defesa de que diferentes maneiras de organizar e classificar objectos, ainda que divergentes, são igualmente viáveis, na medida em que apresentam mundos diferentes. Sendo assim, nenhuma versão de mundo é mais ou menos verdadeira, pois não há qualquer critério exterior que permita estabelecer tal coisa. Pode-se apenas dizer que as versões são correctas ou incorrectas, em função dos seus próprios objectivos. A gama de crenças pré-teóricas que possuímos pode ser adequadamente explicada por sistemas divergentes, pois cada versão tem em vista diferentes objectivos. É por isso que não esperamos de um guarda prisional a quem foi dada ordem de disparar sobre todos os prisioneiros que se mexessem que dispare sobre todos eles, alegando que se movem em torno do Sol. O heliocentrismo e o movimento da Terra não se ajustam aos objectivos de uma versão de mundo em que os guardas prisionais recebem ordens para atirar sobre todos os prisioneiros que se mexam.
Apesar de não haver qualquer critério exterior de verdade, Goodman não aceita, contudo, o tipo de relativismo segundo o qual vale tudo e tudo se equivale, pois defende que há um critério geral de aceitabilidade para as diferentes versões de mundos. Esse critério é a correcção, sendo a verdade apenas um caso particular do critério de correcção. A noção de correcção tanto se aplica a teorias científicas como a pinturas, esculturas (abstractas ou figurativas), às peças musicais e aos juízos morais, assim como a qualquer tipo de símbolo. Neste aspecto, a arte, a ciência e o senso comum encontram-se exactamente no mesmo plano.
Além disso, uma vez adoptada uma dada versão de mundo, o que é ou não é permitido obedece a critérios precisos, pelo que não há lugar para a arbitrariedade. Neste sentido, nada pode estar mais em desacordo com a perspectiva de Goodman do que o relativismo desconstrucionista pós-moderno. Quando certa vez lhe perguntaram se havia alguma afinidade entre o seu pensamento e o de Derrida, Goodman respondeu prontamente que não; que o objectivo de Derrida era desconstruir, ao passo que o seu era construir mundos. De resto não é fácil catalogar um pensamento tão original como o de Goodman. Ele mesmo escreve no preâmbulo da Modos de Fazer Mundos que se trata de um livro que "está igualmente em desavença com o empirismo e com o racionalismo, com o materialismo, com o idealismo, com o essencialismo e o existencialismo, com o mecanicismo e o vitalismo, com o misticismo e o cientismo e com a maioria das outras doutrinas apaixonantes", caracterizando a sua perspectiva como "relativismo radical sob restrições rigorosas".
Outro aspecto em que Goodman marcou a discussão filosófica contemporânea diz respeito ao problema da justificação da indução. Ao velho enigma da indução, discutido por David Hume, Goodman acrescentou o famoso "Novo Enigma da Indução" — título de uma das secções de Facto, Ficção e Previsão. Este novo enigma da indução é também conhecido como "paradoxo de Goodman".
Como é sabido, Hume levantou sérias dúvidas acerca da indução, procurando mostrar que não temos uma boa justificação racional para concluir, por exemplo, que o Sol irá nascer amanhã com base na observação de que, até hoje, nasceu todos os dias. Segundo Hume, a conclusão de que o Sol irá nascer amanhã só pode ser obtida se partirmos do princípio que a natureza é uniforme. Mas, alega Hume, temos de recorrer à indução para concluir que a natureza é uniforme. Sendo assim, acabamos por justificar a indução indutivamente, o que resulta num raciocínio circular.
Mas Goodman vai mais longe, mostrando que não é apenas o tipo de justificação que está em causa, mas também os predicados que se prestam mais a generalizações nuns casos do que noutros. Por exemplo, do ponto de vista estritamente lógico, a mesma colecção de observações tanto permite concluir que todas as esmeraldas são verdes como que todas são verduis.
"É verdul" é um predicado introduzido por Goodman e que ele define do seguinte modo: um objecto é verdul se, e só se, for observado antes de um determinado momento e for verde, ou for observado depois desse momento e for azul. Imaginemos que o momento em causa é o ano de 2500. Sendo assim, do ponto de vista estritamente lógico, a descoberta de que todas as esmeraldas observadas até hoje são verdes tanto permite concluir que todas as esmeraldas são verdes como permite concluir que todas as esmeraldas são verduis.
A questão é, então, a de compreender por que razão favorecemos certas induções em vez de outras igualmente possíveis, se não existe qualquer diferença entre elas, a não ser que os predicados envolvidos são diferentes. Este é um enigma de que Hume não se tinha dado conta. Goodman pensa, como Hume, que a indução não nos garante seja o que for e que não há maneira de saber se as esmeraldas que viermos a observar no futuro serão verdes ou verduis. Mas avança outro tipo de razões diferentes das de Hume.
Neste caso, o mais importante para Goodman é saber como proceder na ausência de tal conhecimento. A sua resposta é que devemos favorecer os predicados que até aqui nos têm permitido fazer um uso mais eficiente dos nossos recursos cognitivos e dos nossos hábitos linguísticos e de pensamento.
Filosofia da arte
Um dos principais erros de que o leitor de Linguagens da Arte se deve precaver é pensar que as ideias apresentadas têm um carácter prospectivo, fragmentário e ad hoc. A escrita desenvolta e o estilo espirituoso de Goodman podem dar ao leitor desprevenido a impressão falsa de que ele escreve um pouco ao sabor da pena. Por vezes parece falar de coisas muito diferentes, seguindo por caminhos inesperados, sem que se detecte um fio condutor. Mas nada pode ser mais enganador. Goodman raramente improvisa e o seu pensamento é rigorosamente estruturado do ponto de vista lógico, exigindo por vezes um grau de tecnicidade bastante elevado. Cada exemplo tem um objectivo muito preciso e todas as suas ideias se articulam num sistema intrincado, baseado num núcleo bem preciso de princípios teóricos. Goodman é, aliás, um contra-exemplo eloquente à ideia comum de que os filósofos de tradição analítica discutem apenas pormenores, sendo incapazes de apresentar sistemas teóricos unificados. Em Linguagens da Arte, apresenta-se uma visão unificada não apenas das diferentes artes, mas também das outras possibilidades de construção de mundos, ao mesmo tempo que se presta uma atenção cirúrgica aos pormenores. A compreensão de Linguagens da Arte, cuja "elegância [...], economia de meios e finura de análise só são comparáveis à sua reconhecida dificuldade"1, só terá a ganhar se se tiverem em conta os princípios gerais atrás referidos. O nominalismo, convencionalismo, construtivismo e relativismo são patentes quando se lê Linguagens da Arte com atenção.
A ideia central que Goodman persegue em Linguagens da Arte só se torna completamente clara quando chegamos ao capítulo final. O que se pretende mostrar é que as artes são modos de obtenção de conhecimento e que a estética, ou filosofia da arte, tem como finalidade explicar como se obtém esse conhecimento. A estética é, pois, um ramo da epistemologia, ou teoria do conhecimento. Assim, as obras de arte não se destinam a ser contempladas, fruídas ou adoradas, mas a proporcionar conhecimento das coisas. E compreender uma obra de arte não consiste em apreciá-la, nem em ter experiências estéticas acerca dela, nem em descobrir a sua beleza. Compreender uma obra de arte é interpretá-la correctamente, tal como se faz quando se interpreta uma frase, um mapa, uma afirmação moral, um sinal luminoso ou uma radiografia. As ciências não são melhores nem piores do que as artes no que respeita à aquisição de conhecimento. Artes e ciências têm exactamente a mesma finalidade e a sua eficácia é semelhante, apesar de disporem de recursos diferentes. Todas visam criar ou construir versões de mundos, isto é, formas de organizar as coisas. E esses mundos são viáveis ou não em função daquilo que esperamos deles. É certo que o conhecimento está frequentemente associado à crença verdadeira (o chamado "conhecimento proposicional"), como acontece quando se pensa nas afirmações das ciências. Mas o conhecimento não é exclusivamente uma questão de crenças; a percepção, a detecção de padrões, o reconhecimento e a classificação são também actividades cognitivas. E estas actividades não só afectam as nossas crenças como são, em si, cognitivamente relevantes. Assim, as artes não têm um estatuto cognitivo periférico ou inferior ao que encontramos nas ciências. Esta é, em síntese, a perspectiva cognitivista da arte que Goodman procura sustentar ao longo deste livro.
Mas para mostrar que a arte tem valor cognitivo, Goodman tem de dizer como desempenham as obras de arte a sua função cognitiva. Dado que não há cognição sem referência, tem de mostrar como referem e o que referem as obras de arte — todos os tipos de obras de arte. Essa é a tarefa de Goodman ao longo de quase todo o livro. Daí o título Linguagens da Arte, pois considera que as obras de arte referem porque são símbolos que fazem parte de sistemas simbólicos — os símbolos não funcionam isoladamente — com as suas próprias regras sintácticas e semânticas. Aliás, para Goodman, tudo pode funcionar como símbolo, se bem que certos objectos sejam mais frequentemente usados como símbolos do que outros. Um objecto pode até, em certas ocasiões, funcionar como símbolo estético e, em outras ocasiões, não. É por isso que no ensaio "Quando é Arte?", incluído em Modos de Fazer Mundos, Goodman defende que a questão "O que é arte?" não admite resposta satisfatória. A questão "O que é arte?" lança-nos, defende, na pista errada, que consiste em procurar propriedades comuns a todas as obras de arte. Mas essa é uma tarefa inglória — o que, de resto, se articula com a sua perspectiva nominalista. O que interessa é compreender em que circunstâncias um qualquer objecto pode funcionar como símbolo estético — quando se integra num sistema simbólico estético. Além disso, os sistemas simbólicos são construções humanas, pelo que têm um carácter convencional, mesmo quando são o produto de habituação. A escolha entre sistemas simbólicos decorre das nossas necessidades e interesses e "é avaliada fundamentalmente em função de como serve o propósito cognitivo: pela subtileza das suas distinções e pela justeza das suas alusões; pelo modo como apreende, explora e dá forma ao mundo; pelo modo como analisa, categoriza, ordena e organiza; pelo modo como participa na produção, manipulação, retenção e transformação do conhecimento", diz Goodman no último capítulo de Linguagens da Arte. Contudo, a interpretação de um símbolo no âmbito de um sistema é uma questão de facto. O subtítulo Uma Abordagem a uma Teoria dos Símbolos indica que Goodman não pretende apenas mostrar que as obras de arte funcionam como símbolos, mas integrar esses sistemas numa teoria geral dos símbolos, comparando os sistemas simbólicos da arte com outros sistemas simbólicos.
Como o próprio Goodman refere na introdução, podem encontrar-se duas linhas de investigação que convergem no capítulo final do livro. A primeira linha de investigação encontra-se nos capítulos I (A Realidade Recriada) e II (O Som das Imagens), nos quais expõe as principais formas de simbolização na arte: a representação e a exemplificação. Podemos ter uma ideia mais clara dos diferentes tipos de referência indicados por Goodman a partir do seguinte diagrama:
A representação é discutida no Capítulo I. Neste capítulo Goodman defende a tese polémica de que toda a representação — incluindo a representação pictórica que se pode ver, por exemplo, nas pinturas figurativas — é convencional, tal como a descrição ou a representação linguística. E desfere uma crítica contundente à noção de representação por imitação ou semelhança entre a imagem que representa e o que é representado, crítica essa em parte inspirada nas teses do historiador e psicólogo da arte Ernst Gombrich, contidas em Art and Illusion (1960). Do ponto de vista de Goodman, também na arte a representação é convencional e nenhuma obra de arte representa seja o que for por imitação. São famosos os argumentos de Goodman de que a relação de semelhança é simétrica e reflexiva, ao passo que a relação de representação não: uma pintura do Duque de Wellington representa o Duque de Wellington, mas o Duque de Wellington não representa a pintura do Duque de Wellington; se A se assemelha a B, então B assemelha-se a A, mas A pode representar B e B não representar A. Assim, a semelhança não é condição suficiente para a representação, pois há semelhança sem representação e também não é condição necessária, pois há representação sem semelhança — por exemplo, quando em certos quadros a figura de um cordeiro representa a pessoa de Jesus Cristo.
Goodman pensa que as pinturas são tão convencionais como as palavras. A representação, tal como a descrição linguística, são denotativas, sendo errado afirmar que a diferença entre elas se explica porque a primeira refere por semelhança e a segunda por convenção. Defende que saber o que um retrato do Duque de Wellington denota é uma questão de decifrar o que está no quadro de acordo com o conjunto de regras que fazem parte do sistema de convenções de que esse quadro faz parte. Não é a semelhança só por si que nos permite descodificar o que uma dada imagem representa ou denota, mas antes a aplicação das convenções e regras que correlacionam certas configurações visuais com os objectos representados. De acordo com a noção de representação simbólica de Goodman, x representa y se, e só se, x denota y e existe um sistema de convenções simbólicas que fazem que x denote y.
Que a representação implica o recurso a algum sistema de convenções parece patente na incompreensão mútua que frequentemente se verifica entre as pessoas pertencentes a culturas com práticas pictóricas muito diferentes entre si. Os sistemas e estilos de representação na pintura egípcia antiga ou na pintura gótica flamenga são muito diferentes dos que vigoram actualmente na pintura europeia. Razão pela qual temos muitas vezes dificuldade em saber o que está realmente a ser representado na pintura egípcia antiga e na pintura gótica flamenga. Para o sabermos temos de estudar a pintura dessas épocas e regiões, obtendo informação sobre práticas instituídas e códigos utilizados. Sem essa informação somos incapazes de saber o que é representado no tríptico As Tentações de Santo Antão, de Bosch, ou o que representam aquelas figuras com círculos dourados à volta da cabeça que se podem ver em muitas pinturas do alto renascimento. Há, portanto, diferentes sistemas simbólicos, cujas convenções são a chave para identificar o que é representado. Os diferentes sistemas simbólicos que se encontram na pintura são o resultado de diferentes práticas culturais que requerem algum tipo de aprendizagem. A diferença entre os sistemas simbólicos representacionais, como a pintura, e os não representacionais ou linguísticos reside essencialmente nas características formais desses sistemas.
Várias objecções foram posteriormente apontadas a esta noção de representação. Uma delas foi a seguinte: se a representação for uma questão de aplicar certas convenções, por que razão temos tantas vezes a experiência de ver algumas pinturas como mais realistas do que outras? Quando, por exemplo, comparamos os quadros de Jacques-Louis David com os de Monet, dizemos sem hesitação que os daquele pintor são mais realistas do que os deste. Essa diferença é ainda mais evidente quando comparamos as pinturas da catedral de Rouen, de Monet, com fotografias da mesma catedral.
A resposta de Goodman a isto está implícita em Linguagens da Arte. Pode dizer que ver uma imagem como mais ou menos realista é uma questão de maior ou menor familiaridade com as convenções do sistema simbólico de que faz parte. Assim, dizemos que uma dada representação é mais realista porque estamos mais habituados a esse estilo de representação. Convivemos há muito tempo com esse tipo de representações e somos, em parte, educados com elas. Se eventualmente o cubismo ou o expressionismo se tornassem durante muito tempo estilos predominantes, parecer-nos-ia natural classificar grande parte dos quadros de Monet ou Picasso como realistas, ou até como mais realistas do que os de David.
Mas isso é fortemente contra-intuitivo, até porque o realismo figurativo na pintura é algo que há mais de um século tem vindo a ser persistentemente abandonado. E, apesar disso, ainda hoje consideramos mais realistas as figuras pintadas por David, Caravaggio ou Hans Holbein, quase todas elas anteriores ao século XIX, do que as da esmagadora maioria dos quadros figurativos dos pintores contemporâneos. E as diferenças culturais no que concerne à capacidade de identificação do que é representado por uma imagem também não são assim tão acentuadas como o convencionalista supõe. Talvez os nativos de algumas tribos africanas não consigam identificar o que é representado em fotografias de edifícios modernos e dos engarrafamentos de automóveis nas cidades europeias. Mas isso significa apenas que não sabem o que está a ser representado porque desconhecem os objectos representados, do mesmo modo que uma pessoa que nada sabe de medicina é muitas vezes incapaz de identificar o que está na imagem de uma radiografia.
A teoria convencionalista de Goodman também não parece conseguir explicar adequadamente certas diferenças entre a linguagem e as imagens. A aprendizagem dos sistemas linguísticos parece exigir um esforço muito maior do que aquele que é normalmente requerido para interpretar com sucesso pinturas e outras imagens. No caso dos sistemas linguísticos é preciso aprender cada palavra por si, enquanto nos sistemas picturais ficamos a saber como interpretar a maior parte das imagens do sistema a partir do momento em que somos capazes de interpretar correctamente um número suficiente delas. Se a representação na arte fosse uma questão convencional, a dificuldade em saber o que uma imagem representa seria muito maior.
No Capítulo II, Goodman aborda a noção de exemplificação e dos dois principais tipos de exemplificação: literal e metafórica. A exemplificação metafórica — de que a expressão é uma forma — é a função simbólica predominante em várias artes: pintura e escultura abstractas, música e bailado. Goodman recusa a ideia de que as obras de arte exprimem as emoções do artista ou que despertam emoções nas pessoas. Para ele, uma obra de arte exprime apenas as propriedades que possui. Dizer que uma obra exprime tristeza é dizer que essa obra é triste metaforicamente e que a tristeza é uma propriedade2 exemplificada pela obra de arte. Assim, x exprime y, se, e só se, 1) x possui y metaforicamente e 2) x exemplifica y.
A exemplificação é, para Goodman, um dos dois modos de referência principais, juntamente com a denotação. A diferença entre a exemplificação e a denotação é que aquela, ao contrário desta, possui as propriedades que refere. A palavra "azul" apenas denota a propriedade de ser azul, enquanto a palavra "azul" escrita a azul numa superfície não só refere mas exemplifica a propriedade de ser azul. Além disso, a exemplificação tanto pode ser literal como metafórica. Por um lado, Goodman explica esta distinção no contexto de uma teoria geral dos símbolos que abrange diferentes sistemas simbólicos, nos quais se encontram os sistemas simbólicos da arte. Por outro lado, como nominalista, caracteriza a metáfora de um ponto de vista extensional3, nunca recorrendo às noções de intensão (com s), sentido ou conotação. Assim, x possui y metaforicamente, se x faz parte da extensão de y usado como metáfora. Um símbolo funciona metaforicamente quando é aplicado fora da sua extensão habitual, sob a sugestão de regras e hábitos que determinam a sua aplicação original. Saber se um símbolo é aplicado fora da sua extensão habitual é uma questão de conhecer o contexto em que esse símbolo é usado, pois os símbolos não funcionam isoladamente. Nas obras de arte, um símbolo só funciona metaforicamente se for um símbolo estético, o que implica conhecer as convenções do sistema simbólico em causa.
Várias dificuldades têm sido apresentadas à noção de expressão de Goodman. A mais directa é que se trata de uma noção contra-intuitiva: não há qualquer razão para afirmar que, numa linguagem meramente extensional, o terror expresso pela personagem ficcional Macbeth, por exemplo, é mais metafórico do que o terror expresso por uma pessoa real numa situação real. Outra dificuldade prende-se com a noção de expressão aplicada à música. O nominalismo de Goodman leva-o a considerar que cada obra musical é a totalidade das suas execuções. Sendo assim, as propriedades de uma dada obra musical têm de ser exactamente as mesmas propriedades de todas as suas execuções. Contudo, é uma questão consensual que diferentes execuções da mesma obra musical podem diferir no seu carácter expressivo. Mas se Goodman reconhece tal coisa, então teria também de reconhecer que nem tudo o que é expresso está na obra.
Ainda no âmbito da música, não se percebe bem quando um símbolo musical funciona metaforicamente ou não. Como podemos saber que, numa obra musical, um símbolo é aplicado fora da sua extensão habitual? Quando descrevemos uma dada obra musical, não é difícil saber se as nossas descrições são metafóricas ou literais porque se trata de linguagem verbal e estamos habituados a pensar na metáfora como um recurso linguístico. Mas a música é muito diferente e não dispomos de qualquer regra semântica que nos permita detectar quando estamos perante um uso contra-indicado dos símbolos musicais. Para saber se uma obra musical exemplifica a tristeza metaforicamente teríamos de saber antes como é que habitualmente na música se exemplifica a tristeza literalmente. Mas a música não exemplifica tristeza literalmente. O filósofo da arte Jerrold Levinson4 alega que a expressão é essencialmente a manifestação ou exteriorização de algo interior, nomeadamente de algo mental ou psicológico. Assim, o âmbito da expressão não são as propriedades em geral nem as propriedades que metaforicamente se possui, mas propriedades psicológicas, isto é, propriedades que pertencem apenas a seres sencientes.
A segunda linha de investigação de Linguagens da Arte desenvolve-se nos Capítulos III, IV e V. No primeiro destes capítulos, introduz-se o problema prático da falsificação das obras de arte: por que razão há qualquer diferença estética entre uma falsificação enganadora e uma obra original? O que, em boa parte, Goodman pretende mostrar com a discussão deste problema prático é que a resposta irá depender de considerações de carácter teórico que o filósofo da arte tem de esclarecer. Esclarecimento esse que será dado com algum tecnicismo no capítulo seguinte, exigindo da parte do leitor o domínio de algumas noções de lógica elementar. Este é seguramente o capítulo mais difícil, no qual Goodman fornece todo o aparato conceptual acerca das diferentes formas de simbolização em geral, e não apenas na arte. É por isso que fala de relógios, termómetros, contadores, mapas e diagramas, procurando mostrar as suas características simbólicas e as formas de simbolização utilizadas. No Capítulo V, serve-se dos princípios teóricos expostos no anterior, aplicando-os aos diferentes sistemas simbólicos das artes: música, pintura, artes dramáticas e literárias, bailado, arquitectura. Aí esclarece, entre outras questões de carácter estético, por que razão uma pintura pode ser falsificada e uma sinfonia não.
Voltando ao Capítulo IV, vale a pena referir, ainda que muito resumidamente, as linhas gerais da teoria geral dos símbolos de Goodman.
Qualquer sistema simbólico consiste num conjunto de símbolos — a que Goodman dá o nome de esquema — e um campo de referência a que esse esquema se aplica — a que dá o nome de domínio. É o próprio sistema que determina que elementos fazem parte do esquema e que elementos fazem parte do domínio, ou campo de referência. Isto significa que qualquer sistema tem uma estrutura sintáctica — que determina a natureza e regras de funcionamento dos símbolos — e uma estrutura semântica — que determina a relação entre os símbolos e aquilo que eles simbolizam, permitindo identificar os seus referentes. Estas duas estruturas permitem-nos, pois, identificar os símbolos e os seus referentes. A denotação, a exemplificação, a representação, a descrição, a expressão, a alusão e a citação, entre outras formas de referência, são casos de uma das duas principais formas de referência: denotação e exemplificação.
Os termos "símbolo" e "referência" são, para Goodman, primitivos, isto é, não são analisáveis, sendo tomados em sentido muito geral: um objecto A refere um objecto B, se A está por B, ou em vez de B. Um símbolo tanto pode ser uma marca, uma inscrição ou um carácter5. Aos símbolos que denotam, Goodman chama etiquetas, aos que exemplificam, chama amostras. Os sistemas simbólicos podem ser articulados e não-articulados. Um sistema é articulado quando possui um alfabeto, isto é, um conjunto de marcas a partir das quais todos os caracteres do esquema podem ser construídos. Exemplos de sistemas articulados são as linguagens naturais (o português, o inglês, o francês, etc.), a linguagem dos surdos-mudos e o código Morse. Exemplos de sistemas não-articulados são os sistemas não-linguísticos ou não-notacionais, como as pinturas e as peças de bailado.
Os sistemas podem ainda ser sintacticamente densos ou sintacticamente diferenciados e semanticamente densos ou semanticamente diferenciados.
Um sistema é sintacticamente denso se o esquema no qual os caracteres estão ordenados estabelece que entre quaisquer dois caracteres há sempre um terceiro (é completamente denso quando a sua densidade não pode ser destruída pela introdução de qualquer carácter). Um sistema é sintacticamente diferenciado (ou articulado) se for possível determinar que cada marca não pertence a mais do que um carácter.
Analogamente, um sistema é semanticamente denso se os referentes que constituem o campo de referência estão de tal modo ordenados que entre quaisquer dois há sempre um terceiro. E é semanticamente diferenciado se os referentes que constituem o campo de referência estão de tal modo articulados que é possível determinar, ainda que teoricamente, que cada referente não concorda com mais do que um carácter.
Assim, tendo em conta as características sintácticas e semânticas dos sistemas, é possível classificá-los em três tipos:
Os sistemas representacionais, que são sintáctica e semanticamente densos: artes plásticas figurativas, mapas, diagramas, modelos, instrumentos de peso e de medida não-graduados.
Os sistemas linguísticos, que são sintacticamente diferenciados (ou articulados) e semanticamente densos: literatura, linguagens naturais, numeração árabe e instrumentos de peso e medida graduados.
Os sistemas notacionais, que são sintáctica e semanticamente diferenciados (ou articulados): música, código postal, instrumentos digitais.
Com este aparato conceptual, Goodman procura então mostrar como se resolvem muitos dos enigmas da estética e, sobretudo, de que maneira a arte desempenha o seu papel cognitivo de uma forma não menos respeitável do que as ciências. Por isso, a suposta dicotomia entre as humanidades e as ciências é falsa, segundo Goodman. Não porque a arte seja superior à ciência ou vice-versa, mas porque ciência e arte são ambas igualmente indispensáveis para o avanço do conhecimento.
Aires Almeida
Notas
D'Orey, Carmo (1999) A Exemplificação na Arte: Um Estudo Sobre Nelson Goodman. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, p. 33. Este livro é um excelente guia para a compreensão da filosofia da arte de Goodman, escrito por uma das pessoas mais versadas na matéria. É claro, rigoroso e muito informativo, nomeadamente ao confrontar as principais ideias de Goodman com algumas das mais importantes críticas que lhe têm sido dirigidas.
Como já se referiu, o nominalismo de Goodman não admite propriedades. Por isso prefere utilizar o termo "etiqueta" em vez de "propriedade" e as suas explicações invocam, em vez de propriedades, a extensão dos termos. Apenas por uma questão de facilidade expositiva se fala aqui de propriedades, como o próprio Goodman, por vezes, concede.
Um ponto de vista extensional é um ponto de vista em que só os objectos a que os termos se aplicam contam e não as suas intensões (não confundir com intenções). A extensão de um termo é a totalidade de objectos a que esse termo se aplica. Por exemplo, a extensão do predicado "ser algarvio" é o conjunto dos algarvios. A intensão de um termo é o princípio por meio do qual identificamos os objectos que esse termo refere. Por exemplo, a intensão do predicado "ser algarvio" é alegadamente a condição de ter nascido no Algarve.
Esta objecção pode encontrar-se no ensaio "Musical Expressiveness as Hearability-as-expression" in Kieran, Matthew (org.) (2005) Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art, Oxford: Blackwell.
Um carácter é, para Goodman, um símbolo, quando considerado como elemento de um esquema. Um carácter é constituído por uma ou mais marcas. As letras e as notas musicais escritas numa pauta são caracteres simples. As palavras, partituras e desenhos são caracteres compostos. Uma marca é qualquer sinal produzido ou percepcionado independentemente de qualquer sistema simbólico: um som, um gesto, um risco feito num papel por um bebé, etc.
Retirado de "Linguagens da Arte", de Nelson Goodman (Lisboa: Gradiva, 2006)
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
A representação da realidade na música, por M. S. Lourenço
A representação da realidade na música
M. S. Lourenço
Universidade de Lisboa
A discussão contemporânea na estética da música é pautada pelo debate fundamental sobre se a música é ou não uma linguagem de que só os resultados da análise conceptual desta putativa linguagem podem contribuir para a resolução dos problemas em curso na estética da música. A simples formulação do problema nestes termos implica imediatamente que a estética da música tem como uma das suas tarefas principais a formulação de uma teoria adequada da referência ou da denotação musical.
Esta expressão cobre o que é tradicionalmente denotado pela designação “representação da realidade” e assim o problema básico consiste em determinar as condições debaixo das quais se considera que a linguagem da música é capaz de representar, seja um objecto físico seja um estado interior ou psíquico.
Como a literatura sobre este problema não pára de crescer vou apresentar uma visão de conjunto das soluções propostas, distinguindo uma classe de soluções negativas de uma classe de soluções positivas, em que os nomes associados com as soluções negativas são os do fundador da moderna teoria da estética musical, Eduard Hanslick, e o de Igor Stravinsky.
As teorias que estes autores formularam podem ser contrasta¬das da seguinte forma: enquanto para o formalismo de Hanslick e dos seus continuadores os termos provenientes da psicologia, como o que usei acima ao falar de estados interiores, devem ser simplesmente eliminados e substituídos pelos termos em uso na teoria musical, para Stravinsky a eliminação não tem que ser efectuada mas tem que haver a compreensão do facto de que um estado interior ou uma emoção não pode em sentido real ser representado na obra de arte musical.
Na classe de soluções positivas encontra-se não só o chamado ouvinte médio, que está habituado a identificar o cuco na Sinfonia Pastoral, mas também no domínio da filosofia analítica Nelson Goodman e os seus seguidores, como V. A. Howard, para quem a engenhosa teoria da exemplificação de Goodman é a chave para a solução do nosso problema e, segundo eles, o estado interior ou o predicado psicológico que o refere é metaforicamente exemplifi¬cado na obra de arte musical.
Este valor que Nelson Goodman atribui ao conceito de metáfora como capaz de ser revelador da estrutura da obra de arte musical é rejeitado pelos formalistas contemporâneos, como Boretz, para quem a linguagem da teoria musical é a única capaz de ser reveladora da estrutura da obra de arte musical, embora fosse tolerado no primitivo formalismo de Hanslick, sendo a dificuldade subjacente constituída pelo facto de que uma eliminação total da metáfora é irrealizável mesmo no discurso científico e assim também na teoria musical.
Antes de proceder a um esboço das possibilidades da teoria da exemplificação de Goodman para a solução do problema tradicio¬nal da representação da realidade na obra de arte musical, não quero deixar de referir uma outra solução positiva mais antiga do que a de Goodman, uma vez que provém ainda de Charles Peirce e de Ernest Cassirer, conhecida na literatura de língua inglesa pela expressão icon sign theory, que proponho que se traduza simplesmente por teoria icónica e cujo representante contempo¬râ¬neo mais conhecido é Susanne Langer.
Os dois temas principais e recorrentes da teoria icónica são o tema da denotação e o tema da mimese ou da imitação, cujo conteúdo comparado é o seguinte: se do ponto de vista da denotação a música é tratada como um símbolo que significa ou refere afecto, estados interiores, emoções, certas percepções do tempo, do espaço e do movimento, agora do ponto de vista da mimese estes símbolos ou sinais têm um carácter icónico do processo em relação ao qual possuem uma certa forma de semelhança, quer morfológica quer quinestésica.
Num exemplo simples, o uso do predicado “triste” em relação a uma obra como a Trauermarsch do Crepúsculo dos Deuses de Wagner é justificado pela teoria icónica pelo facto de a música ouvida ser como a emoção de tristeza, em virtude da semelhança quinesté¬sica entre a música e a emoção. A música é um mapa da emoção humana e eu reconheço a emoção expressa pela Marcha Fúnebre de Siegfried em virtude da semelhança entre o mapa e a área representada por ele.
Os leitores da obra clássica de Goodman Linguagens da Arte reconhecerão imediatamente a possibilidade de refutar a teoria icónica com argumentos standard e recorrentes nessa obra: enquanto por um lado a forma sensorial ou sensível de um símbolo não implica denotação, por outro lado a semelhança também não é condição suficiente de denotação, como é provado logo no capítulo inicial de Linguagens da Arte. Assim, a representação musical não pode ser compreendida a partir de um modelo fixo e único usado para as palavras da linguagem natural ou para as imagens das artes visuais, de modo que o caminho fica por isso aberto para uma teoria específica da referência musical.
O conceito mais simples e aquele que vou usar como conceito primitivo para esboçar a teoria de Goodman é o conceito de referência, entendido como uma relação binária por meio da qual uma palavra ou uma expressão verbal designa um objecto ou um conjunto de objectos, e, conversamente, a relação por meio da qual um objecto designa uma palavra ou uma expressão verbal. Se estamos diante do primeiro caso, a forma de referência em causa é classificada por Goodman como denotação, e se estamos diante do segundo caso, a forma de referência em causa chama-se agora exemplificação. Ambas estas formas de referência são dadas na experiência e não podem por isso ser rejeitadas in limine como construções puramente formais.
A forma de denotação mais conhecida é a que é usual na teoria lógica clássica, a predicação, por meio da qual um predicado designa pela sua extensão os objectos a que se refere. Goodman consegue fazer uma extensão do conceito clássico de predicação de modo a incluir também não só a predicação verbal, a que me referi, mas também a predicação pictoral, por meio de uma imagem, a predicação gestual, recorrente no Bailado, e a predicação musical, como no Leitmotiv da ópera wagneriana.
A denotação musical é nesta teoria — e possivelmente na realidade musical — relativamente menos frequente do que a referência por exemplificação e, das duas categorias de exempli¬ficação que Goodman isola, a exemplificação literal e a exempli¬ficação metafórica, a música é melhor servida pelo conceito de exemplificação metafórica. Assim, no exemplo já mencionado, a música é triste em virtude de uma transferência metafórica, uma vez que as propriedades expressas pertencem literalmente a outro domínio. Em todo o caso as propriedades metafóricas são tão reais como as propriedades literais, de tal modo que a tristeza da Trauermarsch tem que pertencer à música de Wagner, independente¬mente da intenção do compositor e da sua recepção por parte do ouvinte.
O contraste básico da teoria de Goodman entre denotação e exemplificação é derivado da experiência corrente, a partir do comportamento ou do uso contrastante que fazemos de uma etiqueta, para denotar, e de uma amostra-padrão, para exemplificar, e assim Goodman pretende que a forma clássica do predicado é apenas um caso especial da função mais geral de etiquetar. A sua ideia geral pode ser captada na seguinte síntese: enquanto nem tudo o que refere é um predicado ou uma etiqueta, só as etiquetas ou os predicados, no entanto, denotam. No que diz respeito à música temos o resultado que do facto de um objecto ser um símbolo não se segue que seja necessariamente uma etiqueta ou um predicado, e assim a música é simbólica mas não é em geral denotativa, sendo antes exemplificativa.
Colocando-me agora no ponto de vista da teoria lógica, a exemplificação teria que ser considerada como uma subrelação da relação conversa da denotação. Uma caracterização comparada da denotação com a exemplificação dá origem à proposição seguinte: enquanto tudo pode ser denotado só os predicados podem ser exemplificados, e, em particular, os predicados exemplificados têm que ser possuídos pela amostra-padrão exemplificadora. E assim se uma amostra-padrão A exemplifica um predicado P, então tem-se que P denota A.
As aplicações musicais da teoria de Goodman são essencial¬mente o controverso trabalho de V. A. Howard, o qual procura não só definir melhor as consequências para a estética musical da exemplificação metafórica por meio da sua teoria da “expressão musical”, como também procura alargar o âmbito da denotação musical, inicialmente considerado por Goodman como pouco significativo na música.
No que diz respeito à expressão os resultados básicos são os seguintes: um símbolo expressa só as propriedades que exemplifica metaforicamente enquanto símbolo de uma certa espécie. Assim a expressão é um subconjunto da exemplificação metafórica em que os predicados são ao mesmo tempo possuídos e referidos pela música.
A parte mais ingrata do trabalho de Howard é o da extensão da referência por denotação na obra de arte musical, onde ele acrescenta ainda, além da já mencionada denotação nominal, como no Leitmotiv, a denotação descritiva e a denotação representati¬va. Na denotação descritiva há disjunção e articulação sintáctica mas não semântica, e a Forja dos Nibelungos será um exemplo desta forma de denotação. Na denotação representativa nem sintáctica nem semanticamente há disjunção ou articulação, um exemplo da qual seria agora os Murmúrios da Floresta também da ópera Siegfried. É no seu conjunto um esquema mais atraente do que o primitivo esquema de Goodman e, como é de esperar, sujeito ao mesmo género de dificuldades.
A exposição e o tratamento dessas dificuldades — no caso de serem do todo sanáveis — terá que ficar para uma outra ocasião. Resta-me finalmente mencionar que a distinção de Frege entre Sinn e Bedeutung, entre sentido e referência, se pode realizar perfei¬ta¬mente em música e que, por consequência, também se tem que aceitar a proposição crucial de que em música o sentido de um termo não pode ser idêntico à sua referência, uma vez que também em música o mesmo objecto pode ser referido por expressões com sentidos diferentes. Só um exemplo para dar maior ressonância a esta ideia: a pessoa de Siegfried tanto é referida pelo simples Leitmotiv em compasso 3/4 exposto pela trompa, como pelo majes¬toso desenvolvimento do mesmo motivo por toda a orquestra em compasso quaternário e sem as tercinas do motivo da trompa. O sentido de ambas as expressões é completa¬mente diferente, a referência é a mesma. Chegamos assim aos limites da teoria da referência musical.
M. S. Lourenço
Universidade de Lisboa
Retirado de "A Cultura da Subtileza", de M. S. Lourenço (Lisboa: Gradiva, 1995)
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
M. S. Lourenço
Universidade de Lisboa
A discussão contemporânea na estética da música é pautada pelo debate fundamental sobre se a música é ou não uma linguagem de que só os resultados da análise conceptual desta putativa linguagem podem contribuir para a resolução dos problemas em curso na estética da música. A simples formulação do problema nestes termos implica imediatamente que a estética da música tem como uma das suas tarefas principais a formulação de uma teoria adequada da referência ou da denotação musical.
Esta expressão cobre o que é tradicionalmente denotado pela designação “representação da realidade” e assim o problema básico consiste em determinar as condições debaixo das quais se considera que a linguagem da música é capaz de representar, seja um objecto físico seja um estado interior ou psíquico.
Como a literatura sobre este problema não pára de crescer vou apresentar uma visão de conjunto das soluções propostas, distinguindo uma classe de soluções negativas de uma classe de soluções positivas, em que os nomes associados com as soluções negativas são os do fundador da moderna teoria da estética musical, Eduard Hanslick, e o de Igor Stravinsky.
As teorias que estes autores formularam podem ser contrasta¬das da seguinte forma: enquanto para o formalismo de Hanslick e dos seus continuadores os termos provenientes da psicologia, como o que usei acima ao falar de estados interiores, devem ser simplesmente eliminados e substituídos pelos termos em uso na teoria musical, para Stravinsky a eliminação não tem que ser efectuada mas tem que haver a compreensão do facto de que um estado interior ou uma emoção não pode em sentido real ser representado na obra de arte musical.
Na classe de soluções positivas encontra-se não só o chamado ouvinte médio, que está habituado a identificar o cuco na Sinfonia Pastoral, mas também no domínio da filosofia analítica Nelson Goodman e os seus seguidores, como V. A. Howard, para quem a engenhosa teoria da exemplificação de Goodman é a chave para a solução do nosso problema e, segundo eles, o estado interior ou o predicado psicológico que o refere é metaforicamente exemplifi¬cado na obra de arte musical.
Este valor que Nelson Goodman atribui ao conceito de metáfora como capaz de ser revelador da estrutura da obra de arte musical é rejeitado pelos formalistas contemporâneos, como Boretz, para quem a linguagem da teoria musical é a única capaz de ser reveladora da estrutura da obra de arte musical, embora fosse tolerado no primitivo formalismo de Hanslick, sendo a dificuldade subjacente constituída pelo facto de que uma eliminação total da metáfora é irrealizável mesmo no discurso científico e assim também na teoria musical.
Antes de proceder a um esboço das possibilidades da teoria da exemplificação de Goodman para a solução do problema tradicio¬nal da representação da realidade na obra de arte musical, não quero deixar de referir uma outra solução positiva mais antiga do que a de Goodman, uma vez que provém ainda de Charles Peirce e de Ernest Cassirer, conhecida na literatura de língua inglesa pela expressão icon sign theory, que proponho que se traduza simplesmente por teoria icónica e cujo representante contempo¬râ¬neo mais conhecido é Susanne Langer.
Os dois temas principais e recorrentes da teoria icónica são o tema da denotação e o tema da mimese ou da imitação, cujo conteúdo comparado é o seguinte: se do ponto de vista da denotação a música é tratada como um símbolo que significa ou refere afecto, estados interiores, emoções, certas percepções do tempo, do espaço e do movimento, agora do ponto de vista da mimese estes símbolos ou sinais têm um carácter icónico do processo em relação ao qual possuem uma certa forma de semelhança, quer morfológica quer quinestésica.
Num exemplo simples, o uso do predicado “triste” em relação a uma obra como a Trauermarsch do Crepúsculo dos Deuses de Wagner é justificado pela teoria icónica pelo facto de a música ouvida ser como a emoção de tristeza, em virtude da semelhança quinesté¬sica entre a música e a emoção. A música é um mapa da emoção humana e eu reconheço a emoção expressa pela Marcha Fúnebre de Siegfried em virtude da semelhança entre o mapa e a área representada por ele.
Os leitores da obra clássica de Goodman Linguagens da Arte reconhecerão imediatamente a possibilidade de refutar a teoria icónica com argumentos standard e recorrentes nessa obra: enquanto por um lado a forma sensorial ou sensível de um símbolo não implica denotação, por outro lado a semelhança também não é condição suficiente de denotação, como é provado logo no capítulo inicial de Linguagens da Arte. Assim, a representação musical não pode ser compreendida a partir de um modelo fixo e único usado para as palavras da linguagem natural ou para as imagens das artes visuais, de modo que o caminho fica por isso aberto para uma teoria específica da referência musical.
O conceito mais simples e aquele que vou usar como conceito primitivo para esboçar a teoria de Goodman é o conceito de referência, entendido como uma relação binária por meio da qual uma palavra ou uma expressão verbal designa um objecto ou um conjunto de objectos, e, conversamente, a relação por meio da qual um objecto designa uma palavra ou uma expressão verbal. Se estamos diante do primeiro caso, a forma de referência em causa é classificada por Goodman como denotação, e se estamos diante do segundo caso, a forma de referência em causa chama-se agora exemplificação. Ambas estas formas de referência são dadas na experiência e não podem por isso ser rejeitadas in limine como construções puramente formais.
A forma de denotação mais conhecida é a que é usual na teoria lógica clássica, a predicação, por meio da qual um predicado designa pela sua extensão os objectos a que se refere. Goodman consegue fazer uma extensão do conceito clássico de predicação de modo a incluir também não só a predicação verbal, a que me referi, mas também a predicação pictoral, por meio de uma imagem, a predicação gestual, recorrente no Bailado, e a predicação musical, como no Leitmotiv da ópera wagneriana.
A denotação musical é nesta teoria — e possivelmente na realidade musical — relativamente menos frequente do que a referência por exemplificação e, das duas categorias de exempli¬ficação que Goodman isola, a exemplificação literal e a exempli¬ficação metafórica, a música é melhor servida pelo conceito de exemplificação metafórica. Assim, no exemplo já mencionado, a música é triste em virtude de uma transferência metafórica, uma vez que as propriedades expressas pertencem literalmente a outro domínio. Em todo o caso as propriedades metafóricas são tão reais como as propriedades literais, de tal modo que a tristeza da Trauermarsch tem que pertencer à música de Wagner, independente¬mente da intenção do compositor e da sua recepção por parte do ouvinte.
O contraste básico da teoria de Goodman entre denotação e exemplificação é derivado da experiência corrente, a partir do comportamento ou do uso contrastante que fazemos de uma etiqueta, para denotar, e de uma amostra-padrão, para exemplificar, e assim Goodman pretende que a forma clássica do predicado é apenas um caso especial da função mais geral de etiquetar. A sua ideia geral pode ser captada na seguinte síntese: enquanto nem tudo o que refere é um predicado ou uma etiqueta, só as etiquetas ou os predicados, no entanto, denotam. No que diz respeito à música temos o resultado que do facto de um objecto ser um símbolo não se segue que seja necessariamente uma etiqueta ou um predicado, e assim a música é simbólica mas não é em geral denotativa, sendo antes exemplificativa.
Colocando-me agora no ponto de vista da teoria lógica, a exemplificação teria que ser considerada como uma subrelação da relação conversa da denotação. Uma caracterização comparada da denotação com a exemplificação dá origem à proposição seguinte: enquanto tudo pode ser denotado só os predicados podem ser exemplificados, e, em particular, os predicados exemplificados têm que ser possuídos pela amostra-padrão exemplificadora. E assim se uma amostra-padrão A exemplifica um predicado P, então tem-se que P denota A.
As aplicações musicais da teoria de Goodman são essencial¬mente o controverso trabalho de V. A. Howard, o qual procura não só definir melhor as consequências para a estética musical da exemplificação metafórica por meio da sua teoria da “expressão musical”, como também procura alargar o âmbito da denotação musical, inicialmente considerado por Goodman como pouco significativo na música.
No que diz respeito à expressão os resultados básicos são os seguintes: um símbolo expressa só as propriedades que exemplifica metaforicamente enquanto símbolo de uma certa espécie. Assim a expressão é um subconjunto da exemplificação metafórica em que os predicados são ao mesmo tempo possuídos e referidos pela música.
A parte mais ingrata do trabalho de Howard é o da extensão da referência por denotação na obra de arte musical, onde ele acrescenta ainda, além da já mencionada denotação nominal, como no Leitmotiv, a denotação descritiva e a denotação representati¬va. Na denotação descritiva há disjunção e articulação sintáctica mas não semântica, e a Forja dos Nibelungos será um exemplo desta forma de denotação. Na denotação representativa nem sintáctica nem semanticamente há disjunção ou articulação, um exemplo da qual seria agora os Murmúrios da Floresta também da ópera Siegfried. É no seu conjunto um esquema mais atraente do que o primitivo esquema de Goodman e, como é de esperar, sujeito ao mesmo género de dificuldades.
A exposição e o tratamento dessas dificuldades — no caso de serem do todo sanáveis — terá que ficar para uma outra ocasião. Resta-me finalmente mencionar que a distinção de Frege entre Sinn e Bedeutung, entre sentido e referência, se pode realizar perfei¬ta¬mente em música e que, por consequência, também se tem que aceitar a proposição crucial de que em música o sentido de um termo não pode ser idêntico à sua referência, uma vez que também em música o mesmo objecto pode ser referido por expressões com sentidos diferentes. Só um exemplo para dar maior ressonância a esta ideia: a pessoa de Siegfried tanto é referida pelo simples Leitmotiv em compasso 3/4 exposto pela trompa, como pelo majes¬toso desenvolvimento do mesmo motivo por toda a orquestra em compasso quaternário e sem as tercinas do motivo da trompa. O sentido de ambas as expressões é completa¬mente diferente, a referência é a mesma. Chegamos assim aos limites da teoria da referência musical.
M. S. Lourenço
Universidade de Lisboa
Retirado de "A Cultura da Subtileza", de M. S. Lourenço (Lisboa: Gradiva, 1995)
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
terça-feira, 24 de novembro de 2009
Caminhos do Ser, por Isabel Rosete
As viagens são múltiplas
Os caminhos diversos
Os do Ser e os do “não-Ser”
Os do Nada…
A metamorfose
E a mudança
Comandam o mundo.
O Ser não permanece mais
Na sua imutabilidade originária!
As sombras
As aparências
Ofuscam o olhar
Dos que querem ver
A essência
O miolo sedoso
De um pão bolorento…
A identidade perde-se.
Somos o mesmo rebanho!
Corremos na mesma direcção
E já nada identificamos com precisão!
A amalgama do mundo
Corre nas nossas veias…
Isabel Rosete
Os caminhos diversos
Os do Ser e os do “não-Ser”
Os do Nada…
A metamorfose
E a mudança
Comandam o mundo.
O Ser não permanece mais
Na sua imutabilidade originária!
As sombras
As aparências
Ofuscam o olhar
Dos que querem ver
A essência
O miolo sedoso
De um pão bolorento…
A identidade perde-se.
Somos o mesmo rebanho!
Corremos na mesma direcção
E já nada identificamos com precisão!
A amalgama do mundo
Corre nas nossas veias…
Isabel Rosete
NORMOSE OU ANOMALIAS DA NORMALIDADE - DEFINIÇÃO DA NORMOSE, por Pierre Weil
«Há na maioria dos nossos contemporâneos uma crença bastante enraizada. Segundo esta, tudo o que a maioria das pessoas pensa, sente, acredita ou faz, deve ser considerado como normal e por conseguinte servir de guia para o comportamento de todo mundo e mesmo de roteiro para a educação.
Certos fatos e descobertas recentes sobre origens do sofrimento e de doenças e sobretudo sobre as guerras, a violência e a destruição ecológica estão a contestar e questionar seriamente a normalidade de certas "normas" ditadas pela sociedade através dos consensos existentes.
Está se descobrindo que muitas normas sociais atuais ou passadas, levam ou levaram ao sofrimento moral ou físico ou mesmo de indivíduos, de grupos, de coletividades inteiras ou mesmo de espécies vivas.
Vamos apenas dar um exemplo entre centenas ou milhares: o do consumo de cigarros. Ainda há alguns tempos atrás era considerado normal as pessoas fumarem. Muito mais, era considerado ofensivo e mal educado pedir a alguém para deixar de fumar na sua presença. A medida que se reforçava a certeza de que o ato de fumar era lesivo à saúde podendo criar efizema e câncer pulmonar com conseqüências eventualmente letais, o fato de fumar em si começou a ser questionado sem contar o ato de fumar em público. O resultado foi que esta norma caiu por terra, sendo reforçado em certos países pela sanção legislativa.
Resolvemos adotar o termo de "Normose", para designar esta forma de comportamento visto como normal mas que na realidade é anormal. O termo foi forjado na França por Jea Yves Leloup com o qual estamos trabalhando visando estudar o assunto mais a fundo e publicar os resultados das nossas reflexões e investigações. A presente série de artigos constitui um primeiro resumo de artigos já publicados e do estado atual das nossas reflexões. Vamos em primeiro lugar definir de maneira precisa e clara o termo de Normose. Assim, além da Psicose e da Neurose o vocabulário psicopatológico foi enriquecido com a palavra normose.
1. O QUE É UMA "NORMOSE"?
Consideramos como Normose o conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela maioria de uma determinada população e que levam à sofrimentos, doenças ou mortes, em outras palavras, que são patogênicas ou letais, e são executados sem que os seus atores tenham consciência desta natureza patológica, isto é, são de natureza inconsciente.
Assim sendo para considerar um comportamento como normático, este tem que ser:
Inconsciente quanto à sua natureza patogênica.
Haver um consenso em torno da sua normalidade.
Ser patogênico ou letal.
Chegou agora o momento de descrevermos as diferentes e inúmeras espécies de normoses que encontramos nas nossas investigações. E o que será objeto da próxima parte de explanação.
2. CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS NORMOSES
O número de normoses é muito grande. Cada dia que passa descobrimos uma ou várias delas em áreas as mais inesperadas. Uma vez que assimilamos o conceito e só seu alcance se torna impossível de não ver. Muito mais; tudo se passa como se antes desta descoberta a gente tivesse sido cego. O próprio conceito se comporta como um poderoso revelador facilitando a tomada de consciência de aspectos essenciais à preservação da nossa saúde e à nossa existência.
Podemos distinguir duas grandes categorias de normoses: as normoses gerais e as normoses específicas.
As normoses gerais são as que possuem um consenso comum a praticamente toda a humanidade. E o caso por exemplo da aceitação do cigarro ou da fantasia da separatividade da qual iremos tratar daqui a pouco.
As normoses específicas tem o seu consenso restrito a determinada nação, população, grupo social ou cultural. Podemos dar como exemplo a prática do duelo entre os homens de classe nobre da Europa até o início deste século ou ainda o uso de assentos que deformam aos poucos a coluna vertebral dos passageiros da classe de motoristas.
Inúmeras outras categoria podem ser criadas em função de diversos parâmetros. Assim sendo, dentro da categoria das normoses específicas podem ser criadas inúmeras outras categorias ou subgrupos, segundo por exemplo o tipo de patologia ou de morte a que leva a normose ou ainda ao consumo de determinados produtos ou alimentos. Podemos assim falar de normoses cancerígenas, quer dizer, as que levam à patologia cancerosa. Usamos também a categoria de "normose de consumo" que inclui os inúmeros objetos e serviços prestados e que se revelam patogênicos ou letais. O objetivo do presente trabalho, sendo apenas para sensibilizar o leitor à existência da normose vamos nos limitar em dar alguns exemplos de cada uma das duas grandes categorias que acabamos de definir.
3. NORMOSES GERAIS
Vamos começar dando um exemplo de normose geral. A considerarmos como sendo a mais perversa de todas as normoses. Antes de conhecer o conceito de normose escrevemos um livro inteiro sobre ela sob o título: A neurose do Paraíso Perdido. Esta Neurose começa com uma verdadeira Normose, a qual intitulamos de "Fantasia da Separatividade". Trata-se de uma ilusão, de uma miragem, que consiste em nos perceber como separados do mundo exterior, como se não tivéssemos nenhuma relação com este. As conseqüências desta ilusão são o desenvolvimento de emoções destrutivas tais como o apego a tudo que nos dá prazer neste mundo exterior e a rejeição e raiva contra tudo que nos ameaça de dor e sofrimento. São estas as maiores causas de tensão e stress o qual leva à doenças, a sofrimentos os quais reforçam ainda mais a fantasia da separatividade. As pessoas entram assim num círculo vicioso em que repetem compulsivamente o mesmo comportamento.
Outro exemplo de normose geral que atinge toda a humanidade é a de considerar como normal o uso das guerras para resolver conflitos e desavenças entre nações. Existe até um conceito jurídico de "guerra justa" que sanciona esta normose bellígena.
Esta última normose é ainda reforçada por outra normose que faz com que os povos acreditem piamente serem proprietárias da terra que ocupam, levando demasiadamente a sério as fronteiras e os limites territoriais. Esquecem que todas as fronteiras que nascem os conflitos violentos, que seja fronteiras territoriais, ideológicas, epistemológicas, políticas ou religiosas.
O próprio sentimento de propriedade é também produto de uma normose geral. Podemos em última instância considerar-mos como proprietários de objetos que todos são constituídos de materiais provindo da terra? Somos proprietários da Terra?
Uma das causas essenciais da destruição ecológica é a normose de posse da Terra. Até muito recentemente a humanidade inteira se conduzia como se fosse proprietária da Terra, achando que podia explorá-la indefinidamente. Aliás a crença de que os recursos naturais são inesgotáveis também é uma normose geral em plena regressão.
Mais uma causa fundamental de destruição da vida no nosso Planeta é a Normose Consumista já conhecida sob o termo de Consumismo. É ela que deu ensejo ao aparecimento do novo conceito econômico de Desenvolvimento Sustentável ou melhor ainda Viável. A Normose consumista transforma a população do mundo num verdadeiro formigueiro destrutivo da vida no Planeta.
4. NORMOSES ESPECÍFICAS.
No domínio da alimentação encontramos inúmeros tipos de normoses, as quais podemos agrupar sob o termo de "Normoses Alimentares". um exemplo clássico e histórico encontramos na China quando da introdução pelos ingleses das indústrias de refinação do arroz. Começou a aparecer o Beribéri que não se manifestava entre os consumidores de arroz integral.
Nesta categoria podemos colocar todos os alimentos industrializados cancerígenos tais como os corantes alimentares e as conservas enlatadas. O consumo de açúcar refinado é uma das causas de cáries dentárias nas crianças que comem muitas balas. Uma normose específica refere-se a certos países produtores de café os quais produzem uma dependência e este produto gerando cardiopatias e excitação nervosa. Aliás nesta categoria alimentar podemos colocar todos os alimentos que praticamente todo mundo consome mas que são patogênicos. Vamos seguir alguns a título de exemplo:
Batata frita (Colesterol), Doces (Diabetes), Excesso de Sal (Hipertensão), Refrigerantes (Obesidade). Ainda dentro da categoria de normoses alimentares, convêm lembrar o consumo de álcool sob todas as suas formas de vinho, cerveja, licor, whisky, cachaça etc.... Esta normose é reforçada por inúmeros rituais: Antes da refeição tem o aperitivo, durante tem vinhos variados associados especificamente com certos tipos de pratos, depois tem o licor com café, sem contar celebrações diversas regadas com Champanhe ou fartura de cerveja. Ao longo do tempo se instalam o alcoolismo com as suas nefastas conseqüências íntimas, familiares e sociais, sem contar a cirrose hepática, o "delírium tremens" e a morte, para os que não conseguiram se moderar.
Hiper consumo de carnes, mereceria uma referência especial já que um relatório das Nações Unidas recomenda a alimentação vegetariana já que só uma diminuição de dez por cento do consumo de carne, só nos USA, permitiria com a economia realizada, alimentar em grãos toda a população faminta do Planeta. Outra Normose provindo do consumo é a do uso de carros. Embora se saiba que a poluição provocada pelo consumo de gasolina ameace a vida dos cidadãos duas vezes: através da impureza do ar e da radiação provocada pelos buracos da câmara de ozônio, a produção aumenta.
As normoses ligadas ao consumo são reforçadas pela pressão das mídias através da publicidade e da propaganda. No caso do cidadão comum há uma crença baseada em princípios democráticos de que caberia um carro para cada cidadão do mundo, o que nas condições atuais seria um verdadeiro suicídio coletivo.
Existem muitos outros tipos de normoses específicas que merecem estudos especiais. Por exemplo no domínio da ciência há uma normose materialista e mecanicista que dita comportamentos e decisões perigosas para a vida no Planeta devido a sua ligação com paradigmas ultrapassados. O mesmo acontece no campo da Medicina dominada por uma visão própria da normose da Ciência em geral. Existe uma normose comum à maioria das religiões que consiste em acreditar na sua própria superioridade sobre as demais o que leva a conflitos e mesmo a guerra. Outra normose religiosa que sustenta os fanatismos é a que consiste em se ater ao pé da letra dos textos sagrados esquecendo o espírito e a época em que forma redigidos assim como os seus aspectos de mensagens simbólicas. A descrença cientista atual em relação à existência de dimensões parapsicológicas e Transpessoal da realidade pode também ser considerado como normose levando a um credo cientista ocidental.
No domínio das relações amorosas, existe uma normose bastante destruidora do amor verdadeiro; é a normose sexual que leva milhões de seres humanos a confundir amor com sensualidade, limitando as suas relações com o outro sexo aos seus aspectos puramente genitais.
Vamos citar ainda como último exemplo uma normose educacional que podemos chamar de normose racionalista que decorre de uma deformação da Ciência no sentido do antigo paradigma racionalista newtoniano-cartesiano o qual só aceita a lógica racional e os cinco sentidos como meios de conhecer a verdade. A Educação copiou este modelo reprimindo os seus aspectos intuitivo e sentimental.
Poderíamos multiplicar os exemplos. Mas o espaço que resolvemos consagrar ao presente artigo o impede. na próxima e última parte deste trabalho vamos examinar como se procede a dissolução de uma normose estabelecendo proposições para uma Normoterapia.
5. PROPOSIÇÕES PARA UMA NORMOTERAPIA
Vamos retornar o exemplo de uma normose em franco declínio, pois isto nos permite observar como está se efetuando a normoterapia, quer dizer a dissolução da normose. Vamos retornar o exemplo da normose do fumo.
Esta normose na sua origem era específica de tribos indígenas. Se tornou uma normose geral com a conquista das Américas pelos brancos.
Numa primeira fase da normoterapia, começou a divulgação dos efeitos patogênicos e mesmo mortais do uso do cigarro. As mídias contribuíram muito, de maneira espontânea na divulgação das descobertas médicas. Estamos aqui na fase social do processo. O público e a própria imprensa começou a fazer pressão para tomar medidas legislativas. O público e a própria imprensa começou a fazer pressão para tomar medidas legislativas. O Congresso Nacional votou uma lei obrigando toda divulgação de cigarro a ser acompanhada da expressão "O ministério da Saúde adverte: O cigarro faz mal a saúde". Mas as medidas em níveis sociais não formam suficientes, apesar dos inúmeros debates pela TV reforçados por conferências médicas. Esta primeira fase de Socioterapia teve que ser reforçada por medidas no plano individual.
Com efeito no plano individual a normose se manifesta por uma neurose de dependência ao cigarro. A Socioterapia foi indispensável acrescentar a psicoterapia nas suas modalidades diversas, individuais e de grupo. Verificou-se que o próprio uso do cigarro era um modo de aliviar tensões de ordem neurótica sem contar a sua gênese que se encontra muitas vezes numa identificação com a figura masculina no caso dos meninos e numa afirmação masculina na concorrência do movimento feminista.
Isto nos coloca em contato com a relação da normose com a neurose. Tudo indica que a normose se instala na formação do superego e por identificação à ou às figuras parentais portadoras dos componentes normóticos.
A experiência do cigarro nos mostra por conseguinte que a fase socioterápica no plano social precisa ser reforçada no plano individual por medidas psicoterapeuticas. E quando fala em terapia, torna implícitos os aspectos educacionais. Isto é bastante evidente na normoterapia ecológica em franco andamento. A normoterapia tem que entrar nas escolas, nas mídias e nos departamentos de recurso humanos (outra palavra de origem normótica...).
Assim sendo a normoterapia se faz em dois níveis distintos porém correlatos.
Primeiro, no nível social podem e ou devem ser acionadas as seguintes medidas:
Pesquisa dos efeitos patogênicos e letais
Divulgação dos resultados em público pelos órgãos científicos e pelas mídias entre outros.
Ação das associações de consumidores, sindicatos e entidades de classes, fundações e outros órgãos da sociedade civil.
Pressão destes órgãos sobre o Legislativo visando elaboração e votação de leis adequadas e sobre as autoridades policiais se for julgado conveniente.
Divulgação das leis por todos os meios, visando a sua devida aplicação.
Sociodramas, dinâmica de grupo e laboratórios de sensibilização em todos os grupos ou coletividade onde for julgado conveniente inclusive desenvolvimento organizacional holístico.
Segundo, no nível individual temos que pensar em termos educacionais e terapêuticos:
Programas específicos de educação nas escolas, pelas mídias e empresas.
Psicoterapia individual e de grupo. Aqui são incluídas conforme o caso, as centenas de modalidades existentes. Convêm os psicoterapeutas terem formação ou informação sobre o assunto para ficarem atentos quando aparecem sinais de normose.
Programas educacionais para os pais e as famílias.
Com estas medidas de Normoterapia, estaremos contribuindo para uma mudança cultural indispensável no plano mundial. Temos um exemplo desta possibilidade na UNESCO cujo Diretor Geral, Frederico Maior, desencadeou um movimento mundial de transformação da Cultura de Violência em que está mergulhado o mundo, em Cultura de Paz. Por detrás desta sugestão se encontra uma verdadeira normoterapia em escala planetária.»
Pierre Weil
In, «A arte de Viver em Paz»
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
Certos fatos e descobertas recentes sobre origens do sofrimento e de doenças e sobretudo sobre as guerras, a violência e a destruição ecológica estão a contestar e questionar seriamente a normalidade de certas "normas" ditadas pela sociedade através dos consensos existentes.
Está se descobrindo que muitas normas sociais atuais ou passadas, levam ou levaram ao sofrimento moral ou físico ou mesmo de indivíduos, de grupos, de coletividades inteiras ou mesmo de espécies vivas.
Vamos apenas dar um exemplo entre centenas ou milhares: o do consumo de cigarros. Ainda há alguns tempos atrás era considerado normal as pessoas fumarem. Muito mais, era considerado ofensivo e mal educado pedir a alguém para deixar de fumar na sua presença. A medida que se reforçava a certeza de que o ato de fumar era lesivo à saúde podendo criar efizema e câncer pulmonar com conseqüências eventualmente letais, o fato de fumar em si começou a ser questionado sem contar o ato de fumar em público. O resultado foi que esta norma caiu por terra, sendo reforçado em certos países pela sanção legislativa.
Resolvemos adotar o termo de "Normose", para designar esta forma de comportamento visto como normal mas que na realidade é anormal. O termo foi forjado na França por Jea Yves Leloup com o qual estamos trabalhando visando estudar o assunto mais a fundo e publicar os resultados das nossas reflexões e investigações. A presente série de artigos constitui um primeiro resumo de artigos já publicados e do estado atual das nossas reflexões. Vamos em primeiro lugar definir de maneira precisa e clara o termo de Normose. Assim, além da Psicose e da Neurose o vocabulário psicopatológico foi enriquecido com a palavra normose.
1. O QUE É UMA "NORMOSE"?
Consideramos como Normose o conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela maioria de uma determinada população e que levam à sofrimentos, doenças ou mortes, em outras palavras, que são patogênicas ou letais, e são executados sem que os seus atores tenham consciência desta natureza patológica, isto é, são de natureza inconsciente.
Assim sendo para considerar um comportamento como normático, este tem que ser:
Inconsciente quanto à sua natureza patogênica.
Haver um consenso em torno da sua normalidade.
Ser patogênico ou letal.
Chegou agora o momento de descrevermos as diferentes e inúmeras espécies de normoses que encontramos nas nossas investigações. E o que será objeto da próxima parte de explanação.
2. CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS NORMOSES
O número de normoses é muito grande. Cada dia que passa descobrimos uma ou várias delas em áreas as mais inesperadas. Uma vez que assimilamos o conceito e só seu alcance se torna impossível de não ver. Muito mais; tudo se passa como se antes desta descoberta a gente tivesse sido cego. O próprio conceito se comporta como um poderoso revelador facilitando a tomada de consciência de aspectos essenciais à preservação da nossa saúde e à nossa existência.
Podemos distinguir duas grandes categorias de normoses: as normoses gerais e as normoses específicas.
As normoses gerais são as que possuem um consenso comum a praticamente toda a humanidade. E o caso por exemplo da aceitação do cigarro ou da fantasia da separatividade da qual iremos tratar daqui a pouco.
As normoses específicas tem o seu consenso restrito a determinada nação, população, grupo social ou cultural. Podemos dar como exemplo a prática do duelo entre os homens de classe nobre da Europa até o início deste século ou ainda o uso de assentos que deformam aos poucos a coluna vertebral dos passageiros da classe de motoristas.
Inúmeras outras categoria podem ser criadas em função de diversos parâmetros. Assim sendo, dentro da categoria das normoses específicas podem ser criadas inúmeras outras categorias ou subgrupos, segundo por exemplo o tipo de patologia ou de morte a que leva a normose ou ainda ao consumo de determinados produtos ou alimentos. Podemos assim falar de normoses cancerígenas, quer dizer, as que levam à patologia cancerosa. Usamos também a categoria de "normose de consumo" que inclui os inúmeros objetos e serviços prestados e que se revelam patogênicos ou letais. O objetivo do presente trabalho, sendo apenas para sensibilizar o leitor à existência da normose vamos nos limitar em dar alguns exemplos de cada uma das duas grandes categorias que acabamos de definir.
3. NORMOSES GERAIS
Vamos começar dando um exemplo de normose geral. A considerarmos como sendo a mais perversa de todas as normoses. Antes de conhecer o conceito de normose escrevemos um livro inteiro sobre ela sob o título: A neurose do Paraíso Perdido. Esta Neurose começa com uma verdadeira Normose, a qual intitulamos de "Fantasia da Separatividade". Trata-se de uma ilusão, de uma miragem, que consiste em nos perceber como separados do mundo exterior, como se não tivéssemos nenhuma relação com este. As conseqüências desta ilusão são o desenvolvimento de emoções destrutivas tais como o apego a tudo que nos dá prazer neste mundo exterior e a rejeição e raiva contra tudo que nos ameaça de dor e sofrimento. São estas as maiores causas de tensão e stress o qual leva à doenças, a sofrimentos os quais reforçam ainda mais a fantasia da separatividade. As pessoas entram assim num círculo vicioso em que repetem compulsivamente o mesmo comportamento.
Outro exemplo de normose geral que atinge toda a humanidade é a de considerar como normal o uso das guerras para resolver conflitos e desavenças entre nações. Existe até um conceito jurídico de "guerra justa" que sanciona esta normose bellígena.
Esta última normose é ainda reforçada por outra normose que faz com que os povos acreditem piamente serem proprietárias da terra que ocupam, levando demasiadamente a sério as fronteiras e os limites territoriais. Esquecem que todas as fronteiras que nascem os conflitos violentos, que seja fronteiras territoriais, ideológicas, epistemológicas, políticas ou religiosas.
O próprio sentimento de propriedade é também produto de uma normose geral. Podemos em última instância considerar-mos como proprietários de objetos que todos são constituídos de materiais provindo da terra? Somos proprietários da Terra?
Uma das causas essenciais da destruição ecológica é a normose de posse da Terra. Até muito recentemente a humanidade inteira se conduzia como se fosse proprietária da Terra, achando que podia explorá-la indefinidamente. Aliás a crença de que os recursos naturais são inesgotáveis também é uma normose geral em plena regressão.
Mais uma causa fundamental de destruição da vida no nosso Planeta é a Normose Consumista já conhecida sob o termo de Consumismo. É ela que deu ensejo ao aparecimento do novo conceito econômico de Desenvolvimento Sustentável ou melhor ainda Viável. A Normose consumista transforma a população do mundo num verdadeiro formigueiro destrutivo da vida no Planeta.
4. NORMOSES ESPECÍFICAS.
No domínio da alimentação encontramos inúmeros tipos de normoses, as quais podemos agrupar sob o termo de "Normoses Alimentares". um exemplo clássico e histórico encontramos na China quando da introdução pelos ingleses das indústrias de refinação do arroz. Começou a aparecer o Beribéri que não se manifestava entre os consumidores de arroz integral.
Nesta categoria podemos colocar todos os alimentos industrializados cancerígenos tais como os corantes alimentares e as conservas enlatadas. O consumo de açúcar refinado é uma das causas de cáries dentárias nas crianças que comem muitas balas. Uma normose específica refere-se a certos países produtores de café os quais produzem uma dependência e este produto gerando cardiopatias e excitação nervosa. Aliás nesta categoria alimentar podemos colocar todos os alimentos que praticamente todo mundo consome mas que são patogênicos. Vamos seguir alguns a título de exemplo:
Batata frita (Colesterol), Doces (Diabetes), Excesso de Sal (Hipertensão), Refrigerantes (Obesidade). Ainda dentro da categoria de normoses alimentares, convêm lembrar o consumo de álcool sob todas as suas formas de vinho, cerveja, licor, whisky, cachaça etc.... Esta normose é reforçada por inúmeros rituais: Antes da refeição tem o aperitivo, durante tem vinhos variados associados especificamente com certos tipos de pratos, depois tem o licor com café, sem contar celebrações diversas regadas com Champanhe ou fartura de cerveja. Ao longo do tempo se instalam o alcoolismo com as suas nefastas conseqüências íntimas, familiares e sociais, sem contar a cirrose hepática, o "delírium tremens" e a morte, para os que não conseguiram se moderar.
Hiper consumo de carnes, mereceria uma referência especial já que um relatório das Nações Unidas recomenda a alimentação vegetariana já que só uma diminuição de dez por cento do consumo de carne, só nos USA, permitiria com a economia realizada, alimentar em grãos toda a população faminta do Planeta. Outra Normose provindo do consumo é a do uso de carros. Embora se saiba que a poluição provocada pelo consumo de gasolina ameace a vida dos cidadãos duas vezes: através da impureza do ar e da radiação provocada pelos buracos da câmara de ozônio, a produção aumenta.
As normoses ligadas ao consumo são reforçadas pela pressão das mídias através da publicidade e da propaganda. No caso do cidadão comum há uma crença baseada em princípios democráticos de que caberia um carro para cada cidadão do mundo, o que nas condições atuais seria um verdadeiro suicídio coletivo.
Existem muitos outros tipos de normoses específicas que merecem estudos especiais. Por exemplo no domínio da ciência há uma normose materialista e mecanicista que dita comportamentos e decisões perigosas para a vida no Planeta devido a sua ligação com paradigmas ultrapassados. O mesmo acontece no campo da Medicina dominada por uma visão própria da normose da Ciência em geral. Existe uma normose comum à maioria das religiões que consiste em acreditar na sua própria superioridade sobre as demais o que leva a conflitos e mesmo a guerra. Outra normose religiosa que sustenta os fanatismos é a que consiste em se ater ao pé da letra dos textos sagrados esquecendo o espírito e a época em que forma redigidos assim como os seus aspectos de mensagens simbólicas. A descrença cientista atual em relação à existência de dimensões parapsicológicas e Transpessoal da realidade pode também ser considerado como normose levando a um credo cientista ocidental.
No domínio das relações amorosas, existe uma normose bastante destruidora do amor verdadeiro; é a normose sexual que leva milhões de seres humanos a confundir amor com sensualidade, limitando as suas relações com o outro sexo aos seus aspectos puramente genitais.
Vamos citar ainda como último exemplo uma normose educacional que podemos chamar de normose racionalista que decorre de uma deformação da Ciência no sentido do antigo paradigma racionalista newtoniano-cartesiano o qual só aceita a lógica racional e os cinco sentidos como meios de conhecer a verdade. A Educação copiou este modelo reprimindo os seus aspectos intuitivo e sentimental.
Poderíamos multiplicar os exemplos. Mas o espaço que resolvemos consagrar ao presente artigo o impede. na próxima e última parte deste trabalho vamos examinar como se procede a dissolução de uma normose estabelecendo proposições para uma Normoterapia.
5. PROPOSIÇÕES PARA UMA NORMOTERAPIA
Vamos retornar o exemplo de uma normose em franco declínio, pois isto nos permite observar como está se efetuando a normoterapia, quer dizer a dissolução da normose. Vamos retornar o exemplo da normose do fumo.
Esta normose na sua origem era específica de tribos indígenas. Se tornou uma normose geral com a conquista das Américas pelos brancos.
Numa primeira fase da normoterapia, começou a divulgação dos efeitos patogênicos e mesmo mortais do uso do cigarro. As mídias contribuíram muito, de maneira espontânea na divulgação das descobertas médicas. Estamos aqui na fase social do processo. O público e a própria imprensa começou a fazer pressão para tomar medidas legislativas. O público e a própria imprensa começou a fazer pressão para tomar medidas legislativas. O Congresso Nacional votou uma lei obrigando toda divulgação de cigarro a ser acompanhada da expressão "O ministério da Saúde adverte: O cigarro faz mal a saúde". Mas as medidas em níveis sociais não formam suficientes, apesar dos inúmeros debates pela TV reforçados por conferências médicas. Esta primeira fase de Socioterapia teve que ser reforçada por medidas no plano individual.
Com efeito no plano individual a normose se manifesta por uma neurose de dependência ao cigarro. A Socioterapia foi indispensável acrescentar a psicoterapia nas suas modalidades diversas, individuais e de grupo. Verificou-se que o próprio uso do cigarro era um modo de aliviar tensões de ordem neurótica sem contar a sua gênese que se encontra muitas vezes numa identificação com a figura masculina no caso dos meninos e numa afirmação masculina na concorrência do movimento feminista.
Isto nos coloca em contato com a relação da normose com a neurose. Tudo indica que a normose se instala na formação do superego e por identificação à ou às figuras parentais portadoras dos componentes normóticos.
A experiência do cigarro nos mostra por conseguinte que a fase socioterápica no plano social precisa ser reforçada no plano individual por medidas psicoterapeuticas. E quando fala em terapia, torna implícitos os aspectos educacionais. Isto é bastante evidente na normoterapia ecológica em franco andamento. A normoterapia tem que entrar nas escolas, nas mídias e nos departamentos de recurso humanos (outra palavra de origem normótica...).
Assim sendo a normoterapia se faz em dois níveis distintos porém correlatos.
Primeiro, no nível social podem e ou devem ser acionadas as seguintes medidas:
Pesquisa dos efeitos patogênicos e letais
Divulgação dos resultados em público pelos órgãos científicos e pelas mídias entre outros.
Ação das associações de consumidores, sindicatos e entidades de classes, fundações e outros órgãos da sociedade civil.
Pressão destes órgãos sobre o Legislativo visando elaboração e votação de leis adequadas e sobre as autoridades policiais se for julgado conveniente.
Divulgação das leis por todos os meios, visando a sua devida aplicação.
Sociodramas, dinâmica de grupo e laboratórios de sensibilização em todos os grupos ou coletividade onde for julgado conveniente inclusive desenvolvimento organizacional holístico.
Segundo, no nível individual temos que pensar em termos educacionais e terapêuticos:
Programas específicos de educação nas escolas, pelas mídias e empresas.
Psicoterapia individual e de grupo. Aqui são incluídas conforme o caso, as centenas de modalidades existentes. Convêm os psicoterapeutas terem formação ou informação sobre o assunto para ficarem atentos quando aparecem sinais de normose.
Programas educacionais para os pais e as famílias.
Com estas medidas de Normoterapia, estaremos contribuindo para uma mudança cultural indispensável no plano mundial. Temos um exemplo desta possibilidade na UNESCO cujo Diretor Geral, Frederico Maior, desencadeou um movimento mundial de transformação da Cultura de Violência em que está mergulhado o mundo, em Cultura de Paz. Por detrás desta sugestão se encontra uma verdadeira normoterapia em escala planetária.»
Pierre Weil
In, «A arte de Viver em Paz»
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
Da Educação Filosófica - I, por Isabel Rosete
"Não seria mau que se tornassem a mostrar as almas e que a filosofia deixasse de ser apenas uma disciplina ensinável para voltar a constituir um engrandecimento e uma razão de vida."
Movendo-nos, ainda, no seio dos múltiplos desafios colocados nas últimas três décadas do passado milénio e na crista de tempos de imperativa mudança e inovação educacional, é inevitável caminharmos para uma educação aberta, para além dos disparates legislativos que diariamente assombram a mente dos profissionais da Educação, sem freios políticos ou demagógicos apenas veiculados pelo suposto rigor estatístico de um sucesso escolar fantasiado, quer no que concerne aos conteúdos programáticos, objectivos e métodos, quer no que diz respeito à diversificação dos agentes e práticas das educativas.
Urge a consciencialização crescente e insistente de que a Educação – no seu sentido mais amplo, quer dizer, enquanto formação global da Humanidade – não se deve restringir à estreita concepção de escolaridade, nem tão pouco confundir-se com a mera instrução. Estas distinções conceptuais tornam-se absolutamente necessárias para erguer os fundamentos de uma reflexão séria sobre a educação filosófica e, por extensão, sobre a didáctica da Filosofia, naturalmente singular, em virtude da especificidade desta área do saber jamais redutível ao conceito de “Disciplina”, tal como vulgarmente o entendemos quando nos referimos, por exemplo, à História, à Geografia ou à Matemática.
Não obstante a questão filosoficamente controversa da existência ou não de uma Didáctica exclusiva da Filosofia – alvo de um intenso e polémico debate entre os defensores da sua legitimidade e urgência e aqueles que perspectivam, de um modo assaz suspeito, a aproximação desta, bem como do seu ensino, às denominadas Ciências da Educação – friso, desde já e sem qualquer espécie de reservas, que a Filosofia é, em si mesma, uma pedagogia e uma didáctica e, enquanto tal, o alicerce estrutural das mais variadíssimas formas que envolvam todos os processos de ensino-aprendizagem, quer nos situemos nos domínios da ciências naturais, quer no âmbito das ciências humanas.
Com os antigos gregos aprendemos – e até hoje essa tese ainda não foi refutada – que a Filosofia compreende, na sua essência, os princípios orientadores do seu peculiar exercício comunicativo, os mais sólidos alicerces das suas estratégias de ensinabilidade, as estratégias adequadas para a gestão equilibrada do processo de ensino-aprendizagem, sejam quais forem os conteúdos que a integram, tão vastos quanto ela própria, onde comungam, mais directa ou indirectamente, todas a as ciências que dela nasceram, hoje e sempre, em sangue e alma. Aliás, correria talvez melhor o mundo se as escolas de existência filosófica agissem como um fermento, fossem a guarda da pura ideia, dessem um exemplo de ascetismo, de tenacidade na calma recusa da boa posição, de alegria na pobreza de sempre desperta actividade no ataque de todas as atitudes e doutrinas que significassem diminuição do espírito, ao mesmo tempo se recusando a exercer todo o domínio que não viesse da adesão.
Se atentarmos nas sábias palavras do mestre Agostinho da Silva, também ele filósofo e filosofante, facilmente compreenderemos que o caminho da “Vida Filosófica”, o caminho do Professor de Filosofia e de todos os outros que concebem a arte de bem ensinar como uma das mais nobres missões que alguns eleitos têm a seu cargo, facilmente compreenderemos que a educação filosófica é a base estrutural de todos os processos educativos, porque indica aos outros o rumo ascensional da vida, não deixando que jamais se quebrasse o ténue fio que através de todos os labirintos a humanidade tem seguido na sua marcha para Deus.
Não tomamos a Filosofia, a educação filosófica, que a limite são o mesmo, nem como uma vagabundagem dos espíritos em estado de ócio (mesmo que este seja necessário para se fazer Filosofia), nem como um mero entretenimento literário das mentes vagantes ou como um modo de especulação esquizofrénica, completamente afastado disso a que se chama realidade, nem, muito menos, como um puro subjectivismo de mentes autistas enredadas em mundos virtuais que nada nos dizem da Vida, do Homem, da Natureza e do Universo.
É preciso registar, veementemente, que a Filosofia não cheira a mofo; que a Filosofa não está encafuada no baú apinhado de teias de aranha e de bolas de naftalina, num canto qualquer, do empoeirado sótão dos nossos avós, onde permanecem, lançados, os objectos em desuso.
A Filosofia, a educação filosófica, não é apenas uma das “Belas Artes” encantatórias perante os olhos ávidos de saber, os ouvidos sedentos de um discurso bem elaborado, sonante que paira nos domínios da meta-fíca. Mesmo também assim sendo, a Filosofia, a educação filosófica, é a Vida em todas as suas dimensões, des-veladas ou ocultas; é e está em cada um de nós, seres racionais, sempre que pensamos, ajuizamos, reflectimos ou dissertamos com Espírito Crítico, com esse prazer particular do discernimento as causas, os princípios, que por detrás dos fenómenos se escondem, seja qual for a sua estirpe ou natureza; a Filosofia é um modo peculiar de ver o mundo, de o questionar, pondo-o em dúvida, à prova, sempre com o intuito de chegar à origem, à essência, à raiz, das coisas-mesmas na sua singeleza originária, pelas quais passamos diariamente sem darmos conta da sua existência, e, sobretudo, do modo como existem e são, para além das aparências, das máscaras, dos véus, dos preconceitos que ludibriam as mentes menos atentas, baralhadas nesse frenesim quotidiano que nos esconde a Verdade e a Realidade.
Se a educação filosófica é o motor quase sistemático da problematização do óbvio e do meramente pressuposto ou passível de constatação, também é, em plena simultaneidade, o agente, em permanente activação, de um conjunto de respostas possíveis, ou até mesmo de soluções, assim nos mostra a história da Filosofia, de soluções viáveis para a resolução possível dos múltiplos problemas existenciais que a humanidade vivencia, na maioria das vezes, de uma forma alheada e alienada. Cada sistema filosófico é tão-só uma resposta logicamente organizada, que parte do homem para servir o Homem. É neste sentido que devemos entender a tese de Descartes: viver sem filosofa é
Não obstante o desenlaçar da fundamentação anterior, afigura-se-nos indubitável a necessidade de conferir ao ensino da Filosofia a Didáctica de que ela por si mesma requerer, a qual deverá ser edificada, sempre e inevitavelmente, a partir do seu próprio interior: a melhor formação pedagógica de um professor de filosofia será, e quiçá irredutivelmente, uma sólida formação filosófica. Isto não significa afirmar a absoluta diferenciação disciplinar da Filosofia, nem tão-só a sua tecnicidade. Mas, antes de mais, indica-nos que a formação de filósofos, ou se preferirmos, de ensinantes de Filosofia, deve entender-se como formação de profissionais legítimos, em oposição a qualquer tipo de amadorismo, naturalmente, repugnante.
A Filosofia afirmou-se ontem, e afirma-se hoje, cada vez mais, mesmo por entre aqueles que a negam, ou simplesmente desprezam. A educação filosófica entra, amiúde, nos domínios do necessário, porque os Filósofos, esses etrenos amantes da Sabedoria sem discriminação, jamais ignoram como os homens são feitos, embora sejam mais "ligeiros do que os anjos" e nunca experimentem a necessidade de caminhar entre os mortais bicéfalos, de mentes tão errantes como as aves migratórias, sem pousio certo, sem lugar propriamente determinado, neste Mundo em irremediável con-fusão.
Isabel Rosete
Movendo-nos, ainda, no seio dos múltiplos desafios colocados nas últimas três décadas do passado milénio e na crista de tempos de imperativa mudança e inovação educacional, é inevitável caminharmos para uma educação aberta, para além dos disparates legislativos que diariamente assombram a mente dos profissionais da Educação, sem freios políticos ou demagógicos apenas veiculados pelo suposto rigor estatístico de um sucesso escolar fantasiado, quer no que concerne aos conteúdos programáticos, objectivos e métodos, quer no que diz respeito à diversificação dos agentes e práticas das educativas.
Urge a consciencialização crescente e insistente de que a Educação – no seu sentido mais amplo, quer dizer, enquanto formação global da Humanidade – não se deve restringir à estreita concepção de escolaridade, nem tão pouco confundir-se com a mera instrução. Estas distinções conceptuais tornam-se absolutamente necessárias para erguer os fundamentos de uma reflexão séria sobre a educação filosófica e, por extensão, sobre a didáctica da Filosofia, naturalmente singular, em virtude da especificidade desta área do saber jamais redutível ao conceito de “Disciplina”, tal como vulgarmente o entendemos quando nos referimos, por exemplo, à História, à Geografia ou à Matemática.
Não obstante a questão filosoficamente controversa da existência ou não de uma Didáctica exclusiva da Filosofia – alvo de um intenso e polémico debate entre os defensores da sua legitimidade e urgência e aqueles que perspectivam, de um modo assaz suspeito, a aproximação desta, bem como do seu ensino, às denominadas Ciências da Educação – friso, desde já e sem qualquer espécie de reservas, que a Filosofia é, em si mesma, uma pedagogia e uma didáctica e, enquanto tal, o alicerce estrutural das mais variadíssimas formas que envolvam todos os processos de ensino-aprendizagem, quer nos situemos nos domínios da ciências naturais, quer no âmbito das ciências humanas.
Com os antigos gregos aprendemos – e até hoje essa tese ainda não foi refutada – que a Filosofia compreende, na sua essência, os princípios orientadores do seu peculiar exercício comunicativo, os mais sólidos alicerces das suas estratégias de ensinabilidade, as estratégias adequadas para a gestão equilibrada do processo de ensino-aprendizagem, sejam quais forem os conteúdos que a integram, tão vastos quanto ela própria, onde comungam, mais directa ou indirectamente, todas a as ciências que dela nasceram, hoje e sempre, em sangue e alma. Aliás, correria talvez melhor o mundo se as escolas de existência filosófica agissem como um fermento, fossem a guarda da pura ideia, dessem um exemplo de ascetismo, de tenacidade na calma recusa da boa posição, de alegria na pobreza de sempre desperta actividade no ataque de todas as atitudes e doutrinas que significassem diminuição do espírito, ao mesmo tempo se recusando a exercer todo o domínio que não viesse da adesão.
Se atentarmos nas sábias palavras do mestre Agostinho da Silva, também ele filósofo e filosofante, facilmente compreenderemos que o caminho da “Vida Filosófica”, o caminho do Professor de Filosofia e de todos os outros que concebem a arte de bem ensinar como uma das mais nobres missões que alguns eleitos têm a seu cargo, facilmente compreenderemos que a educação filosófica é a base estrutural de todos os processos educativos, porque indica aos outros o rumo ascensional da vida, não deixando que jamais se quebrasse o ténue fio que através de todos os labirintos a humanidade tem seguido na sua marcha para Deus.
Não tomamos a Filosofia, a educação filosófica, que a limite são o mesmo, nem como uma vagabundagem dos espíritos em estado de ócio (mesmo que este seja necessário para se fazer Filosofia), nem como um mero entretenimento literário das mentes vagantes ou como um modo de especulação esquizofrénica, completamente afastado disso a que se chama realidade, nem, muito menos, como um puro subjectivismo de mentes autistas enredadas em mundos virtuais que nada nos dizem da Vida, do Homem, da Natureza e do Universo.
É preciso registar, veementemente, que a Filosofia não cheira a mofo; que a Filosofa não está encafuada no baú apinhado de teias de aranha e de bolas de naftalina, num canto qualquer, do empoeirado sótão dos nossos avós, onde permanecem, lançados, os objectos em desuso.
A Filosofia, a educação filosófica, não é apenas uma das “Belas Artes” encantatórias perante os olhos ávidos de saber, os ouvidos sedentos de um discurso bem elaborado, sonante que paira nos domínios da meta-fíca. Mesmo também assim sendo, a Filosofia, a educação filosófica, é a Vida em todas as suas dimensões, des-veladas ou ocultas; é e está em cada um de nós, seres racionais, sempre que pensamos, ajuizamos, reflectimos ou dissertamos com Espírito Crítico, com esse prazer particular do discernimento as causas, os princípios, que por detrás dos fenómenos se escondem, seja qual for a sua estirpe ou natureza; a Filosofia é um modo peculiar de ver o mundo, de o questionar, pondo-o em dúvida, à prova, sempre com o intuito de chegar à origem, à essência, à raiz, das coisas-mesmas na sua singeleza originária, pelas quais passamos diariamente sem darmos conta da sua existência, e, sobretudo, do modo como existem e são, para além das aparências, das máscaras, dos véus, dos preconceitos que ludibriam as mentes menos atentas, baralhadas nesse frenesim quotidiano que nos esconde a Verdade e a Realidade.
Se a educação filosófica é o motor quase sistemático da problematização do óbvio e do meramente pressuposto ou passível de constatação, também é, em plena simultaneidade, o agente, em permanente activação, de um conjunto de respostas possíveis, ou até mesmo de soluções, assim nos mostra a história da Filosofia, de soluções viáveis para a resolução possível dos múltiplos problemas existenciais que a humanidade vivencia, na maioria das vezes, de uma forma alheada e alienada. Cada sistema filosófico é tão-só uma resposta logicamente organizada, que parte do homem para servir o Homem. É neste sentido que devemos entender a tese de Descartes: viver sem filosofa é
Não obstante o desenlaçar da fundamentação anterior, afigura-se-nos indubitável a necessidade de conferir ao ensino da Filosofia a Didáctica de que ela por si mesma requerer, a qual deverá ser edificada, sempre e inevitavelmente, a partir do seu próprio interior: a melhor formação pedagógica de um professor de filosofia será, e quiçá irredutivelmente, uma sólida formação filosófica. Isto não significa afirmar a absoluta diferenciação disciplinar da Filosofia, nem tão-só a sua tecnicidade. Mas, antes de mais, indica-nos que a formação de filósofos, ou se preferirmos, de ensinantes de Filosofia, deve entender-se como formação de profissionais legítimos, em oposição a qualquer tipo de amadorismo, naturalmente, repugnante.
A Filosofia afirmou-se ontem, e afirma-se hoje, cada vez mais, mesmo por entre aqueles que a negam, ou simplesmente desprezam. A educação filosófica entra, amiúde, nos domínios do necessário, porque os Filósofos, esses etrenos amantes da Sabedoria sem discriminação, jamais ignoram como os homens são feitos, embora sejam mais "ligeiros do que os anjos" e nunca experimentem a necessidade de caminhar entre os mortais bicéfalos, de mentes tão errantes como as aves migratórias, sem pousio certo, sem lugar propriamente determinado, neste Mundo em irremediável con-fusão.
Isabel Rosete
Da Educação Filosófica – Parte II, por Isabel Rosete
Da Educação Filosófica – Parte II
Independentemente de aderirmos ou não à questão que indaga sobre a problemática da existência de uma didáctica específica para a disciplina de Filosofia no Ensino Secundário, não concebo esta área de abordagem senão enquanto fundamentada no âmbito da Filosofia da Educação, quer dizer, no espaço de emergência da reflexão de uma concepção de educação, de ensino e de aprendizagem, de aluno e de professor, enquadrada no âmbito geral de uma concepção globaliza de Sociedade e de Humanidade.
É preciso criar uma cultura nova que veja a própria escola como o seu produto e produtor directo. Só uma interacção deste tipo poderá ser frutífera face às ambições do mundo actual, cujo motor de desenvolvimento se centra, cada vez mais, no tipo e nível de educação a ministrar aos seus membros.
O que se pretende, então? Dar aos espíritos (dos aprendizes de filósofo que, em última instância, somos todos nós), a capacidade de um contínuo desenvolvimento, de molde a aperfeiçoar a sociedade em que vivemos na sua Humanitas. Estes dois objectivos reduzem-se, afinal, à mesma ideia: “porque desenvolver os indivíduos é aperfeiçoar a sociedade, e porque do carácter da sociedade depende, por sua vez, o desenvolvimento dos indivíduos", como afirma António Sérgio, nos seus Ensaios I[1].
A educação, todos o sabemos, começa na família, passa pela escola, embora não termine neste domínio institucional, mas no meio sócio-cultural em que o aluno se circunscreve, num continuum processo de socialização.
Faço, por isso, a apologia de uma noção progressiva de educação, fundada na ideia de uma estreita conformidade entre as capacidades intelectuais do aluno e os ensinamentos ministrados, de modo a evitar o obscurecimento da ordem natural do educando, cuja estrutura intelectual deve ser devida e dignamente respeitada, ao mesmo tempo que salvaguardada em todo o seu processo evolutivo. Esta ideia permite-nos ultrapassar a concepção estática da educação, em defesa de uma perspectiva educativa que prima pela dinamicidade, pelo contínuo porque, antes de mais, o saber é algo que se vai construindo ou per-fazendo ao longo da existência de cada ser humano, e não uma instância que esteja pautada por uma rigidez absoluta, apriorística e definitivamente elaborada: aprender é inventar ou reconstruir por invenção.
Como sublinha Kant – filósofo que muito prezo no que concerne a assuntos desta natureza – o aluno não deve "aprender pensamentos, mas aprender a pensar; não se deve levá-lo, mas guiá-lo, se se pretende que no futuro seja capaz de caminhar por si mesmo (...). É uma maneira de ensinar deste tipo que exige a natureza peculiar da filosofia. O adolescente que saiu da instrução escolar estava habituado a aprender. Agora, ele pensa que vai aprender Filosofia, o que é, porém, impossível, porque agora ele tem de aprender a filosofar”.[2]
Para se aprender Filosofia, considera ainda Kant, era necessário que existisse realmente uma, concebida à maneira de uma disciplina acabada, perante a qual pudéssemos dizer: eis aqui a Filosofia; aqui está a sabedoria e o critério seguro para a sua cabal aprendizagem.
Não obstante a legitimidade da polémica questão kantiana – assim compreendida mediante as características da sua época, e obviamente defensável mediante um certo ponto de vista, que não nos cabe agora discutir – afirmo, sem reservas, a possibilidade inegável do ensino da Filosofia, pelo menos enquanto postura existencial perante o Mundo, enquanto uma forma específica de mundivisão.
Cada filósofo estudado, que serve de base ou de ponto de partida para tal ensinabilidade, embora jamais deva ser considerado como modelo absoluto de um qualquer juízo emerge, no entanto, como uma das grandes oportunidades para cada qual – professor e aluno – pronunciar um juízo sobre ele, ou até mesmo contra ele, ao mesmo tempo que proporciona, pelo método de reflectir por si mesmo, o despoletar de um pensar que é capaz de produzir autonomamente uma certa interpretação indicadora do caminho a seguir enquanto “ser-lançado” no Mundo.
Nesta perspectiva, a Filosofia, enquanto disciplina integradora do curriculum do Ensino Secundário, surgiria como um domínio essencialmente reflexivo, como uma espécie de "higiene mental", que permitiria ajudar os alunos a situarem-se no espaço e no tempo que são efectivamente os seus.
A educação filosófica torna-se um processo de auto-construção-guiada, reservando-se para o pedagogo o papel de orientador, de formador ou "modelador" de uma matéria, que não obstante todos os germens potenciais que intrinsecamente a compõem, ainda se encontra de certo modo desenformada.
O professor de Filosofia não pode ser mais o simples conferenciador; não pode mais contentar-se em debitar soluções previamente resolvidas, devendo situar-se, ao invés, num espaço de abertura e de flexibilidade que o direccionem ao concretamente vivido. Deve mover-se numa esfera que alargue o restrito espaço da sala de aula não só à comunidade, mas ao Mundo, pois o alargamento das fronteiras da escola exige um correspondente alargamento das fronteiras do professor e da sua metodologia de ensino.
Esta mudança não é apenas o resultado calculável ou previsível do novo conceito de escola que agora se impõe – a escola-comunidade-educativa –, mas quiçá o resultado mais imediato das exigências que o actual corpo discente coloca imperativamente a cada instante, jamais de olhos vendados perante o “magistral” e irrepreensível saber do professor. Os alunos de hoje, contrariamente aos alunos de ontem, dispõem, sem qualquer espécie de freios, de meios de informação que lhe oferecem gratuitamente, de um modo fácil e diversificado, o conhecimento.
O aluno de hoje jamais poderá ser encarado como um escravo do mestre, como aquele que se limita a escutar e a repetir as "verdades" proferidas por este. Muito pelo contrário: deverá ser convidado a substituir a postura passiva em que geralmente era colocado pelo "ensino tradicional", por uma participação activa e criativa, que fará dele um elemento realmente interveniente no processo de ensino-aprendizagem, pelo exercício pleno da sua liberdade e responsabilização correspondente.
A educação não pressupõe, propriamente falando, a introdução de algo novo, mas o fazer desabrochar do já existente. Esta ideia aproxima-nos, em grande medida, da metodologia socrática – relativamente à qual manifesto também a minha preferência, em virtude da sua pragmaticidade – por oposição aos tradicionais métodos "caquécticos" que introduzem a mecanização nas jovens mentes em formação.
Como o que interessa desenvolver no aluno é a razão prática reflexionante, e não a razão meramente especulativa, e como verificamos que cada indivíduo aprende, ou seja, retém mais facilmente e de um modo mais sólido o "manancial teórico" que extrai de si próprio, deveremos proceder socraticamente na educação da razão.
Sócrates, que se nomeia "parteiro" dos conhecimentos dos seus interlocutores, por ajudar a "dar à luz" os conhecimentos que latentemente se encontram nas suas almas adormecidas, hoje cada vez mais proliferantes, dá-nos vários exemplos do modo como podemos conduzir os alunos a extrair muitas coisas do seu próprio intelecto.
Trata-se de um método investigativo, progressivo e não dogmático, naturalmente estimulador da capacidade intelectual dos alunos, da sua actividade e espontaneidade, através do qual são chamados a reinventar a verdade que é necessário assimilar.
Na aula de Filosofia não há modelos a seguir, mas pistas indicadoras que se destinam a promover uma busca contínua, sobre as quais é susceptível exercerem-se juízos pessoais que não obedecem, necessariamente, aos cânones estabelecidos pela exterioridade. O professor de filosofia deve entender a educação, de que é um condutor privilegiado, como um processo interior progressivamente realizado mediante as potencialidades que comandam a ordem natural do educando.
A educação visada pela Filosofia deverá encontrar na natureza a sua justificação e razão de ser: a educação consuma aquilo que a natureza deu ao homem como gérmen e possibilidade; é o cumprimento supremo e aperfeiçoado da natureza. É precisamente neste sentido que devemos interpretar a tese que afirma "que o homem só se pode tornar homem peia educação", pois "ele não é senão o que a educação faz por ele”[3]. Urge, pois, trabalhar no plano de uma educação conforme aos princípios humanos, legando à posteridade as instituições fundamentais que permitirão a sua realização plena.
Não deveremos encarar esta ideia como quimérica ou simplesmente rejeitá-Ia por a considerarmos como um belo sonho minado pela utopicidade de um ideal meramente inalcançável, mesmo se encontrarmos obstáculos que se oponham à sua consumação, pois uma ideia não é senão o conceito de uma perfeição que não está ainda concretizada na experiência.
A ideia da existência de uma educação que desenvolva plenamente todas as disposições naturais do homem é certamente verídica, e a humanidade presente e futura deve canalizar todos os esforços para levar a cabo este brilhante e necessário ideal.
A educação deve compreender o indivíduo no seio do progresso geral da humanidade, de modo a fazer dele um homem do futuro, um elemento intrinsecamente pertencente ao conjunto de gerações que ocuparão o palco da História vindoura: é em vista do futuro, em vista do progresso parcial que cada indivíduo pode representar, que devemos educar os nossos alunos. O futuro será sempre certamente o critério de todas as nossas aspirações educacionais.
A educação, tal como a filosofia da história, descobre um outro tempo, uma outra temporalidade. Não é em função do passado que se constrói o presente, mas sim em função do futuro. A escola dever-se-á fundar sobre a ideia de humanidade e da sua destinação total, concretizada pela visão de um futuro possível e melhor, pois o tempo da educação não é o tempo do ser mas o tempo do dever-ser; o seu fundamento originário é a fé no futuro, como princípio e norma orientadora do presente.
Caberá à educação do futuro concretizar o ideal da Aufklärung (Iluminismo), para o qual nos devemos direccionar desde já, que consiste em extirpar o homem da menoridade de que é culpado, quer dizer, da "incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem", e despertá-lo para a maioridade, para a conquista da sua própria autonomia e liberdade, para a libertação da razão que se pretende que seja devidamente esclarecida[4]. Eis os grandes objectivos a concretizar na aula de Filosofia.
________________________________________
[1] António Sérgio, Ensaios, Tomo VII, p. 225.
[2] Kant, Informação Acerca da Orientação dos seus Cursos no Semestre do Inverno de 1765 – 1766, in Filosofia, Publicação Periódica da Sociedade Portuguesa de Filosofia, Vol. 11 - N° 1/2 – Primavera/88.
[3] Kant, Reflexões sobre a Educação, p.73.
[4] Kant, Resposta à Pergunta: O que é o Iluminismo?, in A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, pp. 11-19.
Isabel Rosete
Independentemente de aderirmos ou não à questão que indaga sobre a problemática da existência de uma didáctica específica para a disciplina de Filosofia no Ensino Secundário, não concebo esta área de abordagem senão enquanto fundamentada no âmbito da Filosofia da Educação, quer dizer, no espaço de emergência da reflexão de uma concepção de educação, de ensino e de aprendizagem, de aluno e de professor, enquadrada no âmbito geral de uma concepção globaliza de Sociedade e de Humanidade.
É preciso criar uma cultura nova que veja a própria escola como o seu produto e produtor directo. Só uma interacção deste tipo poderá ser frutífera face às ambições do mundo actual, cujo motor de desenvolvimento se centra, cada vez mais, no tipo e nível de educação a ministrar aos seus membros.
O que se pretende, então? Dar aos espíritos (dos aprendizes de filósofo que, em última instância, somos todos nós), a capacidade de um contínuo desenvolvimento, de molde a aperfeiçoar a sociedade em que vivemos na sua Humanitas. Estes dois objectivos reduzem-se, afinal, à mesma ideia: “porque desenvolver os indivíduos é aperfeiçoar a sociedade, e porque do carácter da sociedade depende, por sua vez, o desenvolvimento dos indivíduos", como afirma António Sérgio, nos seus Ensaios I[1].
A educação, todos o sabemos, começa na família, passa pela escola, embora não termine neste domínio institucional, mas no meio sócio-cultural em que o aluno se circunscreve, num continuum processo de socialização.
Faço, por isso, a apologia de uma noção progressiva de educação, fundada na ideia de uma estreita conformidade entre as capacidades intelectuais do aluno e os ensinamentos ministrados, de modo a evitar o obscurecimento da ordem natural do educando, cuja estrutura intelectual deve ser devida e dignamente respeitada, ao mesmo tempo que salvaguardada em todo o seu processo evolutivo. Esta ideia permite-nos ultrapassar a concepção estática da educação, em defesa de uma perspectiva educativa que prima pela dinamicidade, pelo contínuo porque, antes de mais, o saber é algo que se vai construindo ou per-fazendo ao longo da existência de cada ser humano, e não uma instância que esteja pautada por uma rigidez absoluta, apriorística e definitivamente elaborada: aprender é inventar ou reconstruir por invenção.
Como sublinha Kant – filósofo que muito prezo no que concerne a assuntos desta natureza – o aluno não deve "aprender pensamentos, mas aprender a pensar; não se deve levá-lo, mas guiá-lo, se se pretende que no futuro seja capaz de caminhar por si mesmo (...). É uma maneira de ensinar deste tipo que exige a natureza peculiar da filosofia. O adolescente que saiu da instrução escolar estava habituado a aprender. Agora, ele pensa que vai aprender Filosofia, o que é, porém, impossível, porque agora ele tem de aprender a filosofar”.[2]
Para se aprender Filosofia, considera ainda Kant, era necessário que existisse realmente uma, concebida à maneira de uma disciplina acabada, perante a qual pudéssemos dizer: eis aqui a Filosofia; aqui está a sabedoria e o critério seguro para a sua cabal aprendizagem.
Não obstante a legitimidade da polémica questão kantiana – assim compreendida mediante as características da sua época, e obviamente defensável mediante um certo ponto de vista, que não nos cabe agora discutir – afirmo, sem reservas, a possibilidade inegável do ensino da Filosofia, pelo menos enquanto postura existencial perante o Mundo, enquanto uma forma específica de mundivisão.
Cada filósofo estudado, que serve de base ou de ponto de partida para tal ensinabilidade, embora jamais deva ser considerado como modelo absoluto de um qualquer juízo emerge, no entanto, como uma das grandes oportunidades para cada qual – professor e aluno – pronunciar um juízo sobre ele, ou até mesmo contra ele, ao mesmo tempo que proporciona, pelo método de reflectir por si mesmo, o despoletar de um pensar que é capaz de produzir autonomamente uma certa interpretação indicadora do caminho a seguir enquanto “ser-lançado” no Mundo.
Nesta perspectiva, a Filosofia, enquanto disciplina integradora do curriculum do Ensino Secundário, surgiria como um domínio essencialmente reflexivo, como uma espécie de "higiene mental", que permitiria ajudar os alunos a situarem-se no espaço e no tempo que são efectivamente os seus.
A educação filosófica torna-se um processo de auto-construção-guiada, reservando-se para o pedagogo o papel de orientador, de formador ou "modelador" de uma matéria, que não obstante todos os germens potenciais que intrinsecamente a compõem, ainda se encontra de certo modo desenformada.
O professor de Filosofia não pode ser mais o simples conferenciador; não pode mais contentar-se em debitar soluções previamente resolvidas, devendo situar-se, ao invés, num espaço de abertura e de flexibilidade que o direccionem ao concretamente vivido. Deve mover-se numa esfera que alargue o restrito espaço da sala de aula não só à comunidade, mas ao Mundo, pois o alargamento das fronteiras da escola exige um correspondente alargamento das fronteiras do professor e da sua metodologia de ensino.
Esta mudança não é apenas o resultado calculável ou previsível do novo conceito de escola que agora se impõe – a escola-comunidade-educativa –, mas quiçá o resultado mais imediato das exigências que o actual corpo discente coloca imperativamente a cada instante, jamais de olhos vendados perante o “magistral” e irrepreensível saber do professor. Os alunos de hoje, contrariamente aos alunos de ontem, dispõem, sem qualquer espécie de freios, de meios de informação que lhe oferecem gratuitamente, de um modo fácil e diversificado, o conhecimento.
O aluno de hoje jamais poderá ser encarado como um escravo do mestre, como aquele que se limita a escutar e a repetir as "verdades" proferidas por este. Muito pelo contrário: deverá ser convidado a substituir a postura passiva em que geralmente era colocado pelo "ensino tradicional", por uma participação activa e criativa, que fará dele um elemento realmente interveniente no processo de ensino-aprendizagem, pelo exercício pleno da sua liberdade e responsabilização correspondente.
A educação não pressupõe, propriamente falando, a introdução de algo novo, mas o fazer desabrochar do já existente. Esta ideia aproxima-nos, em grande medida, da metodologia socrática – relativamente à qual manifesto também a minha preferência, em virtude da sua pragmaticidade – por oposição aos tradicionais métodos "caquécticos" que introduzem a mecanização nas jovens mentes em formação.
Como o que interessa desenvolver no aluno é a razão prática reflexionante, e não a razão meramente especulativa, e como verificamos que cada indivíduo aprende, ou seja, retém mais facilmente e de um modo mais sólido o "manancial teórico" que extrai de si próprio, deveremos proceder socraticamente na educação da razão.
Sócrates, que se nomeia "parteiro" dos conhecimentos dos seus interlocutores, por ajudar a "dar à luz" os conhecimentos que latentemente se encontram nas suas almas adormecidas, hoje cada vez mais proliferantes, dá-nos vários exemplos do modo como podemos conduzir os alunos a extrair muitas coisas do seu próprio intelecto.
Trata-se de um método investigativo, progressivo e não dogmático, naturalmente estimulador da capacidade intelectual dos alunos, da sua actividade e espontaneidade, através do qual são chamados a reinventar a verdade que é necessário assimilar.
Na aula de Filosofia não há modelos a seguir, mas pistas indicadoras que se destinam a promover uma busca contínua, sobre as quais é susceptível exercerem-se juízos pessoais que não obedecem, necessariamente, aos cânones estabelecidos pela exterioridade. O professor de filosofia deve entender a educação, de que é um condutor privilegiado, como um processo interior progressivamente realizado mediante as potencialidades que comandam a ordem natural do educando.
A educação visada pela Filosofia deverá encontrar na natureza a sua justificação e razão de ser: a educação consuma aquilo que a natureza deu ao homem como gérmen e possibilidade; é o cumprimento supremo e aperfeiçoado da natureza. É precisamente neste sentido que devemos interpretar a tese que afirma "que o homem só se pode tornar homem peia educação", pois "ele não é senão o que a educação faz por ele”[3]. Urge, pois, trabalhar no plano de uma educação conforme aos princípios humanos, legando à posteridade as instituições fundamentais que permitirão a sua realização plena.
Não deveremos encarar esta ideia como quimérica ou simplesmente rejeitá-Ia por a considerarmos como um belo sonho minado pela utopicidade de um ideal meramente inalcançável, mesmo se encontrarmos obstáculos que se oponham à sua consumação, pois uma ideia não é senão o conceito de uma perfeição que não está ainda concretizada na experiência.
A ideia da existência de uma educação que desenvolva plenamente todas as disposições naturais do homem é certamente verídica, e a humanidade presente e futura deve canalizar todos os esforços para levar a cabo este brilhante e necessário ideal.
A educação deve compreender o indivíduo no seio do progresso geral da humanidade, de modo a fazer dele um homem do futuro, um elemento intrinsecamente pertencente ao conjunto de gerações que ocuparão o palco da História vindoura: é em vista do futuro, em vista do progresso parcial que cada indivíduo pode representar, que devemos educar os nossos alunos. O futuro será sempre certamente o critério de todas as nossas aspirações educacionais.
A educação, tal como a filosofia da história, descobre um outro tempo, uma outra temporalidade. Não é em função do passado que se constrói o presente, mas sim em função do futuro. A escola dever-se-á fundar sobre a ideia de humanidade e da sua destinação total, concretizada pela visão de um futuro possível e melhor, pois o tempo da educação não é o tempo do ser mas o tempo do dever-ser; o seu fundamento originário é a fé no futuro, como princípio e norma orientadora do presente.
Caberá à educação do futuro concretizar o ideal da Aufklärung (Iluminismo), para o qual nos devemos direccionar desde já, que consiste em extirpar o homem da menoridade de que é culpado, quer dizer, da "incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem", e despertá-lo para a maioridade, para a conquista da sua própria autonomia e liberdade, para a libertação da razão que se pretende que seja devidamente esclarecida[4]. Eis os grandes objectivos a concretizar na aula de Filosofia.
________________________________________
[1] António Sérgio, Ensaios, Tomo VII, p. 225.
[2] Kant, Informação Acerca da Orientação dos seus Cursos no Semestre do Inverno de 1765 – 1766, in Filosofia, Publicação Periódica da Sociedade Portuguesa de Filosofia, Vol. 11 - N° 1/2 – Primavera/88.
[3] Kant, Reflexões sobre a Educação, p.73.
[4] Kant, Resposta à Pergunta: O que é o Iluminismo?, in A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, pp. 11-19.
Isabel Rosete
"Como construir um Portugal mais solidário e com mais valores sociais e éticos", por António Valentim
«Para se construir um futuro melhor é necessário que as entidades competentes se debrucem seriamente sobre como lidar com as crianças e com os jovens de uma outra forma. Grande parte dos conflitos existentes, uns mais graves do que outros, têm a sua raiz na forma inapropriada com que se educa psicologicamente as crianças.
Os pais, na sua maioria, têm dificuldade em lidar com os filhos da forma adequada. Cada um educa-os a seu modo. Como é que se lhes deve dar atenção, como valorizá-los, como apreciá-los? Como se ajuda a serem mais autónomos e responsáveis consoante o nível de maturação? Como estabelecer limites? Como os apoiar nas emoções e nos sentimentos? Como os ajudar a sentirem-se confiantes, competentes e humanos e não apenas a serem futuros adultos, mas imaturos? Tudo isto sem querer focar qualquer perturbação psíquica.
Actualmente, todas estas perguntas têm resposta. Se estas necessidades forem aplicadas ao longo do desenvolvimento da criança/jovem ter-se-ão adultos com competência para assumir as funções, cargos, que lhes forem designados e não, como se vê, muita das vezes, indivíduos bem falantes, colocados em postos para os quais não têm, ou não desenvolvem, competências adequadas, pensando apenas em servir os seus interesses pessoais ou os dos seus clãs.
É muito mais fácil lidar com as crianças/jovens tendo em conta estes temas do que tentar, mais tarde, corrigir adultos com leis, castigos, recompensas, palavras bonitas, falsas esperanças e terapias. Não bloqueiem as crianças e os jovens! Deixem que se desenvolvam para aquilo que nasceram - Seres Humanos com valores sociais e morais! E, não humanos crescidos fisicamente mas com todo o tipo de imaturidade psicológica.
Numa recente entrevista realizada na RTP, o neurologista António Damásio afirmou que os sentimentos que participam na construção de sistemas morais, como por exemplo, a admiração e a compaixão não são exclusivamente inerentes ao ser humano, tendo uma base fisiológica e biológica, e não, como se pensava, que eram transmitidos apenas pela via social e cultural. Não é isto digno de reflexão?
Os governantes têm que ser responsáveis pelas funções que desempenham, da mesma forma que o médico tem de ser médico mesmo, assim como o juiz, o professor … tudo o resto é secundário. Um indivíduo que se desenvolveu de uma forma minimamente equilibrada tem muito menos dificuldade em aplicar esta maneira responsável de actuar! Torna-se num indivíduo capaz de aplicar os valores humanos sócio/éticos e não os manipular para seu proveito próprio.»
António Valentim
Psicólogo Clínico
In, "Encarregados de Educação, Necessidades Psicológicas"
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
Os pais, na sua maioria, têm dificuldade em lidar com os filhos da forma adequada. Cada um educa-os a seu modo. Como é que se lhes deve dar atenção, como valorizá-los, como apreciá-los? Como se ajuda a serem mais autónomos e responsáveis consoante o nível de maturação? Como estabelecer limites? Como os apoiar nas emoções e nos sentimentos? Como os ajudar a sentirem-se confiantes, competentes e humanos e não apenas a serem futuros adultos, mas imaturos? Tudo isto sem querer focar qualquer perturbação psíquica.
Actualmente, todas estas perguntas têm resposta. Se estas necessidades forem aplicadas ao longo do desenvolvimento da criança/jovem ter-se-ão adultos com competência para assumir as funções, cargos, que lhes forem designados e não, como se vê, muita das vezes, indivíduos bem falantes, colocados em postos para os quais não têm, ou não desenvolvem, competências adequadas, pensando apenas em servir os seus interesses pessoais ou os dos seus clãs.
É muito mais fácil lidar com as crianças/jovens tendo em conta estes temas do que tentar, mais tarde, corrigir adultos com leis, castigos, recompensas, palavras bonitas, falsas esperanças e terapias. Não bloqueiem as crianças e os jovens! Deixem que se desenvolvam para aquilo que nasceram - Seres Humanos com valores sociais e morais! E, não humanos crescidos fisicamente mas com todo o tipo de imaturidade psicológica.
Numa recente entrevista realizada na RTP, o neurologista António Damásio afirmou que os sentimentos que participam na construção de sistemas morais, como por exemplo, a admiração e a compaixão não são exclusivamente inerentes ao ser humano, tendo uma base fisiológica e biológica, e não, como se pensava, que eram transmitidos apenas pela via social e cultural. Não é isto digno de reflexão?
Os governantes têm que ser responsáveis pelas funções que desempenham, da mesma forma que o médico tem de ser médico mesmo, assim como o juiz, o professor … tudo o resto é secundário. Um indivíduo que se desenvolveu de uma forma minimamente equilibrada tem muito menos dificuldade em aplicar esta maneira responsável de actuar! Torna-se num indivíduo capaz de aplicar os valores humanos sócio/éticos e não os manipular para seu proveito próprio.»
António Valentim
Psicólogo Clínico
In, "Encarregados de Educação, Necessidades Psicológicas"
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
MOVIMENTO MIL: Declaração de Princípios e Objectivos
O presente texto condensa e concretiza as propostas do Manifesto da Revista “Nova Águia” (novaaguia.blogspot.com) , órgão do M. I. L. Aqui se apresenta um ponto de partida, objecto de consenso entre os promotores do Movimento, destinado a ser aperfeiçoado mediante todas as críticas e sugestões, que solicitamos e agradecemos.
Ao apresentá-lo, fazemos nossas as palavras de Agostinho da Silva, cidadão luso-brasileiro cujo pensamento inspira o M. I. L., na proposta de reorganização de Portugal e do mundo lusófono que redigiu em 1974: “A comunidade a que o propomos é o Povo não realizado que actualmente habita Portugal, a Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, o Brasil, Angola, Moçambique, Macau, Timor, e vive, como emigrante ou exilado, da Rússia ao Chile, do Canadá à Austrália” – “Proposição”, in Dispersos, Lisboa, ICALP, 1989, p. 617.
1 – O Movimento Internacional Lusófono é um movimento cultural e cívico que visa mobilizar a sociedade civil para repensar e debater amplamente o sentido e o destino de Portugal e da Comunidade Lusófona.
2 - As nações e os 240 milhões de falantes da Língua Portuguesa em todo o mundo constituem uma comunidade histórico-cultural com uma identidade, vocação e potencialidade singular, a de estabelecer pontes, mediações e diálogos entre os diferentes povos, culturas, civilizações e religiões, promovendo uma cultura da paz, da compreensão, da fraternidade e do universalismo à escala planetária.
3 – Os valores essenciais da cultura lusófona constituem, junto com os valores essenciais de outras culturas, uma alternativa viável à crise do actual ciclo de civilização economicista e tecnocrático, contribuindo, com o seu humanismo universalista e sentido cósmico da vida, para uma urgente mutação da consciência e do comportamento, que torne possível uma outra globalização, a do desenvolvimento das superiores possibilidades humanas e da harmonia ecológica, possibilitando a utilização positiva dos actuais recursos materiais e científico-tecnológicos.
4 – As pátrias e os cidadãos lusófonos devem cultivar esta consciência da sua vocação, aproximar-se e assumir-se como uma comunidade fraterna, uma frátria, aberta a todo o mundo. A comunidade lusófona deve assumir-se como uma comunidade alternativa mundial – uma pátria-mátria-frátria do espírito, a “ideia a difundir pelo mundo” de que falou Agostinho da Silva – que veicule ideias, valores e práticas tão universais e benéficas que todos os cidadãos do mundo nelas se possam reconhecer, independentemente das suas nacionalidades, línguas, culturas, religiões e ideologias. A comunidade lusófona deve assumir-se sempre na primeira linha da expansão da consciência, da luta por uma sociedade mais justa, da defesa dos valores humanos fundamentais e das causas humanitárias, da sensibilização da comunidade internacional para todas as formas de violação dos direitos humanos e dos seres vivos e do apoio concreto a todas as populações em dificuldades. Para que isso seja possível, cada nação lusófona deve começar por ser exemplo desses valores.
5 – A vocação histórico-cultural da comunidade lusófona terá expressão natural na União Lusófona, a qual, pelo aprofundamento das potencialidades da actual Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, constituirá uma força alternativa mundial, a nível cultural, social, político e económico. Sem afectar a soberania dos estados e regiões nela incluídos, mas antes reforçando-a, a União Lusófona será um espaço privilegiado de interacção e solidariedade entre eles que potenciará também a afirmação de cada um nas respectivas áreas de influência e no mundo. Ou seja, no contexto da União Lusófona, a Galiza e Portugal aumentarão a sua influência ibérica e europeia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique, a sua influência africana, o Brasil a sua influência no continente americano e Timor a sua influência asiática, sendo ao mesmo tempo acrescida a presença de cada um nas áreas de influência dos demais e no mundo. Sem esquecer Goa, Damão, Diu, Macau, todos os lugares onde se fale Português e onde a nossa diáspora esteja presente, os quais, embora integrados noutros estados, serão núcleos de irradiação cultural da União Lusófona.
6 - No que respeita a Portugal e à Galiza, este projecto será assumido em simultâneo com o estreitamento de relações culturais com as comunidades autónomas de Espanha, promovendo aí a cultura galaico-portuguesa e contrabalançar a influência espanhola em Portugal. O mesmo deve acontecer entre o Brasil e os países da América do Sul. Galiza, Portugal e Brasil, bem como as demais nações de língua portuguesa, devem afirmar sem complexos os valores lusófonos nas suas respectivas áreas de influência.
7 – A construção da União Lusófona, com os seus valores próprios, exige sociedades mais conscientes, livres e justas nos estados e regiões lusófonos. Em cada um desses estados e regiões, cabe às secções locais do Movimento Internacional Lusófono, dentro destes princípios essenciais e em coordenação com as dos restantes estados e regiões, apresentar e divulgar propostas concretas, adequadas a cada situação particular, pelos meios de intervenção cultural, social, cívica e política que forem mais oportunos.
***
No que respeita a Portugal, a secção portuguesa do Movimento Internacional Lusófono considera fundamentais as seguintes medidas:
I – Promover uma maior participação dos cidadãos na vida pública e política, nomeadamente em torno de um grande projecto para Portugal como o da União Lusófona, que os convoque para uma causa que transcende o imediatismo, o economicismo e os interesses dos partidos e dos grupos em luta pelo poder. Mobilizar os cidadãos indiferentes e descrentes da vida política, a enorme percentagem de abstencionistas e todos aqueles que se limitam a votar, para a responsabilidade de discutirem e criarem o melhor destino a dar à nação.
II - Sensibilizar os cidadãos e as instituições públicas e privadas para a importância e vantagens do projecto da União Lusófona, a nível cultural, social, político e económico. Promover a discussão pública desta proposta e uma cultura da consciência lusófona e universalista que enriqueça a nossa própria integração na União Europeia, tornando-nos parceiros activos na abertura da consciência europeia à cultura planetária.
III - Promover para esse fim formas alternativas de intervenção cultural, social e cívica, que permitam antecipar quanto possível a realidade desejada, sem depender dos poderes instituídos, dentro dos quadros democráticos e legais. Sem rejeitar os habituais meios de intervenção política, o Movimento Internacional Lusófono apela à e apoia a constituição de grupos cívicos ou confrarias laicas que sejam núcleos de discussão, divulgação e realização deste projecto, em Portugal e em todo o espaço lusófono, incluindo a emigração.
IV – Libertar a nossa vida mental, social e política da actual mediocridade, estagnação e submissão a interesses particularistas, partidários e dos grupos económicos, repondo-a ao serviço da cultura e de uma ética do bem comum.
V – Regenerar a democracia em Portugal, reformando o estado segundo modelos que fomentem a ampla participação política da sociedade civil. Recuperar a tradição municipalista portuguesa, promover uma regionalização e descentralização administrativa equilibradas, assegurando mecanismos de prevenção e controlo dos caciquismos locais.
VI – Assegurar o predomínio da ética e da política sobre a economia, de modo a que a produção e distribuição da riqueza vise o bem comum e a satisfação das necessidades básicas das populações. Explorar as potencialidades de formas de organização económica cujo objectivo fundamental não seja o lucro financeiro. Oferecer alternativas ao produtivismo e consumismo, fazendo do trabalho não um fim em si, mas um meio para a fruição do tempo livre de modo mais gratificante e criativo.
VII – Promover a sustentabilidade económica do país, desenvolvendo as economias locais e respeitando a harmonia ambiental.
VIII - Substituir quanto possível as energias não-renováveis (petróleo, carvão, gás natural, energia nuclear), por energias renováveis e alternativas (solar, eólica, hidráulica, marmotriz, etc.), superando o paradigma de uma economia baseada no petróleo e nos hidro-carbonetos.
IX - Dar prioridade, em todos os domínios da economia, da política e da investigação, às preocupações ambientais e ecológicas. Proteger os direitos dos animais e promover o seu cumprimento.
X - Assegurar um serviço público de saúde eficiente e acessível a todos, que inclua a possibilidade de opção por medicinas alternativas.
XI – Redignificar, com exigência, os professores e todos os profissionais ligados à educação, tornando esta e a cultura – não só tecnológica, mas filosófica, literária, artística e científica - o investimento estratégico do Orçamento de Estado e da governação. Os vários níveis de ensino visarão a formação integral da pessoa, não a sacrificando a uma mera especialização profissional. Neles haverá uma forte presença da cultura portuguesa e lusófona, bem como das várias culturas planetárias. Um português culto e bem formado deve ter uma consciência lusófona e universal, não apenas europeia-ocidental.
XII - Promover sem inibições a cultura portuguesa e lusófona no espaço internacional. Assegurar a tradução para inglês de textos fundamentais da nossa cultura e publicar, em conjunto com as nações lusófonas, uma revista bilingue, português-inglês, destinada a divulgar em todo o mundo os seus aspectos mais singulares e universais. Estreitar relações com os lusófilos estrangeiros e com todos os povos, culturas e movimentos que tenham características e projectos convergentes.
XIII - Implementar o Acordo Ortográfico, importante instrumento da consciência lusófona e da sua afirmação internacional.
XIV – Celebrar acordos com as nações lusófonas que promovam estratégias económicas conjuntas, sobretudo a nível comercial. Facilitar e proteger, mediante o levantamento das barreiras alfandegárias e fiscais, o comércio e a circulação de produtos em todo o mundo lusófono, com urgente destaque para os produtos culturais.
XV – Chegar gradualmente a um acordo que permita a livre-circulação dos cidadãos em todos os estados da comunidade lusófona.
XVI - Criar um Programa “Agostinho da Silva” que promova a circulação dos estudantes das nações lusófonas, de licenciatura e pós-graduação, nas universidades do espaço lusófono, começando por Portugal e Brasil.
Se quiser aderir a este Movimento ou formar um “Núcleo MIL”, envie-nos um mail para novaaguia@gmail.com . Visite também o nosso blogue: novaaguia.blogspot.com
Isabel Rosete - divulgação e participação
Ao apresentá-lo, fazemos nossas as palavras de Agostinho da Silva, cidadão luso-brasileiro cujo pensamento inspira o M. I. L., na proposta de reorganização de Portugal e do mundo lusófono que redigiu em 1974: “A comunidade a que o propomos é o Povo não realizado que actualmente habita Portugal, a Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, o Brasil, Angola, Moçambique, Macau, Timor, e vive, como emigrante ou exilado, da Rússia ao Chile, do Canadá à Austrália” – “Proposição”, in Dispersos, Lisboa, ICALP, 1989, p. 617.
1 – O Movimento Internacional Lusófono é um movimento cultural e cívico que visa mobilizar a sociedade civil para repensar e debater amplamente o sentido e o destino de Portugal e da Comunidade Lusófona.
2 - As nações e os 240 milhões de falantes da Língua Portuguesa em todo o mundo constituem uma comunidade histórico-cultural com uma identidade, vocação e potencialidade singular, a de estabelecer pontes, mediações e diálogos entre os diferentes povos, culturas, civilizações e religiões, promovendo uma cultura da paz, da compreensão, da fraternidade e do universalismo à escala planetária.
3 – Os valores essenciais da cultura lusófona constituem, junto com os valores essenciais de outras culturas, uma alternativa viável à crise do actual ciclo de civilização economicista e tecnocrático, contribuindo, com o seu humanismo universalista e sentido cósmico da vida, para uma urgente mutação da consciência e do comportamento, que torne possível uma outra globalização, a do desenvolvimento das superiores possibilidades humanas e da harmonia ecológica, possibilitando a utilização positiva dos actuais recursos materiais e científico-tecnológicos.
4 – As pátrias e os cidadãos lusófonos devem cultivar esta consciência da sua vocação, aproximar-se e assumir-se como uma comunidade fraterna, uma frátria, aberta a todo o mundo. A comunidade lusófona deve assumir-se como uma comunidade alternativa mundial – uma pátria-mátria-frátria do espírito, a “ideia a difundir pelo mundo” de que falou Agostinho da Silva – que veicule ideias, valores e práticas tão universais e benéficas que todos os cidadãos do mundo nelas se possam reconhecer, independentemente das suas nacionalidades, línguas, culturas, religiões e ideologias. A comunidade lusófona deve assumir-se sempre na primeira linha da expansão da consciência, da luta por uma sociedade mais justa, da defesa dos valores humanos fundamentais e das causas humanitárias, da sensibilização da comunidade internacional para todas as formas de violação dos direitos humanos e dos seres vivos e do apoio concreto a todas as populações em dificuldades. Para que isso seja possível, cada nação lusófona deve começar por ser exemplo desses valores.
5 – A vocação histórico-cultural da comunidade lusófona terá expressão natural na União Lusófona, a qual, pelo aprofundamento das potencialidades da actual Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, constituirá uma força alternativa mundial, a nível cultural, social, político e económico. Sem afectar a soberania dos estados e regiões nela incluídos, mas antes reforçando-a, a União Lusófona será um espaço privilegiado de interacção e solidariedade entre eles que potenciará também a afirmação de cada um nas respectivas áreas de influência e no mundo. Ou seja, no contexto da União Lusófona, a Galiza e Portugal aumentarão a sua influência ibérica e europeia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique, a sua influência africana, o Brasil a sua influência no continente americano e Timor a sua influência asiática, sendo ao mesmo tempo acrescida a presença de cada um nas áreas de influência dos demais e no mundo. Sem esquecer Goa, Damão, Diu, Macau, todos os lugares onde se fale Português e onde a nossa diáspora esteja presente, os quais, embora integrados noutros estados, serão núcleos de irradiação cultural da União Lusófona.
6 - No que respeita a Portugal e à Galiza, este projecto será assumido em simultâneo com o estreitamento de relações culturais com as comunidades autónomas de Espanha, promovendo aí a cultura galaico-portuguesa e contrabalançar a influência espanhola em Portugal. O mesmo deve acontecer entre o Brasil e os países da América do Sul. Galiza, Portugal e Brasil, bem como as demais nações de língua portuguesa, devem afirmar sem complexos os valores lusófonos nas suas respectivas áreas de influência.
7 – A construção da União Lusófona, com os seus valores próprios, exige sociedades mais conscientes, livres e justas nos estados e regiões lusófonos. Em cada um desses estados e regiões, cabe às secções locais do Movimento Internacional Lusófono, dentro destes princípios essenciais e em coordenação com as dos restantes estados e regiões, apresentar e divulgar propostas concretas, adequadas a cada situação particular, pelos meios de intervenção cultural, social, cívica e política que forem mais oportunos.
***
No que respeita a Portugal, a secção portuguesa do Movimento Internacional Lusófono considera fundamentais as seguintes medidas:
I – Promover uma maior participação dos cidadãos na vida pública e política, nomeadamente em torno de um grande projecto para Portugal como o da União Lusófona, que os convoque para uma causa que transcende o imediatismo, o economicismo e os interesses dos partidos e dos grupos em luta pelo poder. Mobilizar os cidadãos indiferentes e descrentes da vida política, a enorme percentagem de abstencionistas e todos aqueles que se limitam a votar, para a responsabilidade de discutirem e criarem o melhor destino a dar à nação.
II - Sensibilizar os cidadãos e as instituições públicas e privadas para a importância e vantagens do projecto da União Lusófona, a nível cultural, social, político e económico. Promover a discussão pública desta proposta e uma cultura da consciência lusófona e universalista que enriqueça a nossa própria integração na União Europeia, tornando-nos parceiros activos na abertura da consciência europeia à cultura planetária.
III - Promover para esse fim formas alternativas de intervenção cultural, social e cívica, que permitam antecipar quanto possível a realidade desejada, sem depender dos poderes instituídos, dentro dos quadros democráticos e legais. Sem rejeitar os habituais meios de intervenção política, o Movimento Internacional Lusófono apela à e apoia a constituição de grupos cívicos ou confrarias laicas que sejam núcleos de discussão, divulgação e realização deste projecto, em Portugal e em todo o espaço lusófono, incluindo a emigração.
IV – Libertar a nossa vida mental, social e política da actual mediocridade, estagnação e submissão a interesses particularistas, partidários e dos grupos económicos, repondo-a ao serviço da cultura e de uma ética do bem comum.
V – Regenerar a democracia em Portugal, reformando o estado segundo modelos que fomentem a ampla participação política da sociedade civil. Recuperar a tradição municipalista portuguesa, promover uma regionalização e descentralização administrativa equilibradas, assegurando mecanismos de prevenção e controlo dos caciquismos locais.
VI – Assegurar o predomínio da ética e da política sobre a economia, de modo a que a produção e distribuição da riqueza vise o bem comum e a satisfação das necessidades básicas das populações. Explorar as potencialidades de formas de organização económica cujo objectivo fundamental não seja o lucro financeiro. Oferecer alternativas ao produtivismo e consumismo, fazendo do trabalho não um fim em si, mas um meio para a fruição do tempo livre de modo mais gratificante e criativo.
VII – Promover a sustentabilidade económica do país, desenvolvendo as economias locais e respeitando a harmonia ambiental.
VIII - Substituir quanto possível as energias não-renováveis (petróleo, carvão, gás natural, energia nuclear), por energias renováveis e alternativas (solar, eólica, hidráulica, marmotriz, etc.), superando o paradigma de uma economia baseada no petróleo e nos hidro-carbonetos.
IX - Dar prioridade, em todos os domínios da economia, da política e da investigação, às preocupações ambientais e ecológicas. Proteger os direitos dos animais e promover o seu cumprimento.
X - Assegurar um serviço público de saúde eficiente e acessível a todos, que inclua a possibilidade de opção por medicinas alternativas.
XI – Redignificar, com exigência, os professores e todos os profissionais ligados à educação, tornando esta e a cultura – não só tecnológica, mas filosófica, literária, artística e científica - o investimento estratégico do Orçamento de Estado e da governação. Os vários níveis de ensino visarão a formação integral da pessoa, não a sacrificando a uma mera especialização profissional. Neles haverá uma forte presença da cultura portuguesa e lusófona, bem como das várias culturas planetárias. Um português culto e bem formado deve ter uma consciência lusófona e universal, não apenas europeia-ocidental.
XII - Promover sem inibições a cultura portuguesa e lusófona no espaço internacional. Assegurar a tradução para inglês de textos fundamentais da nossa cultura e publicar, em conjunto com as nações lusófonas, uma revista bilingue, português-inglês, destinada a divulgar em todo o mundo os seus aspectos mais singulares e universais. Estreitar relações com os lusófilos estrangeiros e com todos os povos, culturas e movimentos que tenham características e projectos convergentes.
XIII - Implementar o Acordo Ortográfico, importante instrumento da consciência lusófona e da sua afirmação internacional.
XIV – Celebrar acordos com as nações lusófonas que promovam estratégias económicas conjuntas, sobretudo a nível comercial. Facilitar e proteger, mediante o levantamento das barreiras alfandegárias e fiscais, o comércio e a circulação de produtos em todo o mundo lusófono, com urgente destaque para os produtos culturais.
XV – Chegar gradualmente a um acordo que permita a livre-circulação dos cidadãos em todos os estados da comunidade lusófona.
XVI - Criar um Programa “Agostinho da Silva” que promova a circulação dos estudantes das nações lusófonas, de licenciatura e pós-graduação, nas universidades do espaço lusófono, começando por Portugal e Brasil.
Se quiser aderir a este Movimento ou formar um “Núcleo MIL”, envie-nos um mail para novaaguia@gmail.com . Visite também o nosso blogue: novaaguia.blogspot.com
Isabel Rosete - divulgação e participação
Subscrever:
Mensagens (Atom)











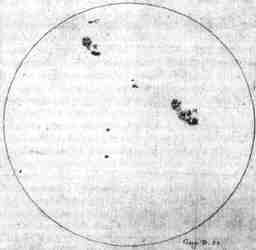















.jpg)