 OS «SINTOMAS DO ESTÉTICO» E A TEORIA DO FUNCIONAMENTO SIMBÓLICO DAS OBRAS DE ARTE, Parte II, por Isabel Rosete
OS «SINTOMAS DO ESTÉTICO» E A TEORIA DO FUNCIONAMENTO SIMBÓLICO DAS OBRAS DE ARTE, Parte II, por Isabel Rosete§ 1. Exemplificação, Símbolos Estéticos e Obras de Arte
As versões-de-mundos decorrentes do funcionamento exemplificativo das obras de arte não são senão símbolos ou redes de símbolos que, ao funcionarem como amostras de certas formas, sentimentos ou cores, bem como de descrições de personagens e/ou acontecimentos passíveis de serem compartilhados ou compartilháveis pelas coisas presentes no nosso mundo, induzem, quiçá necessariamente, à sua organização ou reorganização em conformidade com as características que possuem.
A teoria de Goodman mostra-nos, ainda, que a exemplificação é uma forma de referência não denotacional extremamente importante, amiúde negligenciada por filósofos e críticos de arte. É um modo de referência por uma amostra[1], e jamais se apresenta como uma variação de denotação, quer nos referiramos à denotação verbal, quer à denotação pictórica. Não se confunde com essa forma de predicação ou descrição na qual uma palavra ou um conjunto de palavras se aplicam a uma coisa, a um fenómeno, ou a cada coisa entre muitas: por exemplo, «”estado” denota cada um dos cinquenta membros da federação»[2].
O termo denotação é entendido de um modo muito mais amplo do que é habitual, e não é senão um modo de aplicação de uma palavra, de uma imagem ou de qualquer outra etiqueta a uma ou a muitas coisas. Esta definição apresenta-se-nos como uma espécie de referência possuindo subespécies multiplamente diferenciadas, pelo que pode ser mais ou menos geral, vaga, ambígua, podendo variar em função do contexto e do tempo. Também os traços exemplificativos são altamente variáveis e, por isso, a exemplificação torna-se tão ambígua como a denotação.
Caracterizada logicamente, a denotação mostra-se-nos como uma relação semântica binária entre um símbolo e aquilo a que esse símbolo se aplica. Um símbolo denota sempre o que nomeia ou aquilo que é uma instância dele, ou que concorda com ele. Um nome próprio, por exemplo, Gonçalo, denota o seu possuidor, o indivíduo assim denominado, tal como o retracto que tenho no escritório, feito a grafite sobre papel por um dos pintores do Sena, denota-me a mim própria, o seu representado, do mesmo modo que uma partitura denota a sua execução.
É por isso que aos símbolos que funcionam denotativamente Goodman chama etiquetas, quer se refira a símbolos verbais ou não-verbais. Assim, o vocábulo “cavalo” (a etiqueta “cavalo”) ou um desenho/pintura de cavalo ou o relinchar do animal, o som, podem ser utilizados como etiquetas para denotarem o cavalo, de facto. Ora, como os objectos denotados podem, por seu turno, referir as etiquetas que os denotam, verificamos que a referência se processa na direcção inversa à da denotação. A referência implica que subamos do objecto denotado à etiqueta que o denota. Ao referir essas etiquetas, o objecto torna-se um símbolo porque está por essas etiquetas.
Assim, um objecto que é denotado por uma etiqueta e refere simultaneamente essa etiqueta, ou, então, a respectiva propriedade, pode ser dito exemplificar essa etiqueta. É, por isso, que aos símbolos que funcionam exemplificativamente chamámos etiquetas. O cavalo, por exemplo, pode funcionar tanto como amostra de “cavalo”, de “elegante” ou de “inteligente”, como também de um desenho de cavalo, do som, relinchar, ou de qualquer outra etiqueta verbal ou não verbal que se lhe possa aplicar, mas se e somente se for empregue para referir essas etiquetas.
Torna-se claro que existe uma estreita relação entre denotação e exemplificação, não obstante salvaguardarmos que os termos etiqueta devem ser entendidos como termos técnicos que usamos para designar os símbolos quando estão a funcionar denotativamente ou exemplificativamente. Percebemos, agora de uma maneira mais evidente, porque é que denotação e exemplificação mantêm entre si um relacionamento muito próximo, porque é que as coisas ou os acontecimentos são os referentes das etiquetas, que os objectos de denotação, as etiquetas são os referentes das amostras, os objectos da exemplificação e, ainda, que é pouco natural que falemos de etiquetas como objectos de exemplificação, uma vez que são as propriedades e não as etiquetas que são susceptíveis de serem exemplificadas (um objecto exemplifica preto e não “preto”).
Uma vez que definimos a noção de exemplificação a partir da relação primitiva de referência e da relação de denotação, estamos dispostos a aceitar, sem reservas, que exemplificar é sinónimo de possuir e de referir e que possuir é, por seu turno, sinónimo de ter sido denotado. Embora não seja claro de que modo uma coisa que possui determinadas propriedades possa referir essas propriedades, sabemos, no entanto, que quando falamos de exemplificação estamos a referir-nos àquilo que uma amostra faz para além de possuir. À luz desta argumentação, o termo exemplificar torna-se sinónimo de “remeter para”, “mostrar”, “exibir”, “tornar manifesto”, “seleccionar”, “pôr em foco” ou “impor-se à nossa consciência” isso que é mais enfático entre um conjunto de características ou propriedades de um mesmo objecto.
Podemos compreender, de acordo com esta ordem de razões e tendo em consideração os exemplos já apontados, que uma pedra, num passeio, que não refere nenhum dos seus traços pode servir de espécie geológica ou como um objecto de arte (lembremo-nos, apenas a título de exemplo, da pedra de Alberto Carneiro) em função dos traços permanentes que exemplifica em cada um destes contextos particulares.
Mas, o que importa verdadeiramente é a própria obra, bem como os traços que em si mesma possui e não ao que possa reenviar ou o que, eventualmente, possa referir. Digamos que, quando lidamos com obras de arte, importa essencialmente que nos ocupemos quer das qualidades e das relações, quer das cores ou dos sons, dos motivos espaciais ou temporais, consoante nos confrontamos com uma obra de literatura, com uma pintura ou com uma partitura musical. Importa que nos ocupemos com essas propriedades que a obra realmente exemplifica e às quais se refere de uma maneira selectiva, invariavelmente selectiva, tal como a amostra de tecido do alfaiate se refere apenas a certas propriedades e não a outras, também, presentes no referente de que é amostra.
O contributo da exemplificação para a interpretação/compreensão da pintura, e da arte em geral, é absolutamente fundamental. A exemplificação ao ser selectiva, ao fundar-se no princípio da “selectividade predicativa”, diz apenas respeito à relação patenteada entre o símbolo pictórico apresentado no e pelo (o que dizemos em relação à pintura é válido para todas as artes em geral) e certas etiquetas que o denotam ou certas propriedades que a obra, em si mesma, possui e não outras (Goodman frisa várias vezes que as propriedades exibidas pela obra não lhe são exteriores, como pretendiam os formalistas). Porém, não podemos cair no erro de considerar que a exemplificação é uma simples possessão de um determinado traço, pois exige, sempre, a referência a esse traço. E é justamente uma tal referência que distingue os traços ou propriedades exemplificadas das que são simplesmente possuídas. Neste sentido, e voltando à relação entre exemplificação e denotação, diremos que a exemplificação não é senão uma sub-relação da conversão da denotação, distinguindo-se desta pelo retorno da referência para o denotante pelo denotado.
Se chamámos exemplificação à exibição de terminadas propriedades possuídas pela obra, então as propriedades que realmente contam numa pintura são aquelas que a pintura não apenas possui, mas exemplifica, o que faz da exemplificação um princípio geral da arte. De facto, é absolutamente incompatível com a teoria de Goodman considerarmos que existem regras ou instruções uniformes, testes, ou procedimentos do género, para determinar para cada obra de arte particular quais são as propriedades exemplificadas, do mesmo modo que não existem regras universais, tal como na ciência, que nos permitam determinar o que quer que seja de um modo universal, o que é representado nas obras de arte.
Encontramos sempre dificuldades em interpretar o que exemplifica um símbolo estético, em virtude da complexidade que o mesmo encerra, o que normalmente não acontece com as amostras triviais com que lidamos todos os dias. Pela exemplificação é-nos permitido aceder à constituição da explicação estética propriamente dita, uma vez que podermos colocar as questões essenciais que este domínio, por si mesmo, determina como fundamentais, a saber: como é que o espaço plástico está organizado na obra? Quais as cores utilizadas e com que predominância ou intensidade? Como é obtida a iluminação? Como são as linhas, os arabescos? Qual o estilo? Como são a composição e a construção?
§ 2. Exemplificação e Expressão
Estas questões permitem-nos encontrar a progressão que vai das propriedades meramente possuídas até às propriedades exemplificadas. De qualquer modo tudo o que é exibido por uma obras de arte é exemplificado por ela. A exemplificação intervém não só nas propriedades familiarmente conhecidas por formais, mas também na expressão e no estilo e, de modo indirecto, na alusão e na representação fictícia e até mesmo na “representação-como”, pelo que está presente nas características mais interessantes das obras de arte.
A linguagem de Goodman dá-nos precisamente conta dessas dificuldades hermenêuticas que afectam a pintura abstracta, na medida que nos permite aceder, com mais facilidade, à semântica e à sintaxe das obras totalmente abstractas, precisamente porque a expressão é, tout court, um modo de simbolizar algo fora da pintura, a qual não percebe, pensa, ou sente.
Embora não seja propriamente objecto deste ensaio a feitura de um estudo detalhado sobre a teoria goodmaniana da expressão, importa, contudo, analisarmos alguns dos seus pontos centrais, para que possamos compreender melhor toda a controvérsia gerada com as teses formalistas e, nomeadamente sobre a defesa de obras de arte absolutamente puras. Ora, a tese central apresentada por Goodman sobe a expressão indica-nos que:
a) Este processo de simbolização é uma propriedade objectiva das obras de arte;
b) É um caso de exemplificação metafórica que jamais pode ser confundido ou com a manifestação das emoções do artista, ou com os sentimentos que provoca no percipiente, ou, ainda, com o assunto representado ou descrito.
As componentes fundamentais da expressão são a exemplificação e a metáfora. A exemplificação e a metáfora, porque uma obra de arte que exprime uma determinada propriedade possui essa mesma propriedade, quer dizer, é denotada pela respectiva etiqueta e essa posse ou denotação é metafórica e, por isso, a obra exemplifica essa etiqueta.
Todavia, para que a exemplificação metafórica assim obtida seja, de facto, expressão, é necessário que:
a) A obra de arte esteja a funcionar como símbolo estético;
b) A propriedade expressa dependa apenas da espécie de símbolo que a obra de arte é;
c) A transferência implicada na metáfora seja uma transferência de domínio e não apenas uma transferência de extensão.
Sabemos, então, que o facto de as propriedades expressas dependerem das propriedades possuídas literalmente pela obra de arte, implica que as propriedades expressas sejam constantes relativamente ás propriedades literais, pelo que desde que permaneçam as mesmas propriedades literais, permanecem também as mesmas propriedades expressas. E esta tese que nos permite explicar e justificar a objectividade da expressão. No entanto, o que percepcionamos como propriedades literais, nunca é feito de um modo ingénuo, pois está invariavelmente depende do contexto a que a obra se circunscreve.
A constância da relação entre as propriedades literais e as propriedades expressas só se obtém dentro de um dado sistema. Isto significa que as obras de arte podem exprimir diferentes propriedades, quando integradas em diferentes sistemas. Esta tese permite-nos, agora, explicar, o relativismo contextual da expressão, e colocar de lado qualquer espécie de determinação absoluta que se adiante a este respeito.
A partir das teses expostas é-nos permitido conciliar o fundamental das teses formalistas, segundo as quais as obras de arte possuem, de facto, as propriedades que exprimem – com a tese das teorias semânticas, que nos apresenta a expressão como uma relação de simbolização, sem que tenhamos de identificar essa relação com a denotação. É, portanto, a exemplificação entendida como posse, conjuntamente com a simbolização que possibilita o estabelecimento deste enlace e proporciona a sua explicação.
Pela exemplificação é-nos permitido saber que, quando olhamos para uma determinada pintura, há propriedades relevantes que devemos ter em consideração, bem como devemos ignorar outras por não serem relevantes em função do contexto a que a pintura e a nossa interpretação se circunscrevem. A exemplificação, forma peculiar de referência ou de simbolização, permite-nos, ainda, verificar a relatividade das propriedades exemplificadas ou a exemplificar por uma dada pintura: várias pinturas que possuem exactamente as mesmas propriedades podem exemplificar, ou serem «símbolos-amostras» de propriedades diferentes em contexto dissemelhantes.
Se quisermos ser ainda mais claros, diríamos, numa palavra, que a exemplificação não é senão a relação simbólica que ocorre quando um objecto refere algumas das propriedades que possui. Assim algumas pinturas de Malevich exemplificam as três cores primárias (ex. «Aeroplano em Voo», 1915; «Suprematismo», 1915 ou «Pintura Suprematista», 1916) e a quadrangularidade (ex. «Quadrado Negro», 1923‑1929; «Quadrado Vermelho», 1915; «Quadrado Negro e Quadrado Vermelho», 1915)[3].
A função exemplificativa da arte, cuja argumentação é, em grande parte, apresentada por Goodman no já citado debate com os formalistas centrado em derredor da noção de «puro» em arte, à luz da qual legitimam a exclusão de tudo o que é simbólico ou referencial, como a representação e a expressão, ao ser assim demostrada permite manter, sem qualquer traço possível de contradição que: por um lado, se todas as obras de arte são símbolos, então, referem necessariamente, mesmo quando não denotam absolutamente nada; e, por outro, a determinação de uma estética unificada.
Embora não adiantemos muito mais no que concerne às múltiplas amostras pictóricas de versões-de-mundos da arte da pintura (e escolhemos estas segundo o critério da maior representabilidade das propriedades que exibem os traços mais marcantes da mundivisão contemporânea) à noção de exemplificação e à acesa discussão que Goodman mantém com os formalistas, com a posição purista, tomada pelo autor como «inteiramente certa e inteiramente errada»[4], não podemos obnubilar que essa estratégia socrática, tão bem empregue pelo autor, resulta na conclusão segundo a qual a exemplificação é, inquestionavelmente, uma forma de simbolização. Ficou, então, demonstrado que:
a) A exemplificação é a razão de ser, a justificação e o objectivo da arte abstracta, na medida em que as versões-de-mundos construídas através do funcionamento simbólico das obras de arte abstractas são sistemas simbólicos exemplificativos exibindo, literal ou metaforicamente, determinadas características, tais como formas, cores, texturas, sons ou até mesmos sentimentos, compartilhados ou compartilháveis, directa ou indirectamente, pelas coisas do nosso mundo, convidando-nos, em qualquer caso, à reorganização deste em conformidade com essas mesmas características. Em consequência, decorre que, mesmo as obras que não representam coisa alguma, não se reduzem a objectos decorativos. Contribuem, a par daquelas que são representativas, de uma forma igualmente poderosa para a nossa organização visual do mundo;
b) A pintura chamada «pura» – essa pintura que exclui o simbólico e o referencial, a representação e a expressão, uma vez que, consideram os formalistas, há muitas obras de arte que não denotam o que quer que seja, pelo que não podem ser consideradas referenciais e, por conseguinte, não podem ser simbólicas – tem ainda uma função simbólica e que a noção de exemplificação, pela qual o filósofo ultrapassa o dilema purista – e, genericamente, os dilemas da arte – é absolutamente fundamental para dar a resposta adequada à problemática da distinção entre propriedades internas e externas das obras de arte, do formal e do não formal, da noção de símbolo e da aplicação da teoria geral dos símbolos às obras de arte.
Desta discussão, que muito abreviadamente expusemos, torna-se perfeitamente claro que:
a) Mesmo as pinturas que não representam nada (lembremo-nos do «Jardim das Delícias» de Bosch), têm um carácter representacionista, o que significa que são símbolos, e que, consequentemente, não são «puras»;
b) Não são apenas as obras representacionistas que são simbólicas: uma pintura abstracta que não representa nada pode exprimir e, por conseguinte, simbolizar um determinado sentimento, emoção ou ideia;
c) Uma pintura, qualquer obra de arte, onde se encontra ausente a representação ou a expressão, continua a ser um símbolo, mesmo quando o que simboliza não são pessoas, sentimentos ou coisas, mas certos padrões de textura, forma, cor ou estilo;
d) A noção de exemplificação é construída com base nas noções de possuir e referir, pelo que exemplificar é facilmente identificado com exibir;
e) A pintura exemplifica e não apenas possui as propriedades que são esteticamente relevantes e o que fornece a base a partir da qual essas propriedades são seleccionadas é algo que a pintura faz para além de possuir;
f) Como exemplificar é uma forma de referir ou de simbolizar, essas propriedades são aquelas de que a pintura é realmente símbolo;
g) Funcionamento simbólico não é exterior ao símbolo, à obra de arte;
h) A exemplificação ao assegurar que todas obras de arte são símbolos, abre o caminho para a construção de uma teoria simbólica para toda a arte;
i) A função simbólica não é, pois, uma propriedade que se encontra, aleatoriamente, associada a algumas formas de arte, mas é uma propriedade que, de modos diversos, se encontra presente em todas as formas de arte, quer dizer, é condição necessária para que haja arte;
j) Um dado objecto, por mais comezinho que seja, acede ao estatuto de obra de arte, não apenas porque funciona como símbolo (a Águia é o símbolo do «Benfica», mas não é uma obra de arte), mas sobretudo porque se apresenta como símbolo estético, quando reúne em si os «sintomas do estético» (como demonstraremos no ponto seguinte);
k) Objecto estético e obra de arte fundem-se, assim, na noção de «símbolo estético».
Isabel Rosete
Março de 2008
Notas:
[1] No texto «When is Art?», Goodman é perfeitamente claro no que concerne à noção de amostra de que temos vindo a falar e importa agora definir rigorosamente, de molde a evitar qualquer espécie de equívocos.: «Considere-se de novo, refere o autor, uma vulgar amostra de tecido no catálogo de amostras de um alfaiate ou estofador. É improvável que seja uma obra de arte, que representa pictoricamente ou exprima alguma coisa. É simplesmente uma amostra – uma simples amostra. Mas de que é ela uma amostra? Da textura, da cor, da tecedura, da grossura, das fibras de que é feita ...; tudo o que importa nesta amostra, somos tentados a dizer, é que ela foi cortada de uma peça de tecido e tem as mesmas propriedades do resto do material. (...) A moral da história é (...) uma amostra é amostra de algumas das suas propriedades mas não de outras. O retalho é uma amostra de textura, cor, etc., mas não de tamanho ou de forma (...) Em suma o que interessa é que uma amostra é uma amostra de – ou exemplifica – apenas algumas das suas propriedades, que as propriedades apara as quais ela apresenta esta relação de exemplificação variam com as circunstâncias, podendo apenas ser distinguidas como essas propriedades das quais ele serve, em dada circunstância, de amostra. Ser uma amostra de ou exemplificar é uma relação um tanto como ser amigo. (Cf. Goodman, Modos de fazer Mundos, pp. 110 - 11.
[2] N. Goodman & C. Elgin, Esthétique et Connaissance ( Pour Changer de Sujet), p. 17
[3] V. Ilustrações em apêndice, p. 77 e pp. 79 - 82.
[4] Cf. N. Goodman, Modos de Fazer Mundos, p. 106. Mais à frente Goodman volta a esta questão, fornecendo-nos uma resposta perfeitamente satisfatória do enigma que está por detrás desta problemática: «Que é, então, da proclamação inicial do purista, da qual eu disse jocosamente que estava inteiramente certa e inteiramente errada? Está inteiramente certa em dizer que o que é extrínseco é extrínseco, em assinalar que muitas vezes que aquilo que um quadro representa importa muito pouco, em argumentar que nem a representação nem a expressão são requeridas numa obra e em salientar a importância das chamadas propriedades intrínsecas, internas ou “formais”. Mas a declaração está inteiramente errada em assumir que a representação são as únicas funções simbólicas que as pinturas podem realizar, em supor que aquilo que um símbolo simboliza está sempre fora dele, e em insistir que aquilo que conta numa pintura é a mera posse, em vez da exemplificação, de certas propriedades». E nesta linha argumentativa surge a inferência fundamental: «Quem quer que procure arte sem símbolos, nesse caso não encontrará nenhuma – se todos os modos das obras simbolizarem forem tomados em conta. Arte sem representação, expressão ou exemplificar – sim; arte sem nenhuma das três – não». Por isso, acrescenta o autor, «salientar que a arte purista consiste simplesmente em evitar certas espécies de simbolização não é condená-la, mas apenas pôr a nu a falácia presente nos manifestos habituais que defendem a arte purista com exclusão de todas as outras espécies de arte. Não estou a debater as virtudes relativas das diferentes escolhas, tipos ou formas de pintar. O que me parece mais importante é que o reconhecimento da função simbólica, mesmo da pintura purista, nos dá uma pista para o problema perene de quando temos e não temos uma obra de arte». (Cf. op. cit., pp. 112 - 113).

















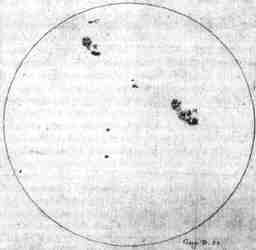















.jpg)