O dia D
reflexões filosóficas
Boletim semanal editado pelo
Centro de Filosofia Educação para o Pensar
(Florianópolis/SC)
De: jovens - Para: oportunidades.
“Eu acredito é na rapaziada/Que segue em frente e segura o rojão/Eu ponho fé é na fé da moçada/Que não foge da fera e enfrenta o leão/Eu vou à luta com essa juventude/Que não corre da raia a troco de nada/Eu vou no bloco dessa mocidade/Que não tá na saudade e constrói/A manhã desejada” (Gonzaguinha)
Todos sabem quão difíceis os tempos pelos quais passamos quanto à inserção no mundo do trabalho, mas é preciso acreditar: nos jovens e nas oportunidades. Seja pela falta de qualificação profissional, seja pela falta de oportunidades, os jovens estão em compasso de espera, mas de uma espera ativa: atentos, querem participar e construir o seu mundo. Neste sentido, nem sempre as relações entre jovens e adultos se revelam tranqüilas e exigem um grande esforço para superar conflitos insustentáveis e não compatíveis com boas relações de convívio social e nem de crescimento profissional.
Todos nós construímos a nossa trajetória pessoal e profissional a partir de uma primeira referência: o exemplo de nossa família. Com o passar dos anos, a escola vai capacitando a gente para a compreensão do mundo. Assim, compreendendo o mundo, percebemos como participar ativamente dele. Mas quanto à inserção no mundo do trabalho, a referência que temos, ou teremos, sempre está ou estará na primeira oportunidade que nos é oferecida por alguém, seja pela competência, pela indicação, conquista ou reconhecimento profissional.
Os jovens carregam uma energia criativa, desejando participar do mundo adulto, a partir de sua emancipação. Sonham com sua independência e, quando as oportunidades chegam, muitos as abraçam como seu projeto de vida. Outros, ainda as desperdiçam. Falta-lhes ainda o discernimento para fazer suas opções. Outros, ainda, em nome de uma vida “nada fácil”, enveredam por caminhos tortuosos e perigosos como a droga, bebida ou sexo.
A sociedade cobra muito dos jovens e, desde sempre, vive o dilema de emancipar ou controlar a juventude. Este conflito carrega fundamentos geracionais, mas também explicita as tensões pelos avanços, pelas novidades. O novo, tão almejado pelos jovens, surge a partir de superações daquilo que já está consolidado no mundo adulto. O jovem gostaria de protagonizar as suas escolhas, mas os adultos temem por certas inovações. Na sabedoria dos povos africanos, que muito respeita seus anciãos, “o novo surge para dar lugar ao velho, pois cantiga de criança todo velho já cantou”. O fato é que estes conflitos exigem uma compreensão ampla, dos adultos e dos jovens, para ambos construírem uma boa convivência social.
É preciso desmistificar a idéia de que somente a qualificação profissional resolverá a questão da inserção dos jovens no mundo do trabalho. Mais do que ofertar qualificação, é preciso oferecer oportunidades reais, apostando que os jovens, por seu dinamismo, vontade e capacidade, serão capazes de superar a sua inexperiência profissional. Mais do que isto: quando oportunizados, são capazes de renovar os seus horizontes, criando e re-criando as suas possibilidades de vida . Como disse o professor Sérgio A. Sardi (UFRGS) sobre a nossa condição de aprendentes: “o mundo está sempre começando. Isto é que se chama liberdade”.
Nei Alberto Pies (pies.neialberto@gmail.com) professor e ativista em direitos humanos.
Isabel Rosete
Divulgação
terça-feira, 12 de janeiro de 2010
HEIDEGGER: ARTE, OBRA, ORIGEM, MISTÉRIO E ENIGMA, Por Isabel Rosete

I.
Partimos do texto Der Ursprung des Kunstwerkes, escrito por Heidegger em 1935/1936 no intuito de pensar, com o autor, a complexa problemática que gira em derredor da Arte, da obra, da origem e do enigma, ou por outras palavras, quisemos reflectir sobre a origem da obra de arte e o enigma que a arte é em si mesma.
Se Heidegger é o filósofo por nós eleito para apresentar e quiçá ilustrar estes pontos fundamentais de toda a compreensão onto-artística contemporânea, Van Gogh e as suas múltiplas versões do tema «Um Pares de Sapatos», a que Heidegger indiscriminadamente se refere sem a precisão adequada – o comentário do filósofo dos caminhos que enigmaticamente não conduzem a parte alguma, é tão generalista que se pode aplicar a qualquer uma das obras realizadas pelo artista, sobre este tema, em períodos diferentes – é o pintor escolhido, esse autor consagrado da “Grande Arte”, como meio de mostração do “pôr-em-obra da verdade”.
É esta a tese central do pensamento heideggeriano que coloca a verdade como categoria estética fundamental, ao destruir, por um lado, o império fugaz do Belo inteligível, universal, pelo qual se todas as coisas são belas são-no apenas porque nele participam, ou então, porque este é uma propriedade do objecto, ou porque reside no sujeito que põe por si mesmo a beleza na coisa contemplada; e, por outro, ao destronar o reinado da emoção, da experiência-vivida (Erlebnis) como características fundamentais da criação e da contemplação estética.
A Arte e a obra no seu dar-se primordial mantém-se sempre envolvida no enigmático mistério que é próprio do dar-se do Ser no espaço vazio da tela na partitura sem notas do compositor musical, na pedra informe do escultor ou no papel em branco do poeta.
Movendo interiormente o texto em estudo e a reflexão heideggeriana sobre a arte, está a convicção de que uma interpretação metafísica da obra de arte, longe de a esclarecer na sua essência e origem, antes a perverte na sua constitutiva realidade. Correlato da nossa postura filosófica ocidental, este tipo de perspectivação metafísica da arte, que o autor, aliás, sem suficiente problematização, identifica com Estética, procuraria fazer da arte uma manifestação cultural sem mais, sempre reconduzível ao homem, procurando dilucidar-lhe uma criteriologia que afinal mais não é, para Heidegger, do que a aplicação de valores de civilização, de padrões de auto-avaliação importados do saber teórico, que em nada esclarecem a essencial radicação da obra de arte, de todo descurando a sua fundamentação na problemática ontológica, verdadeiro nexo dinâmico da reflexão heideggeriana.
A Estética procura esclarecer as modalidades de patenteação e juízo do Belo, bem como a relação intrínseca e insuperável entre os termos autor – obra de arte – espectador, descentrando, deste modo, a reflexão da própria realidade da obra, e esquecendo a sua ancoração fundamental ao plano de fundo despoletador da existência da mesma. É assim que Heidegger afirma em Einführung in die Metaphysique: «Devemos dar ao termo ‘arte’ e àquilo que ela quer designar um novo conteúdo, em encontrando primeiro uma posição fundamental originária quanto ao Ser» .
O modo de apresentação da nossa investigação poderá sugerir que a tematização heideggeriana, enquanto procura relevar a temática ontológica necessariamente subjacente à questão da obra de arte, é, neste intuito mesmo, uma reflexão sem falhas.
Porém, adiante o veremos, a reflexão do filósofo sobre a essência da arte antes desemboca na impossibilidade de superar a mútua implicação metafísica. Permanecemos com o primado da questão ontológica, enquanto postura interpretativa, sendo a arte um dos horizontes de reflexão em que se repõe inevitavelmente a questão do homem e da sua proventualidade historial, esses dois termos que mais unidamente se imbricam.
Se Heidegger utiliza a sua própria reflexão sobre a arte como momento privilegiado da própria des-construção dos pontos nodais do seu pensar – questão do Ser e da diferença ontológica – parece-nos que tal abordagem não perde por isso a sua pertinência.
Se a questão da arte, e a da obra de arte, ela própria, perdem algo da sua autonomia e não são perspectivadas como absolutos, na sua postura pura e simples, é, por outro lado, patente, a relevância que o filósofo assigna à arte como momento instaurador, e à obra de arte como lugar de presentação dos dilemas insuperáveis da dinâmica do Ser, e como in-stância mostrante, quiçá mais do que qualquer outra, do referente enigmático da questão ontológica.
Mesmo enquanto momento lateral da reflexão de Heidegger sobre o Ser, e apontando justamente para ela, o texto que aqui comentamos não deixa, por isso, de ser extraordinariamente significativo. Se a arte perde, inevitavelmente, horizonte hermenêutico próprio, a sua relevância no pensar heideggeriano não é por isso menor.
Antes relevando a proximidade da questão da origem da arte e do seu carácter enigmático com a fonte originária e indizível do brotar do ser para a patenteação que se dá como a própria obra de arte, ao do homem, na sua postura a um tempo historial e de Dasein. Trata-se, pois, de relevar que enigma é esse que a arte acolhe.
II.
Se se procura descortinar a origem da obra de arte, a sua proveniência essencial, então o que indubitavelmente se persegue é o modo próprio de desdobramento do ser da obra enquanto ente (Seiend) que é.
Por sua vez, se a tríade obra de arte – artista – arte não torna a inquirição futurível, pois que inevitavelmente se recai em círculo vicioso, e nem a determinação da essência da arte é possível através da contemplação comparativa de distintas obras ou da dedução do que a arte seja a partir de conceitos superiores, inevitável é o procurar deslindar o que a obra de arte é na sua pura realidade.
Trata-se de procurar destilar as propriedades da obra de arte em relação aos outros entes, pois o horizonte em que primariamente a obra nos surge é o das coisas que são, havendo que relevar se a obra é coisa (Ding), se diz outra coisa além da coisa que é ( ), e é então alegoria, ou se, sendo coisa, a ela está reunido, adstrito, algo de outro, caso em que a podemos caracterizar como símbolo.
Relevando agora a dimensão de tudo o que é de algum modo ‘aparente’, e fazendo-o procurando conectar os termos obra-coisa, num percurso que não vamos aqui pormenorizar, cedo a reflexão heideggeriana estabelece que o que na obra de arte se joga não cabe na caracterização tradicional do conceito de coisa em sua tríplice dimensão: enquanto suporte de qualidades marcantes, como unidade de uma multiplicidade sensível, ou, ainda, nessa concepção mais usual de coisa como matéria informada.
Se estas três determinações insultam a coisa mais do que a captam na sua ‘coisidade’, pois que não a apreendem na sua própria incontornabilidade, isto é, no facto de brotar originariamente para a patência a partir do ser, trata-se agora de enveredar por outro caminho e descortinar se o ser-coisa da obra pode apreender-se no ser do utensílio (Zeug), esse ente particularmente mais próximo do homem porquanto advém à patenteação por nossa própria produção.
Porém, a essência do produto, não reside na sua produção, aspecto pelo qual se assemelharia inevitavelmente à obra de arte, mas na sua utilidade, conferida pela sua solidez intrínseca, a sua ‘fiabilidade’ (Verlässlichkeit). O próprio do utensílio é ser fiável, poder contar-se com ele, assumi-lo como o ente à mão que é, disponível para o uso do homem. Transparece, pois, que a essência do utensílio não repousa no ser do mesmo mas na sua reportação à postura existencial do Dasein, enquanto ser-no-mundo.
Se a obra de arte por si própria tem suficiência, segue-se que a sua essência não é determinável a partir do ser do produto, sujeito à usura que lhe confere a submissão da sua essência às finalidades do homem. De facto: «A obra de arte, por esta presença bastando-se a ela-mesma que é o próprio da arte, assemelha-se mais à simples coisa repousando plenamente nesta espécie de gratuitidade que o seu brotar natural lhe confere. Todavia não classificamos as obras entre as simples coisas» .
Para evitar que a perspectivação do que seja a obra de arte, a partir da des-construção do conceito de coisa, constitua um insulto (Ueberfall) à obra, trata se de eliminar tudo o que susceptível de obstar a nossa acessibilidade à própria obra – incluídos os nossos enunciados sobre ela, e, primacialmente, fazer relevar a constitutiva in-stância da obra, abandonando-se à sua presença imediata (unverstelltes Anwesen).
Trata-se de silenciar o homem para deixar falar a obra: «Nada mais fizemos do que colocarmo-nos em presença do quadro de Van Gogh. Foi ele que falou. A proximidade da obra transportou-nos repentinamente para um outro lugar que o aí onde tínhamos o costume de estar» .
Vemos assim que o que pareceria constituir o nexo interpretativo conducente à determinação da origem da obra de arte – a abordagem da realidade ‘coisal’ da obra (das Dinghafte) – é substituído por outra perspectivação tendente a relevar o que está em obra na obra, ou seja, esta deixa de ser questionada na sua espessura ôntica para ser apresentada como indiciador de outra presença, como in-stância mostrante.
Este salto, significará a eleição de um novo nó problemático que colocará a obra de arte em directa confrontação, não já com o seu estatuto de coisa, mas com a dimensão fundamental da verdade.
Se já aqui se adivinha o abandono de uma “hermenêutica metafísica” e a abertura de outros espaços de perspectivação, conexos com a noção de verdade, mais tarde veremos como o abandono da inquirição pela onticidade da obra e, por consequência, da sua propriedade e id-entidade, levantará, no seio da perspectivação heideggeriana a algumas dificuldades.
A resolução destas implicará, entre outros aspectos, a cessação da autonomia do sujeito e do processo de criação artísticos enquanto objectos de investigação, com o intento de pensar um novo conceito de arte que, livre de funções miméticas como expressivistas, e, por conseguinte, não mais adstrita ao real já dado como à “experiência-vivida” do sujeito (Erlebnis), se afirme antes como momento verdadeiramente instaurador e poético.
Mas o que é que se faz obra na obra? A verdade de todo o ente que é, coisa ou produto. O ser do que é chega pela obra e sobretudo por ela ao seu parecer: «A essência da arte seria pois: o pôr-se em obra da verdade do ente (Sich-ins-Werk-setzen des Wahreit des Seienden)» .
Esta assumpção da mostração da verdade pela obra de arte, surge na tematização heideggeriana segundo dois modelos interpretativos que podemos consignar nas duas díades: Mundo/Terra, clareira/retraimento. É, a um tempo, no enlaço e no hiato destes dois modelos que a concepção heideggeriana da arte ganha, na nossa perspectiva, a sua mais fecunda peculiaridade.
O que na obra se consigna e apresenta segundo a dicotomia Mundo/Terra está ainda na dimensão não-veladora da verdade heideggeriana. Em rigor, trata-se de perspectivar o que, estando em obra na obra tem relação ao humano, à sua estada na Terra e ao seu desbravar de um mundo, prerrogativa exclusiva do modo de ek-sistência do Dasein: «A Terra é o afluxo infatigável e incansável daquilo que está aí para nada. Sobre a Terra e nela, o homem historial funda a sua estada no mundo. Instalando um mundo a obra faz vir a Terra (Indem das Werk eine welt aufstellt, stellt es die Erde her)» .
Mas, o que é a Terra? Heidegger naturalmente a reporta ao termo grego , essa força que eclode e brota, qual seio de que a um tempo tudo se abre à presença. é a Terra protectora, o solo natal (Grund) que tudo mantém e alberga em si. E o Mundo? «Um mundo ordena-se em Mundo (Welt weltet)» .
O Mundo é o que na Terra o homem instala e propria, privilégio da estada humana no aberto do ente. São estas duas modalidades de tudo o que é que a obra acolhe em si na sua in-stância (Dastehen), no seu stare, no seu ter-se aí, instalada. Instalar uma obra significa depô-la, erigi-la, oferecê-la ao espaço já constituído, enquanto instância que ordena a amplitude da estada do homem no seio da Terra. A obra é in-stância irradiante e provoca o abrir-se à luz (lichtet sich) de tudo o que em si consigna: ela erige um Mundo (Aufstellen einer Welt) e revela a Terra (Herstellen das Erde).
Poderíamos inquirir-nos, agora, pelo responsável de tal instalação da obra. Porém, o ‘sujeito’ instalador cedo se esvanece na tematização heideggeriana. A obra é sempre reportada à dimensão da mais pura impessoalidade, primando iniludivelmente o seu ser-obra e o que nela se patenteia enquanto presença mostrante: «Como pode a obra requerer uma tal instalação? Porque é ela mesma instalante no seu ser-obra. Que instala a obra enquanto obra? Quando a obra de arte em si mesma se põe, então abre-se um mundo, de que ela mantém para sempre o reino» .
Esse repouso que é a deposição, a oferenda da obra ao espaço já aberto da , não é um repouso sem máculas: no interior da obra, na medida em que erige um Mundo e faz vir a Terra, suscita-se um combate (Streit) entre estas duas instâncias: é na efectividade deste conflito que reside o ser-obra da obra.
É que, se o Mundo aspira à dominação, ele não pode contudo afastar-se da Terra, tal como o apolíneo não pode afastar-se do dionisíaco, pois que se funda sobre ela, qual templo deposto sobre a solidez do rochedo. E nem lhe é possível resvalar para esse fundo etónico que é a própria Terra, impenetrabilidade que o não acolhe. Por sua vez, esta, enquanto pujança e força sempre doadora, para brotar e ser autenticamente si-mesma não pode renunciar ao aberto do mundo e sempre colide com este espaço téctico – expressão a um tempo da expansão e fechamento sobre si. Mas: «Como se produz no ser-obra, isto é, agora, na efectividade do combate, o advento da verdade? O que é a verdade» .
É, de facto, nesta interrogação que ganhamos consciência que a tematização heideggeriana não atinge ainda aqui o seu intento fundamental, antes requerendo uma perspectivação que adiante à dicotomia Mundo/Terra outra mais radical, a saber, a que atine à essência da própria verdade como des-velamento (Unverborgenheit).
O combate Mundo/Terra é ainda metafísico, tem realidade no seio de tudo o que é, na abertura do ente, fazendo porém adivinhar um outro per-passante, mais originário e fundante. É certo que, sendo reserva no interior da clareira, a Terra é o que de mais ser há no ‘visível’ – porém, não é o autenticamente ser heideggeriano, antes remetendo para ele. Terra e Mundo são os dois ramos em que se bifurca a dimensão clareante da verdade, instância impessoal, que acolhe em si mesma um suspenso, sob o modo de uma dupla reserva: verdade é clareira e retraimento, luz e obnubilação.
Consignando em si o enlaço combativo destes dois termos, a obra faz advir em si a eclosão (Aufbruch) do ente no seu todo. «Mas como advém a verdade? Resposta: ela advém em alguns, raros, modos essenciais. Um dos modos nos quais a verdade se desdobra, é o ser-obra da obra» . Indicia-se, pois, aqui, uma oposição suscitadora de um conflito ainda mais original do que o que retratámos à pouco.
É numa aproximação à questão fundamental do Ser e da diferença ontológica que a tematização heideggeriana irá conceber a obra de arte como acontecimento originário e a instauração da verdade na obra como momento radicalmente inaugural.
III.
Sabemos que o Ser, para Heidegger, é essa possibilidade ilimitada e sem figura, força sempre excessiva e em provisão, a partir da qual, como um fundo, brotam todos os entes. O que seja a capacidade do ser em se ondular, de se patentear através de diferentes texturas e rugosidades, é o que é extremamente difícil de delimitar no seio do pensar heideggeriano, carente da inicial diferença que, no começo de tudo o que é, despoletaria o ente para a existência (ao modo como, por exemplo, em Aristóteles, o ente brota na a partir da confluência, no mesmo, de ser e entidade, e ).
É a capacidade auto-projectiva do Ser, a sua capacidade de jectar para a patenteação tudo o que é, e o homem de modo mais insigne, que permanece sobretudo enigmático. Em suma, é o ‘aparecer’ do lugar de todos os mistérios.
Em vários textos , Heidegger apresenta dois sentidos do aparecer que diferem entre si a partir da essência do espaço. Num primeiro caso o trazer-se do ente-à-stância-na-recolecção que abre o espaço, conquista-o e cria-o no seu re-es-tando-aí, no seu constituir-se desse modo, efectuando, nisso, o seu recurso máximo para brotar para a patência sem ser ele mesmo cópia de algo já existente.
Também, num segundo sentido, o aparecer separar-se-ia apenas sobre um espaço já constituído, sendo visado por um olhar que se move nas dimensões, já solidamente estabelecidas, desse espaço. Agora, é o viso que faz a coisa o mais decisivo, e não a coisa ela mesma. Este aparecer não é, pois, senão um governo do espaço assim aberto, e sua mensuração, e não mais um acontecimento originário, um aparecer genuíno e inicial.
A aportação destas duas concepções de ‘aparecer’ para um estudo sobre a concepção heideggeriana da arte, parece-nos fundamental, tanto mais quando se trata de apresentar a obra como modo de patenteação da verdade.
Parece que a adveniência da verdade, só teria sentido na primeira acepção apontada do aparecer, sendo, deste modo, concomitante originária ao brotar do ente. Assim sendo, jamais poderia ter conexão alguma com a postura da obra de arte já que, ao que parece, esta, na sua constituição e instalação, radicaria na segunda concepção de ‘ aparecer’ surgindo num espaço já constituído, e em que a dimensão do seu viso seria manifestamente mais relevante que a sua própria efectividade.
A obra de arte, lugar de irradiação e fulguração, teria pois o seu significado enquanto determinante de um sentido do Mundo no já aberto da Terra, mas perderia toda a relevância enquanto in-stância da mostração da verdade.
Pensar a instituição da verdade na obra, tendo como núcleo de reflexão, a um tempo, a instalação da obra no espaço do mundo e o brotar de um ente, desbravando e constituindo o seu próprio lugar e espaço é o que Heidegger levanta como dificuldade no Suplemento a Der Ursprung des Kunstwerkes, escrito em 1960.
A dificuldade essencial consiste na conciliação de duas expressões: «constituir a verdade» (Feststellen der wahreit) e «deixar advir a chegada da verdade» (Geschehenlassen der Ankunft von Wahrheit) Sem explicitarmos este ponto será difícil compreendermos na totalidade a afirmação heideggeriana de que «A obra de arte abre a seu modo o ser do ente. A abertura, isto é, a disclosão, ou seja, a verdade do ente, advêm na obra. Na obra de arte, a verdade do ente pôs-se em obra.
A arte é o pôr-se em obra da verdade» . Em que medida a duplicidade inerente à verdade do ente se faz apresentar na obra, por que meio esta última, por si própria, institui a própria cesura no seio do ente, abrindo desse modo o ser que lhe cabe, e, finalmente, como é que a abertura – disclosão do ente, mais que este último na sua simples postura, se faz pela obra, e nela, é o que se trata de dilucidar preliminarmente.
IV.
Assim, consideremos o ente X: um par de sapatos de camponês e os quadros de Van Gogh sobre esta temática. Como podem estes últimos mostrar a verdade do ente em questão se, de acordo com o que acima apresentámos sobre o aparecer e o espaço, os dois se colocam na mais radical heterogeneidade?
A verdade do referido ente X está no do seu brotar, isto é, no nó que co-lige o não-ainda-eclodido e o aberto no qual vai ter-se o ente. É no desenlaço desse laço que reside a verdade; é no brotar originário do ente para a patenteação que a verdade se mostra, na sua dicotomia constitutiva: ser a descoberto /ser na defensiva, clareira/retraimento.
Os quadros de Van Gogh, se, na concepção heideggeriana, mostram a verdade do ente X, então, em rigor, não o imitam ou copiam, na medida em que, fazê-lo, é, tão-só, o dar a ver o viso do ente em questão no seu ter-se aí, re-produzi-lo, e não deslaçar-se a verdade.
O que acontece é algo de manifestamente diverso: a estância da obra, redutível, para Heidegger, ao que nela está em obra e, portanto, ao seu ‘conteúdo’, cruza apofanticamente o (brotar do) ente, dando-o a ver, mostrando a sua verdade. A obra é ao modo do apofântico.
A sua criação é uma , um fazer que mostra, um ‘tirar para a luz’ ou extrair para a patenteação, mostrando o que é fora do retraimento: «Porque pertence à essência da verdade o instituir-se no ente para, apenas deste modo devir verdade, há na essência da verdade esta atracção para a obra enquanto possibilidade insigne para a verdade de ter ela-mesma ser no meio do ente» .
A verdade quer dar-se em obra, a verdade dos sapatos de camponês quer vir à patência na tela de Van Gogh. A essência da verdade tem uma atracção para a obra (Zug sum werk) porque, tendo instância nela, tem mais ser no seio do ente. Deste modo, a densidade ontológica da obra está insuperavelmente unida com a espessura ôntica da verdade.
Como não pensar no facto, irrenunciável, de que a obra é um ente no mundo, e tem, como tal, a sua facticidade própria? Afinal, trata-se de inquirir: a verdade dá-se à patenteação na obra, mas qual a verdade própria da obra? Não a tem? Ou dá-se noutra obra? E a verdade desta? O questionar iria então ao infinito e o universo seria um espaço pejado de obras de arte mostrando as verdades umas das outras.
Se a verdade se dá em ente, e se mostra na obra, não pode ser desprezada a onticidade desta última: «A verdade não advém senão se se institui ela-mesma no combate e no espaço de jogo que se abrem por ela. (...) é a abertura do ente, ela apenas, que torna possível um ‘qualquer parte’ e um ‘lugar cheio de ente’. Clareira de abertura e instituição no aberto pertencem-se reciprocamente» . Iniludivelmente, a obra não se limita a instalar-se, de pôr-se no seio de um Mundo, qual oferenda ao aberto do Ser.
A obra ‘(a)tira-se’ para o espaço, rompe para a patenteação e provoca a sua própria abertura. Nisto, ela abre o seu espaço e institui-se no seu próprio sem que estes dois movimentos surjam como distintos e com diferentes tempos. Na realidade, ambos se efectivam no mesmo instante do brotar da obra enquanto ente em que a verdade ganha a entidade que se aduz à sua essência mesma: o ser fissura, diferença, obnubilação e luz. Mais do que propriar o espaço, a obra de arte concede-se o seu próprio fundo, ocupando como ente a abertura que o seu vir à presença denuncia.
A obra de arte consigna em si a dúplice concepção do aparecer e do espaço heideggerianos: instalando-se no aberto e irradiando a sua luminosidade para o mundo, acolhe em si a verdade do ente, porquanto o conflito inerente à instância desta nela está em . Nunca o que constitui o mistério na díade ser-ente, isto é: , des-velamento, está tão perto da sua mais efectiva e espontânea patenteação como obra de arte.
É na confluência dos termos da diferença inerente à essência da verdade que nos parece ser possível afirmar a necessidade de conhecer a tematização heideggeriana da obra de arte com outra nuance: é na confluência do instalar-se da obra no espaço com esse inefável dar-se, na obra e da verdade do ente que brota, na nossa perspectiva, a arte como momento fulcral de instauração.
Na medida em que é ente e colhe em si, mostrando, clareira e retraimento que a obra está no da diferença ontológica: de facto, se neste ponto fulcral do seu pensar, Heidegger se questiona sobre a diferença fundamental entre ser e ente, e sobre a efectividade do esquecimento desta questão como motivo despoletador da postura metafísica, como não revelar a assumpção desta temática para a concepção de obra de arte, esse ente que na sua in-stância mesma sincretiza esses dois elementos: ôntico e ontológico?
Se o acto criador é a um tempo uma o deixar desdobrar-se na sua fulguração e na sua presença a própria obra, e se esta é o lugar em que qualquer coisa é tirada ao ser para ter mais ser no seio do ente, a saber, a verdade, então, o dar-se da verdade na obra, conecta indubitavelmente uma hermenêutica da arte com a problemática moral do pensamento heideggeriano: «Se meditarmos em que medida ‘verdade’, como eclosão do ente, não quer dizer nada de diferente de presença do ente enquanto tal, isto é ser, então falar da instituição espontânea da verdade, isto é, do ser, no ente, este falar toca a posição em questão da diferença ontológica» .
Há que relevar esta dupla compreensão da obra de arte. Perspectivada sob o ponto de vista de tudo o que é de algum modo já-presente no seio da dimensão não velada da verdade e, portanto, mostrando a verdade de todo o ente na sua própria facticidade no seio da dicotomia Mundo/Terra, a obra de arte assume-se como instância mostrante do ser da coisa e do utensílio, e o conceito de instalação surge-nos como mais relevante.
Apenas a perspectivação da arte como instauração, numa abordagem que releve o próprio nó de todo o eclodir – a confluência de clareira e re-traimento na abertura de todo o “brotar ente”, nos fornece uma mostração da verdade própria da obra, porquanto a releva nisso de ser a um tempo instância mostrante e ente que se instaura no da sua própria abertura.
A instauração da obra é concomitantemente o momento inicial de todo o ente, e, como tal o seu surgir é um acontecimento verdadeiramente inaugural, sendo a obra pensada a partir dessa fulguração indizível que é o facto da verdade se dar, se pôr em , na obra de arte mesma.
V.
Preparados estamos para compreender o esvanecimento das categorias de autor e criação no seio da tematização heideggeriana. Numa concepção da obra em que é a verdade mesma que se atrai para o espaço télico, na pintura, para a sonoridade, na música, ou para a palavra, na poesia, o processo como o sujeito realizador de tal assumpção, que entifica o próprio querer dar-se da verdade, surge como que irrelevante mediador, descaracterizado enquanto instância produtora e apenas como simples, mas evanescente, meio para o surgir da obra.
Mas se Heidegger nos fala da assumpção da obra como um “tirar para fora” da verdade em relação ao fundo não patente, como não desprezar essa pergunta que se inquire pelo quem e como deste extrair, ainda que como instâncias que, num primeiro momento, abrem a própria possibilidade da adveniência da verdade para, no dar-se excessivo desta, logo se emudecerem e desvanecerem, deixando-se tomar e ultrapassar por aquilo que está em obra na obra, mas também perante o brotar denso e vigorante da obra na sua espessura ôntica: «A obra de arte como o obreiro – o artista – repousam ‘juntos’ naquilo que se desdobra na arte» .
É a essência mesma da obra que torna possível o processo como o sujeito da criação artística, embora estes sejam ‘nadificados’ na sua instância e essência própria, no intuito de relevar o modo como a obra surge, sem mediação, num brotar depurado que desafia toda a compreensão.
Não é no processo de criação que o elemento humano ganha a sua relevância na tematização heideggeriana. A importância quase exclusiva atribuída à temática ontológica provoca, nesta perspectivação, uma radical separação entre a criação e o homem com a finalidade de relevar a postura da obra como de um advir que nada tem de humano: «A obra quer chegar pelas suas mãos à sua imanência pura. Na grande arte, e é a grande arte apenas que faz aqui questão, o artista permanece, por relação à obra, qualquer coisa de indiferença, um pouco como se ele fosse uma passagem para o nascimento da obra, que se negaria ele-mesmo na criação» .
“Criar” (Schaffen) significa, para Heidegger, ‘tirar à fonte’, receber. Não é pois, o acto criador, um fazer a partir do dado, uma modelação, um construir que exprime e seja, como tal, caracterizador de um sujeito que pela obra se manifesta. “Criar” é um saber estar junto da fonte de onde tudo brota, do lugar do originário. O ‘criador’ é o Dasein que sabe ter-se na instância do acolhimento, que recebe para a obra a dádiva da verdade que nela se pre-senteia. No mais, a pro-dução, se é sempre um trazer ao visível, ao manifesto, é sempre o fazer que provoca a assumpção de um ente.
Na arte, o que releva de modo mais insigne, não é a produção de um ente mas o facto incontornável de que a verdade se dá em acto. Nisto o criador é tão só um poro, uma passagem, em que a própria individualidade e entidade do sujeito, porque não é o que na obra se trata de expressar, recai na própria aporia, isto é, a obra não se abre ao ser do homem, mas ao ser da verdade. A arte é uma instauração antropologicamente inexpressiva no que concerne à criação da obra.
Se, assentámo-lo já, na obra se re-colhem umbilicalmente ente e verdade, trata-se agora de perguntar pela especificidade da arte enquanto modo de mostração daqueles relativamente a outras modalidades de patenteação, consignadas no pensar heideggeriano. De facto, em que consiste a propriedade da arte? O que faz a originalidade da obra de arte? Heidegger afirma: «A instituição da verdade na obra, é a produção de um ente que não era de modo nenhum antes, e não será mais a seguir. A produção instala este ente no aberto de tal maneira que é precisamente aqui o que é a produzir que aclara a abertura da obra na qual ele advém. Aí onde a produção traz expressamente a abertura do ente – a verdade –, aquilo que é produzido é uma obra. Uma tal produção, nós chamamos-lhe criação (das Schaffen)» .
A realidade própria da obra é ser um ente que, acolhendo em si a verdade na sua estatura, tem toda a sua positividade e pregnância no facto de ser tão o ente que é. Criar é produzir um ente que não tinha ser, e não terá nunca mais ser do que o que detém no momento em que vem à clareira do aberto. Se a verdade ganha mais ser no seio do ente, a obra afirma a sua especificidade e id-entidade no facto de ser o ente ‘insólito’ e enigmático, que acolhe em si a dádiva da verdade mostrando-se através dele.
Neste sentido, a obra de arte é aquele ente cuja postura e viso provocam espanto. Enquanto ente em que a verdade se dá, ela está perto do inicial, da origem de tudo o que é patenteado nela, sendo a sua adveniência mesma o próprio apelo do in-habitual.
Face ao que está em obra na obra tudo o que é ente sem ser mais do que ente cai na familiaridade que nada desafia, no habitual que não alude à sua própria origem. A obra tem, pois uma função ‘-tica’, ela é um apelo para o maximamente inicial, sendo o seu surgir como que o concomitante do genuinamente original. ‘Ser-obra’, mais do que ‘verdade tendo ser no seio do ente’, eis o que é o mais espantoso: «O choque que é o pôr em obra da verdade, faz saltar as portas da e-normidade e no mesmo golpe rebate o familiar, ou tudo aquilo que se crê tal. A verdade abrindo-se na obra não é jamais atestável nem dedutível a partir do ente até ao presente já-posto, que se vê, então, refutado, desmentido pela obra, quanto à exclusividade da realidade. Aquilo que é instaurado pela obra não pode jamais ser contrabalançado nem compensado pelo dado habitual e disponível. A instauração é um acréscimo: ela é dom» .
A obra de arte é o lugar em que se instaura e concede um excesso. Na sua in-stância ela denuncia o que está para lá de tudo o que é, e justificando-o. Há algo de pre-valecente que se dá no ente, porém excedendo-o infinitamente. E se, nisto, ela faz denotar a vanidade do familiar, ela mostra, também, que o ‘ser-obra’ que é ‘nega’ o seu carácter de ser ente. O que aparentemente mais aproximaria a arte do homem: a produção do ente é o que a obra mesma supera pelo seu estar-aí apelando o in-habitual. A realidade da obra desvanece-se perante a dádiva que a sua instauração mesma constitui: o que denota a verdade da obra é o que ela precisamente não é enquanto ente: é excedência, é dom – o dom que é a verdade pondo-se ela mesma em obra.
A demanda heideggeriana não se queda numa apologia da obra como dádiva, relevando também questões de outro cariz, conexas com a problemática radical da questão ontológica. Temos pois a assumpção da pergunta pelo fundamento da obra, não numa perspectiva tendente a encontrar-lhe o porquê e a razão, relevando antes o horizonte em que, no surgir da obra, se coligem, no mesmo traço caracterizador, fundo (Grund) e fundação, a própria obra de arte aparecendo como acontecimento verdadeiramente auto-fundador: a obra é expressão de um salto original que a traz do nada ao ser.
A fundação é, a um tempo, a circunscrição de um espaço de instauração, do assento num fundo, e os próprios pilares que enraízam o ente ao seu fundo de ser. Enquanto instauradora de um espaço que propria a assumpção da verdade no ente, a obra é simultaneamente instância fundante e fundação: ela traz a verdade ao ente e constitui o lastro, o estame que a radica ao seu fundo de ser. Consignando estas duas dimensões, a obra surge de um inexplicável ‘salto’ que faz brotar a própria verdade como que se adiantando ao próprio ente, como se provocasse a estatura da verdade no ente sem que este mesmo surgisse desdobrando a sua própria verdade.
Nisto, a arte é quase o paradoxo, como se promovesse a dádiva da verdade sem a oferecer num ente, dando a vê-la como sendo o seu próprio fundo: «A arte faz brotar a verdade. De um só salto que se adianta a arte faz surgir, na obra, enquanto salvaguarda instauradora, a verdade do ente. Fazer surgir qualquer coisa com um salto que precede (etwaserspringen), trazê-la ao ser a partir da proveniência essencial e num salto instaurador, eis aquilo que nos assinala a palavra origem» .
Fornecendo solo à verdade e trazendo-a à estância a obra de arte é acontecimento verdadeiramente inaugural. Ela é concomitante do genuinamente inicial (Anfang). O advir da obra é coetâneo do salto que traz o que é ao ser sem mediação.
O inicial é aquilo que, estando no princípio e provocando-o não deixa de nos apelar e fascinar, porquanto continua per-passando tudo o que é. O inicial é o in-habitual de aquilo que sempre prevalece suscitando o devir de todo o ente familiar e o anima. A obra, instauração do inicial, promove a adveniência da origem, aquilo que nos con-voca e pro-voca a resposta e a co-respondência.
A obra de arte faz um apelo, des-ilude o habitual e o familiar como absolutos, mostrando que não são eles que detêm mais ser: «Aquilo que nos parece habitual não é verdadeiramente senão o habitual de um longo hábito que esqueceu o in-habitual de onde brotou. Esse in-habitual, no entanto, surpreendeu um dia o homem em estranheza, e empenhou o pensamento no seu primeiro espanto» .
VI.
A obra de arte é, nesta configuração, o ente da existência metafísica que clama de novo resposta ao espanto originário. É neste sentido que Heidegger pode afirmar a sua concepção da arte como origem, radicando de modo, insigne, pelo qual a verdade tem acesso ao manifesto e à história, a essência mesma da arte. Coetânea desta adveniência da verdade, a arte tem também, porém não só ela, essa dimensão fundamental segundo a qual é, eminentemente um ‘mostrante’, um poema (Dichtung).
Capacitada para se ‘jectar’ na patenteação, no manifesto, ela é pro-jecto de clareira, despoletadora da própria abertura em que o ente se dá na sua verdade. Nisso de fazer vir ao aberto o ente enquanto ente des-velado, a arte é Poesia, um fazer mostrante que dilucida o modo como o ser possibilita um jectar’ para o manifesto, de acordo com o qual o aberto da verdade se destina a ter estância no ente.
Porquanto, a um tempo, acolhe a dádiva da verdade posta em ente e explicita o salto enigmático do ser ao ente, a obra está no da diferença ontológica e da fundação de tudo o que é. Finalmente, na medida em que é concomitante ao originário advento da verdade do ser e faz apelo para ele, a obra de arte ganha o seu lugar entre os entes mais ‘mostrantes’ da existência metafísica.
A arte é Poesia e, nisso, mostra, a quem o faz? Qual o ente que se demanda pelo porquê de tudo assim ser, e acolhe essa mostração como detendo um sentido? Heidegger diz-nos: «A essência da arte, é o Poema. A essência do Poema é a instauração da verdade. Esta instauração, tomamo-la aqui num triplo sentido: como dom, como fundação e como inicial» .
Conquanto nos tenhamos movido numa perspectivação ontológica, o que até agora foi exposto parece suficiente, porém, a própria assumpção da arte como Poesia, como ‘fazer mostrante’, cedo mostra a necessidade de acolher, no questionamento heideggeriano sobre a arte, a temática antropológica, e a condução da abordagem ontológica a essoutra, não menos fundamental, da postura metafísica do Dasein e da inquirição deste sobre o sentido do ser.
É que, numa tematização da arte a partir dos conceitos de ‘instauração’ e ‘poesia’ a noção de ‘ criação-adveniência’ da obra, relevada tão somente na sua dimensão ontológica é manifestamente insuficiente. Há, pois, que relevar outra interpretação que sobreleve a figura do homem e o seu próprio estar metafísico: «No entanto, toda a instauração não é real senão na salvaguarda. Assim, a cada modo de instauração, corresponde um modo de salvaguardar» .
O que agora vamos tematizar, sobre a relevância do homem na concepção heideggeriana da arte vai, por assim dizer, inter-seccionar o que atrás dissemos sobre o pano de fundo de uma perspectivação ontológica, havendo que representar nesse espaço comum dos dois círculos inter-seccionados, respectivamente, as posturas ontológica e metafísica. Apenas desse modo se torna possível compreender a arte como instauração na sua tríplice dimensão de dom, fundação e inicial.
Se, por um lado, temos que é iniludível, para o filósofo, o facto de que o homem, enquanto artista, não explica a obra na sua radicalidade, porquanto a iniciativa do ‘fazer-obra’ pertence à verdade, temos, por outro lado, que a própria assumpção desta última como des-velamento só se torna compreensível numa postura em que há Dasein, esse ente para quem a verdade faz sentido.
Há uma inicial concepção que deve ser, dir-se-ia, superada, a saber, a que coloca como categoria mais elevada de compreensão da arte, a autonomia da obra em relação ao próprio horizonte do humano, ou, como diz Heidegger: «Não é o N. N. fecit que quer ser trazido ao conhecimento de todos; é o simples factum est que quer ser mantido no aberto; isto: que aqui adveio uma eclosão do ente, e que ela advém ainda, precisamente enquanto que este ser-advindo; isto: que uma tal obra é, de preferência a não ser. Este choque: que a obra seja uma obra, e a incessância da sua percussão dão à obra a constância do seu repouso em si mesma. É justamente aí onde o artista, o processo e as circunstâncias da génese da obra permanecem desconhecidas, que este choque, que este quod do ser-criado ressalta o mais puramente da obra» .
Se, na origem, o humano se desvanece, a própria instauração da obra no aberto não pode separar-se desse ente que, perante a sua instância, sente o ‘choque’ e a ‘percussão’ que dela emana. Instauração no seio do aberto e relevância da questão ontológica, sem dúvida. Porém, se ser obra é ser um ente mostrante, a relevância da sua dimensão poética só se torna possível se, aduzido ao momento instaurador, se coloca esse outro em que o Dasein, enquanto ente que mais insignemente acolhe o ser, se inquire pelo seu sentido, é iniludível que a arte na sua essência, na sua origem, é instauração da verdade.
A essência da Dichtung, da Poesia, não se esgota nesse momento originário, qual referente de uma concepção ontológica nova, mas antes suscita, e de modo não menos relevante, um novo modelo interpretativo do ente na sua totalidade. E se, de facto, a dimensão antropológica não é relevante na assumpção instauradora que conecta a obra ao fundo originário do ser, ela conquista toda a sua pregnância numa dimensão, dir-se-ia, hermenêutica, que reganha a obra para o aberto do mundo e para a dimensão historial do Dasein, configurando uma nova poética, antropologicamente mais positiva, que releva não já a dimensão da criação mas a da Salvaguarda (die Bewahrung).
VII.
Em que consiste a Salvaguarda, esse segundo elemento essencial da arte? Podemos dizer que por tal conceito se traduz o trabalho humano de deixar a obra ser o que em verdade é. Guardar a obra é o saber permanecer na verdade do ente que advém pela obra. Podemos dizer que está no poder da obra trazer ao aberto do ser a verdade do ente, mas não está no seu poder intrínseco manter-se no seu próprio elemento. Instalando-se no Mundo de cujos entes instaura a verdade, a obra tem a sua ambiência particular, ela própria o seu mundo, e fá-lo justamente na medida em que irradia para ele, como se, paralelizando com a atracção da verdade para a obra, houvesse um querer segundo, pelo qual a obra se posiciona como o mostrante do segmento do mundo em que se instaura, ganhando no seio dele a sua verdade própria.
‘Guardar a obra’ – eis a postura do Dasein pela qual ele pressente que, inerente ao instituir-se da obra num mundo, e ao abrir-se e ordenar-se de um mundo na obra, há, também, o mundo próprio da obra, qual periferia em que está no seu elemento próprio.
Tudo se passa como se houvesse, subjacente à noção de salvaguarda, uma ética do homem relativamente ao ser-obra, mediante a qual promover o desgarramento da obra ao seu mundo não é outra coisa senão insultá-la, pois que não se trata, aí, senão de abandoná-la à sua própria solidão de ser uma obra sem mundo – isto é, retirá-la do fundo em que foi deposta, fundo que é a sua própria proveniência historial, lugar em que a obra brotou para a existência manifesta.
Caricaturando: depor a Vénus de Milo nos átrios da Tate Gallery, é retirá-la do fundo grego em que surgiu para instalá-la num lugar que, muito distante do seu brotar, está todavia consignado no espaço metafísico ocidental, que a aurora filosófica grega despoletou, estando portanto no seio de uma mesma proveniência historial.
Verdadeiro insulto e traição à obra, seria antes para Heidegger o facto, bem actual, de exportar telas de Cézanne para o Japão, não porque haja aí apenas um ‘abismo espacial’ mas porque, de facto, um japonês não pode ‘sentir’ «La Montagne de Sainte-Victoire» como a sente um europeu que, enquanto Dasein ocidental, detém a mesma proveniência historial que a mencionada tela e pode ‘sentir’, por isso, a nostalgia do in-habitual que ela anuncia. Ao homem desgarrado da postura metafísica ocidental será impossível ‘guardar um hino de Hölderlin como uma sinfonia de Beethoven, e isto porque, não se tendo na verdade que tais obras desdobram, a instituem no espaço próprio de tais mundividências, e como tal, desenraízam de tal modo a obra que esta não pode mostrar o verdadeiro inicial e in-habitual de onde brotou.
Desenraizar a obra do seu mundo, eis em que consiste roubar-lhe a poesia: «Enquanto posição em obra da verdade, a arte é Poema. E é não apenas a criação, mas também a guarda da obra que é no seu modo próprio, poemática; pois uma obra não permanece real enquanto obra senão se nos demitirmos nós mesmos da nossa banalidade ordinária e entrarmos naquilo que a obra abriu, para assim conduzir a nossa essência a ter-se na verdade do ente» .
Manifesta é a assumpção do homem enquanto ente que, no fulgor da obra, se transporta para uma nova ordem de todo distinta da que configura a sua existência quotidiana. A obra é também uma via, um poro, no qual o homem se en-via para a co-respondência de aquilo que a própria obra abriu, a saber, a mesma fonte matricial onde se re-conhecem a origem da obra e a essência do homem.
A relevância da obra como mostração poética ganha a sua concretude no conluio, em uma mesma matriz, do homem e da obra enquanto mostração da verdade do ente. Só uma tal co-respondência num momento originário torna possível ao Dasein, o re-conhecimento de aquilo que, na obra, o concerne a si e ao sentido que confere ao seu existir historial: «O projecto verdadeiramente poemático é a abertura de aquilo em que o Dasein está, enquanto historial, já arriscado» .
Irradiação mostrante de um mundo que desdobra a sua ordem a partir da relação do Dasein ao aberto do Ser, mas também ente capaz de possibilitar o total desgarramento do homem em relação ao que lhe é familiar e habitual, transportando-o para um outro aí que não aquele em que tem o costume de estar, a saber, para o originário, em que ele mesmo devém ser-aí, eis como podemos caracterizar a poética da obra de arte. A postura da obra mostra ao Dasein que o verdadeiro enigma se esconde por detrás do familiar que o circum-domina.
Apenas o homem é capaz desse saber segundo o qual lhe é manifesto que não deve ser esse habitual a pre-dominá-lo, detendo também esse querer que o torna capaz de ser fiel guarda da obra nisso de, perante ela, ser capaz de se libertar dos empreendimentos quotidianos no seio do ente para se abandonar à abertura do ser: «O saber que permanece um querer, e o querer que sabe permanecer um saber, é o comprometimento ek-stático do homem existindo no aberto do ser» .
Manifestamente, a obra, por sua imanência pura, existe no manifesto do ser mostrando-o, porém, ente que é, mas sem capacidade de se auto-questionar, ela não detém o poder de se comprometer na abertura do Ser, inquirindo pelo seu sentir. Assim, a obra de arte dá-se ao único ente ao qual não é indiferente o ser que detém e é, como tal, capaz de levar no seio do aberto uma ek-sistência autêntica: o homem.
Decorrendo do que temos vindo a expor, é manifesto que a tematização heideggeriana não acolhe a possibilidade do que poderíamos chamar uma ‘hermenêutica criativa’, privilegiante de um estético.
O choque que provoca a existência mesma da obra não é desencadeado por um viso desta que, pela sua força, provocaria prazer ou outra qualquer emoção. Não é, de facto, aí, que reside para Heidegger, a verdade da experiência estética, sendo esta negada se assumida numa dimensão que exclusivamente a reconduza à .
Parece-nos, que se não é dessa aproximação sensível à obra que provém o poder desgarrante e ‘-tico’ desta, não deixa o filósofo de conceber uma certa ‘disponibilidade receptiva’ que poderíamos assemelhar a um acto de escuta, numa ressonância que aproxima a poética da obra a essa outra, de todas a mais mostrante, residente no poder nominativo da palavra.
A postura do Da-sein perante a obra – e o combate que se trava nela entre clareira e retraimento, é um estar co-respondendo ao que na obra silenciosamente se diz, não porque a obra ‘fale’, mas porque o homem incontornavelmente lhe acolhe o apelo, apelo que não o do ente-obra mesmo, mas do que nele se oferece: o brotar longínquo do ente que a obra de arte dá a ver.
Detentor do poder da palavra, esse meio conivente do ser de cada ente, o homem é perante a obra desenraizado da marca quotidiana do ente, para, numa espécie de nostalgia, sentir a dor que lhe provoca a proximidade desse longínquo: o ser que o ser-obra enquanto tal lhe revela.
Querer e saber, eis as características do homem enquanto ente disponível para escuta da obra enquanto instância em que o ser apela: «Querer, é com toda a sobriedade o pôr em liberdade que possibilita ir para lá de si mesmo em existindo e em se expondo à abertura do ente tal como esta se manifesta na obra. (...) A salvaguarda da obra é, enquanto saber, a calma e lúcida instância na e-normidade da verdade advindo na obra» .
A obra de arte é lugar em que se potencia o acto de transcensão do humano em relação ao familiar e habitual na prossecução de uma verdade mais primeira. Conceder a própria possibilidade de excedência em relação à sua vida interior, na via do horizonte em que o homem co-responde mais ao seu ser, a saber, à verdade, eis a dádiva principal que a obra de arte concede ao Dasein.
VIII.
A necessidade de tematizar numa mesma conivência uma ontologia da obra de arte e a sua ‘significação hermenêutica’ conduziu-nos, neste nosso percurso, à dilucidação da questão da instauração poética da verdade e do trabalho humano de salvaguarda, enquanto momentos característicos da concepção heideggeriana da obra de arte.
O facto, incontornável no pensamento do filósofo, de que o Ser é assignação e direcção ao homem na mesma medida em que o homem ele próprio é um ‘projecto’ do Ser e o seu mais inacabado dos poemas, faz-nos relevar o coligimento da tematização ontológica e antropológica na concepção da obra de arte na sua mesmesura, com essa outra que atine à salvaguarda da mesma pelo Da-sein.
Assim, a pergunta que demanda: a tematização heideggeriana da arte tem como nexo dinâmico o homem ou o Ser? Terá de ter resposta algo dúbia e inexplícita, no seio do próprio texto de Heidegger: se respondemos a favor do homem, teremos que a concepção do filósofo não poderá descurar a metafísica, se bem que atentando também ao originário de onde esta brota enquanto postura historial da nossa ek-sistência ocidental; se nos decidirmos exclusivamente pelo Ser então a determinação da arte redundará inevitavelmente na questão fulcral da ontologia: o que é o Ser? E enredar-se-á nela a ponto de se tornar aporética, porquanto, descurando o homem, e a metafísica em que este habita, perguntar-se-á: como explicar o processo historial de salvaguarda da arte, sem um Dasein que o cumpra e explicite?
O termo ‘historial’, relevado por nós a propósito desta dúplice possibilidade, parece-nos fundamental, fazendo brotar uma questão necessariamente subsequente: que relação entre verdade e dimensão historial? Ou seja: «O que resta é a questão de saber se a arte é ainda, ou se não o é mais, uma maneira essencial e necessária de advento da verdade que decida do nosso Dasein historial» .
O que no questionar de Heidegger nos parece mais aporético, e justamente na proporção em que é uma temática fulcral, reside na dificuldade em explicitar de que modo o homem enquanto ente historial que, como tal, salvaguarda, pode estar também sempre perto da fonte, isto é, da matriz grega do despoletar possibilitador da metafísica enquanto postura indagante.
Trata-se de inquirir os meios pelos quais se viabiliza a conciliação da historicidade da Arte com uma concepção que a tematiza em concomitância com a originária , enquanto predominância que advém ao manifesto através do conflito entre Ser e ente, isto é, pela matriz grega da verdade como , des-velamento, num regredir ao momento originário que permanece per-passando tudo o que é e devém, relevando aí, a própria postura metafísica. Qual a temporalidade que revém no ser estético? Como a conciliar com a atemporalidade do que está em obra na obra? Trata-se de relevar qual a relação possível entre a intemporalidade da verdade dando-se na obra e a historicidade da salvaguarda: «A arte é então: a salvaguarda criando a verdade na obra. A arte é pois um devir e um advir da verdade» .
Não é um facto que, concebendo uma verdade que devém pela sua própria salvaguarda, há uma imbricação necessária, porém inexplícita, entre as tematizações ontológica e metafísica no que concerne a tal noção? Não é precisamente o acolher metafísico da Arte que se quer negar, superando-o numa concepção da arte que a reconduz ao originário longínquo que despoleta toda a herança metafísica, mas que porém não é só e nem primordialmente metafísico na sua origem? Não é de certo modo paradoxal afirmar: «Mesmo o esquecimento no qual pode soçobrar uma obra não é nada: ele é ele-mesmo ainda uma salvaguarda» ? Como, este poder conceber uma salvaguarda esquecida no próprio esquecimento do Ser que é já a metafísica? Não haverá, em Heidegger, o perigo de recair numa certa interpretação metafísica da Arte, quando é precisamente o conceito metafísico desta que se trata de superar, pensando a essência da Arte como apontando para uma outra ordem, ontológica, que se demanda pelo ser ainda virgem da metafisicidade à qual ele próprio se destinou, porém ainda não viciado por ela?
IX.
Estas são algumas das dificuldades decorrentes da problemática trabalhada, a que aditamos agora, e em jeito de conclusão, uma outra que atine, assim o pensamos, à própria indefinição do que seja a Arte, na própria espessura individual do termo. Uma vem concedido que a obra de arte, na sua pregnância é o pôr-em-obra a verdade, e que esta designa o não-retraimento do Ser, não sabemos também que, no seio do pensamento heideggeriano, a verdade se dá também por outras vias? «Todo o ensaio sobre a Origem da obra de arte se move conscientemente, e no entanto sem o dizer, sobre o caminho da questão da essência do ser.
A meditação sobre o que é a arte é inteira e decisivamente determinada pela única questão do ser. A arte não é considerada como uma das manifestações do espírito. A arte advém da fulguração a partir da qual apenas se determina o ‘sentido do ser’. O que pode ser a arte, eis uma das questões às quais o ensaio não dá resposta. E o que parece ser uma resposta não é senão um sinal que guia o questionamento» . Heidegger tem consciência das dificuldades em que se enreda a determinação da essência da Arte.
Se a definição do que seja a Arte brota no fulgor que desencadeia a radical questão do ‘sentido do ser’ temos que outras posturas que não a artística são, para o filósofo, igualmente reconducentes a este primordial perguntar, como por exemplo: a constituição de um Estado, o trabalho fulcral do pensar em se deter no da origem de tudo o que é, e, de modo mais relevante ainda, a própria postura ek-sistencial do Dasein, que, na sua estada autêntica no aberto do ser lhe inquire o sentido, abrindo-se para ele a verdade, qual gratificação pelo árduo labor de pastorear o Ser, esse estar permanente numa dimensão de pré-compreensão ontológica.
O que queremos dizer com isto? Apenas o seguinte: para que a verdade advenha não é preciso que ela ganhe estância na periferia ôntica da obra. Para Heidegger, ela apela constantemente o ser-aí do homem, dispondo-o à escuta da fonte numa postura historial em que a presença mesma da fonte se deixou esquecer. Citando Goethe, como o próprio filósofo o faz no capítulo A Arte e o Espaço do texto “Tempo e Ser” : «Não é sempre necessário que o verdadeiro se incorpore; é bem suficiente que ele plane em redor como espírito e provoque o acordo; que como o canto dos sinos, a sua vaga se espraie pelos ares, sorriso da serenidade».
Suscitar a escuta guardando o olhar virado para a pertença recíproca do Ser e da Palavra, eis a dimensão em que, latamente, a verdade se dá a ver. Não só na Arte, portanto ela está ‘em redor’, borbotejando do todo do mundo, e do Ser. É este todo uma imensa obra de arte, continuamente espantando pela sua enormidade?
Sem dúvida que Heidegger nos diz ainda que «a arte é ela mesma, na sua essência, uma origem, e nada de outro: um modo insigne de acesso da verdade ao ser, isto é, à História» . Porém, perguntamos, se toda a verdade que se des-vela para a História tem a Arte como origem, se a arte esgota, por isso, todas as modalidades de patenteação da verdade?
Por excesso ou por defeito, o conceito de Arte descaracteriza-se, perdendo a sua pre-valência como mostração da verdade pensada a partir de uma poética instauradora, na medida em que não é só por esta que a verdade se manifesta, perdendo igualmente a sua especificidade se pensada a partir do conceito de origem. Afirma o filósofo no Posfácio: «As considerações precedentes concernem o enigma da arte; o enigma que a arte é ela mesma» .
No da origem tudo é misterioso: a Arte, como o pensar, como o ente, como o homem. Na tarefa de especificar o que seja a arte, isto de a pensar a partir da origem inefável do brotar-ser pode constituir um último recurso, mas não permite resolver o problema e nada acrescenta de positivo à noção, por nós já estudada, de poética instauradora. Com efeito, conquanto esta categoria permita dilucidar a especificidade da postura da obra de arte, ela permanece todavia impotente relativamente à determinação da essência da própria Arte, a proveniência inicial desta sempre recaindo no domínio para nós insuperavelmente inexplicável e misterioso. Heidegger propondo enigmas... Pretensão do filósofo, ao querer ser Esfinge? Ou erro deste nosso estar metafísico, que nos não deixa ser Édipo?
BIBLIOGRAFIA
• HEIDEGGER, M., Sein und Zeit, “Gesamtausgabe”, Band 2, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1977.
* HEIDEGGER, M., Vom Wesen Der Wahrheit, in Wegmarken, “Gesamtausgabe”, Band 9, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1976.
* HEIDEGGER, M., Der Ursprung des Kunstwerkes, in Holzwege, “Gesamtausgabe”, Band 5, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1977.
* HEIDEGGER, M., Einführung in die Metaphysique, “Gesamtausgabe”, Band 40, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1983.
* HEIDEGGER, M., L’Art et l’Espace, in Questions IV, trad. do alemão por André Préau, Roger Munier e Julien Hervier, Paris, Gallimard, 1966.
Isabel Rosete
sábado, 9 de janeiro de 2010
CONHECER É SER

Parmênides de Eléia defende a idéia que conhecer é SER, é alcançar o idêntico, o conhecimento como instrumento de afirmação da identidade. Conhecer é ser autêntico, autônomo, é ter personalidade. Mas como é possível afirmar a identidade num contexto histórico-social que impõe a negação da permanência e suspende valores?
O direito e a necessidade de ter uma identidade é que nos torna seres essenciais e únicos, sem essas características, seremos apenas número, cópia talvez e na pior das hipóteses: massa de manobra.
Conhecer é ser, um conhece-te a ti mesmo infinito, uma busca constante das raízes fundante da nossa história, do nosso ethos.
Heráclito de Éfeso constrói uma outra perspectiva sobre o conhecimento, onde conhecer é DEVIR, movimento, dialética, mudança, metamorfose. “Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia” canta Lulu Santos. A música COMO UMA ONDA, faz referência ao conceito de conhecimento proposto por Heráclito.
Conhecer é agir, pois diante daquilo que é conhecido, descoberto, revelado, não podemos ficar parados “com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar” como afirma Raul Seixas. Nesse sentido, conhecer é mudar a realidade, apresentar, propor, ofertar algo novo para a sociedade e para a nossa própria história.
Conhecer é SER, conhecer é DEVIR (ação). A partir dessas duas hipóteses a comunidade acadêmica produz a sua dinâmica, seu complexo emaranhado de coisas idiossincraticamente (particularmente) racional, lógico e emocional, pois sem emoção não há vida, não há envolvimento, calor, opiniões e divergências.
Depois desse grande debate em torno da verdade, da primeira substância, das perguntas e respostas iniciais para explicar racionalmente o surgimento da vida e tudo o que nela há, a filosofia grega apresenta a sua tríade mais famosa: Sócrates, Platão e Aristóteles.
Sócrates com a Ironia e a Maiêutica constrói uma das primeiras perspectivas (método) de educação da história da humanidade, Platão e o seu Mundo das Idéias coloca a razão num patamar de primeira importância, Aristóteles com a sua praticidade (Forma e Substância) contribui para o desenvolvimento das ciências e da compreensão do que é realidade.
Conhecer é SER, é VIVER, é PENSAR, é FAZER. Isso tudo é FILOSOFIA
Ivandilson Miranda Silva
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
FILOSOFIA E PEGAGOGIA

"MARIA MONTESSORI nasceu em 31 de Março de 1870, em Chiaravalle, de uma família conhecida pelo seu fervor religioso; feitos os estudos elementares, entrou na Universidade, matriculando-se na Faculdade de Medicina; a resolução causou estranheza porque até aí nenhuma mulher ousara cursar a Faculdade: considerava-se, em toda a Itália, que não eram trabalhos a que se pudessem dedicar as mulheres, sobretudo as que tinham amor de Deus e das coisas sagradas; Maria Montessori arrostou com todas as oposições, venceu uma a uma as resistências, impôs-se pelo seu gosto do estudo; respeitavam-na os mestres e os condiscípulos, todos que a conheciam foram louvando a sua inteligência e a sua coragem; havia nela um desejo de ver claramente os problemas, uma ânsia de servir a humanidade, um poder de iniciativa que lhe preparavam uma carreira brilhante.
Em 1896, alcançou o diploma de doutoramento e começou a ver-se como uma curiosidade a primeira médica italiana; ela, no entanto, só pensava em preparar-se melhor, em entrar na sua vida profissional armada, como um bom cavaleiro, de boas armas; interessavam-lhe sobretudo as doenças do sistema nervoso e concorreu ao internato da clínica de psiquiatria; a pouco e pouco foi-se especializando: as crianças desequilibradas atraíram-lhe a atenção e a piedade, encontrava-as em grande número num hospital de doidos onde ia escolher os seus doentes; toda a sua alma se confrangia ante os pobres seres que um duro destino aniquilara e ante os quais a medicina pouco podia; uma imensa piedade a invadia e a cada passo lhe lembravam as palavras de Jesus sobre os pequeninos; também ela estava certa de que o reino de Deus se não poderia construir sem a ajuda da criança.
O seu interesse pelos anormais levara-a ao conhecimento dos trabalhos de Ittard que, no tempo da Revolução Francesa, tivera de educar um idiota de oito anos conhecido pelo Selvagem de Aveyron e que, pela primeira vez, praticara uma observação metódica do aluno, construindo depois sobre ela o seu método de educação; de Ittard passou a Montessori a Edouard Séguin, professor e médico, que fizera durante dez anos experiências pedagógicas com pequenos internados numa casa de saúde e montara a primeira escola para anormais; leu atentamente o seu livro Hygiene et éducation des idiots et autres enfants arriérés (1846), seguiu-se-lhe o trabalho feito na América para onde emigrara e onde tinha fundado escolas de atrasados e anormais; em Nova Iorque, publicara outro livro, Idiocy and his treatment by physiological method (1866), em que dava o essencial do método.
Séguin insistia sobretudo na necessidade de uma observação cuidadosa do aluno; nada devia ser feito que pudesse representar uma violência às suas possibilidades psíquicas, o mestre não devia ser um modelador mas um espírito atento, pronto a aproveitar, fornecendo-lhe pontos de apoio para que se exercesse, todo o mais leve sintoma de um despertar psicológico; como o homem que ajuda o atleta no salto, tratava-se de amparar, não de forçar; o mestre devia, portanto, ter uma preparação científica cuidada e um perfeito domínio de si próprio; ao mesmo tempo, Séguin fornecia-lhe um material que construíra depois de anos de experiência e que lhe parecia ser o mais adaptado aos interesses espontâneos do anormal; o esperar aparecia no método de Séguin como a primeira grande qualidade do professor de anormais; a segunda, era a de saber aproveitar as oportunidades, que são quase sempre únicas, de fixar e desenvolver as débeis iniciativas internas do aluno.
Em 1898, num congresso em Turim, defendeu a Montessori a tese de que os deficientes e anormais precisavam muito menos da medicina do que dum bom método pedagógico; não se punha, evidentemente, de parte tudo o que fosse tratamento do sistema nervoso, reconstituintes e tónicos; mas assegurava-se que as esperanças de qualquer desenvolvimento estavam no mestre, não no clínico; era necessário que se criasse à volta do aluno um ambiente que o ajudasse, e que os médicos desprezavam, demasiado interessados por uma terapêutica tomada em sentido restrito; não havia que internar os anormais em casas de saúde e fazê-los desfilar pelas clínicas; tinham de se construir escolas onde se aperfeiçoassem, pela observação quotidiana, os métodos de Séguin e onde, ao mesmo tempo, se pu- dessem formar os professores; porque, sem bons professores, nada se poderia fazer .
Guido Baccelli, que fora professor de Maria Montessori e ocupava então o lugar de ministro da Instrução Pública, interessou-se pela comunicação e chamou-a a Roma para uma série de conferências sobre o ensino de anormais; as conferências despertaram o interesse de todos que se dedicavam ao assunto e criaram um movimento de opinião a favor das ideias que defendia a Montessori; o facto de terem dado excelentes resultados as experiências de Séguin em Paris e na América animava os mais cépticos; havia que tentar na Itália um instituto semelhante aos de Séguin; com relativa facilidade, pôde Baccelli fundar uma Escola Ortofrénica, com internato para crianças anormais e com organização que permitia fornecer os mestres que desejassem entregar-se a tal especialidade: fixara-se bem no espírito de todos a ideia de que um mestre sem preparação compromete os resultados de um método por melhor que este seja.
Toda a vida de Maria Montessori se orientava agora para a educação dos anormais; tomava conhecimento de tudo quanto se ia publicando em Itália e no estrangeiro sobre pedagogia, aproveitava todas as sugestões que se lhe afiguravam úteis, prosseguia infatigavelmente as suas experiências com os alunos do internato; mostrava aos candidatos a professores como a tarefa que empreendiam era das mais nobres que alguém pode tomar sobre si, como a caridade, o espírito de sacrifício, a atenção, o íntimo entusiasmo, o optimismo e o zelo pelo trabalho formam o indispensável fundamento em que vêm assentar os conhecimentos e preceitos; já desde então lhe surge no espírito o pensamento de que na escola não ganham só os alunos, mas também os mestres, e de que a educação não é, como se julgara até aí, um jogo unilateral: se a escola é boa, a personalidade do mestre deve também enriquecer-se ao contacto da do aluno, mesmo que se trate de anormais, e, como veremos, sobretudo se se trata de anormais.
As viagens a Paris e a Londres puseram-na a par do que se fazia de mais moderno em outros países; já, porém, a sua escola se colocava em melhor plano do que aquelas que visitava; sentia que dentro de pouco tempo Séguin estaria superado; ao regressar, trabalhou ainda com mais vontade: dia após dia, das 8 da manhã às 8 da tarde, Maria Montessori instruía os mestres, observava os alunos, redigia as suas notas, atendia a consultas, entrava em ligação com todas as pessoas que podiam ajudá-la; mandara fabricar o material de Séguin e aperfeiçoara-o, pusera de lado o que reconhecia insuficiente, criara ela própria material novo; o esforço físico a que se obrigara prostrou-a por fim; mas os anormais que educara, submetidos a exame nas escolas públicas, prestaram provas tão boas como as dos alunos normais.
Triunfava, mas, no descanso que se impusera, um novo problema a preocupava; como era possível que alunos anormais quase batessem os normais? Só havia uma explicação: a de que as escolas de normais estavam mal organizadas, a de que os métodos eram péssimos e sacrificavam todas as possibilidades que a natureza, generosamente, tinha distribuído à maior parte das crianças; se assim era (e que dúvida poderia existir?), havia uma faina mais importante do que educar anormais: tinha que libertar os milhões de espíritos que implacavelmente as máquinas escolares diminuíam ou esmagavam; a empresa apareceu-lhe como tão grandiosa, a missão como tão bela que teve medo de se entregar por completo ao sonho magnífico; dominou-se e disciplinou-se: tinha de preparar-se cuidadosamente, antes de se lançar pelo novo caminho que se abria.
Abandonou a Escola Ortofrénica e entregou-se a uma nova leitura de Ittard e de Séguin; traduziu-lhes os livros para italiano, esforçando-se por os escrever como um calígrafo, para que cada palavra se lhe gravasse indelevelmente no espírito; durante meses, Maria Montessori medita no silêncio do seu gabinete, esforçando-se por dar às suas ideias a forma exacta e a íntima convicção que lhe seriam depois os meios infalíveis para a conquista do mundo; como um guerreiro em vela de armas, só quer no seu espírito pensamentos nítidos e puros; a linha essencial vai-se desenhando a pouco e pouco e o livro que Séguin publicara em1866 dá-lhe o traçado definitivo: o método que o francês criara era tão bom que dava resultado, mesmo quando se aplicava a alunos anormais.
A preparação, porém, não se podia considerar completa; Maria Montessori volta a ser estudante e frequenta as aulas de psicologia experimental e de pedagogia; ouvidos os professores de Roma, corre aos de Nápoles e de Milão e fixa o mínimo ensinamento, cuidadosamente o insere no seu próprio sistema, eliminando o que a experiência lhe indica como errado, modificando o que uma segura penetração do problema lhe faz ver como precipitada conclusão; as bibliotecas e os cursos conhecem-lhe a assiduidade fervorosa e, não contente com os conhecimentos que eles lhe forneciam, procura alargá-los visitando as escolas elementares do reino, inquirindo junto dos professores dos métodos seguidos e dos resultados obtidos, assistindo às aulas, manejando as classes quando lhe era possível fazê-lo.
O seu trabalho com os anormais e o interesse que demonstrava pelas questões de educação levaram o ministro a nomeá-la para a cadeira de antropologia pedagógica de Roma; era um lugar em que podia exercer uma grande influência, expondo as suas ideias sobre o ensino elementar e levando os futuros mestres a não considerarem como resolvido o problema da escola; lançar-lhes no espírito a dúvida quanto ao que se tinha feito até aí era já um grande passo; mas o que havia a fazer de positivo, não era da sua cátedra que o faria: as palavras podem preparar os espíritos, mas, nas questões de educação, só as realizações, com os resultados que ninguém pode discutir, trazem a vitória aos que se apresentam como paladinos de uma ordem nova.
Pensou em seguir o caminho que tomara com os anormais e fez diligência por que se fundasse uma Escola Normal, com classes de experiência, por onde passariam todos os alunos e mestres; as duas tarefas - a da reforma de métodos e a preparação de professores - iriam a par, como da outra vez, dando todas as garantias contra a falência por falta de formação do pessoal; a burocracia, porém, que até então se mostrara anormalmente compreensiva e pronta, pôs obstáculos que se revelaram insuperáveis; nenhum esforço conseguia vencer a espessa barreira e Maria Montessori teve, por uns tempos, de se resignar ao único meio de que dispunha para ir espalhando as suas ideias.
Mas não desanimava; sabia que, quando uma ideia e uma vida formam um todo indissolúvel e existem uma pela outra, cedo ou tarde o mundo acede à vontade invencível e se deixa modelar, oferecendo quanta vez uma riqueza de possibilidades muito superior ao que se tinha julgado; e, segundo o que pensava, a ocasião surgiu: uma empresa italiana que construía prédios para gente pobre pediu-lhe, em 1906, que ajudasse a resolver um problema importante: os pais dos pequenos que moravam nos prédios iam para o seu emprego muito cedo e quase todo o dia estavam ausentes de casa; o resultado era que as crianças, entregues a si próprias, faziam um barulho insuportável e estragavam o prédio; se Maria Montessori quisesse tomar conta do trabalho de as aquietar e entreter, estavam dispostos a ceder-lhe uma sala em cada "bloco" e a pagar-lhe o pessoal necessário.
Maria Montessori mediu imediatamente as vantagens excepcionais da oferta: em primeiro lugar não se tratava de escolas, não havendo, portanto, nenhuma espécie de exigências quanto a programas e exames; em segundo lugar, os pais não possuíam a mínima noção de pedagogia e não seriam tentados a intervir no funcionamento da sala; por fim, se o método desse resultado, teria, para a sua difusão imediata e aplicação a todas as escolas elementares, duas qualidades importantes: era barato e dava resultado mesmo com camadas de população de baixo nível cultural e de deficiente vida material.
Escolhido o prédio em que se devia fazer a primeira experiência e contratada uma professora, elaborou-se o regulamente traçado em linhas muito simples: admitiam-se todas as crianças da casa, desde os 3 aos 7 anos de idade, sem nenhum dispêndio para os pais, que apenas se comprometiam a mandá-las às horas indicadas pela directora, lavadas e com vestidos limpos; a ajudar o pessoal na sua tarefa de educação; a darem à directora as informações que lhes pedissem quanto ao comportamento da criança em casa; a acatarem os conselhos que lhes dessem os professores; os pequenos que se apresentassem sujos ou mal cuidados ou que se mostrassem indisciplinados não poderiam frequentar a sala; por último, excluir-se-iam também aqueles cujos pais faltassem ao respeito ao pessoal da Casa ou de qualquer modo entravassem a acção educativa que se empreendia com a fundação; todos os casos omissos seriam resolvidos pela directora.
A primeira Casa dei Bambini abriu em Janeiro de 1907, com instalações que ficavam muito aquém das que hoje se exigiriam numa escola bem montada, mas que davam à Montessori toda a possibilidade de fazer as suas experiências; o mobiliário era rudimentar , faltavam flores, as crianças não tinham espaço suficiente para os recreios; mas, na parede, a Madona deIla Sedia de Rafael era o símbolo de todo o carinho, de toda a inteligente dedicação, de toda a vontade criadora que se iam empregar na empresa; a professora escolhida compreendia Maria Montessori e seguia-lhe as directrizes com entusiasmo pela tarefa e confiança nos princípios do método.
Tão bons resultados deu, quanto a disciplina, a primeira Casa, que a empresa resolveu abrir outra; a 7 de Abril, inaugurou-se a segunda, pouco depois uma terceira; as perspectivas eram brilhantes porque a empresa possuía já 400 prédios, e 400 escolas Montessori seriam mais que o bastante para impor o método a toda a Itália e depois ao resto do mundo; os educadores começavam a chegar a Roma e a visitar as Case dei Bambini, regressando entusiasmados com o que se conseguia fazer: falavam de crianças novas, dos seres extraordinários de delicadeza, de precisão, de inteligência, de correcção que Maria Montessori soubera criar; nas escolas que iam montando noutras cidades, os professores mais audaciosos guiavam-se todos pelas normas montessorianas que vinham aprender nas visitas às Case .
Teresa Bontempi introduziu-as na Suíça e as escolas infantis deixaram Froebel por Montessori; pouco depois fundou-se uma escola na Argentina e, em 1910, o método penetrou nos Estados Unidos; em 1911, abriu-se uma escola em Paris e, em 1913, constituiu-se na Inglaterra uma sociedade Montessori. Ao mesmo tempo duas sociedades, uma de Milão, outra de Roma, ofereceram-se para fabricar o material necessário e a baronesa Alicia Franchetti pagava a primeira edição da Pedagogia Científica em que Maria Montessori expunha os princípios e a didáctica do seu método; e, em 1911, devido aos esforços de Maria Maraini Guerrieri, o método Montessori era adoptado nas escolas primárias de Itália.
Hoje, os livros de Maria Montessori estão traduzidos em numerosas línguas, entre as quais o chinês e o árabe; há escolas Montessori em todo o mundo, até no Tibete e no Quénia; na Itália, na Hungria, na Holanda, no Panamá e na Austrália, os governos mandam adoptar o método nas escolas oficiais e modificam as leis escolares, todas as vezes que há entre elas e o funcionamento das escolas qualquer incompatibilidade; a preparação dos mestres também não foi descuidada e em vários países existem escolas de formação montessoriana; a sociedade Montessori tem secções em todas as terras civilizadas e funda escolas, organiza conferências, cursos de férias; o movimento amplia-se cada vez mais, embora com todas as modificações que os progressos recentes da pedagogia apresentam como aconselháveis. (Agostinho da Silva, "O Método Montessori", pp.11-20)
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
quinta-feira, 7 de janeiro de 2010
"A Filosofia é uma tarefa criativa"
Para meus alunos de tão poucos dias
O que nos une não são as festividades de final de ano, mas os agenciamentos.
Foram dois cursos diferentes, identificados pelo mesmo espírito: o da invenção e o da criação. Falei-lhes de amantes que só oferecem, às suas amadas, o amor; o amor do corpo expressivo. Falei-lhes de orquídeas, enamoradas de vespas – e de pássaros que cantam para o crepúsculo. Mostrei-lhes as trevas barrocas e os clarões, como um inconsciente livre das formas do hábito. Os nossos cursos foram musicais, desde que a música seja aquilo capaz de tornar belo seja o que for. Enfim, o nosso encontro, - encontro de corpos -, pertenceu ao reino do encantamento, mostrando que a filosofia é uma linha melódica, tão poderosa, que produziu em nós um acorde, digo, ou melhor, repito – um acordo: o dos amantes do corpo expressivo, que só oferecem, um ao outro, o amor.
A filosofia é uma tarefa criativa; uma festa de delírio lógico – um excesso de entendimento. Ensinei-lhes filosofia, a minha festa privada. Quebramos os relógios, e tornamos as horas intensas; fizemos do tempo uma mistura de palavras lindas; fizemos do tempo um vazio, e o percorremos como se fôssemos cavalheiros do pensamento: mais exatamente, como se fôssemos exploradores das tempestades dos mundos possíveis. Compreendemos a diferença entre forma e matéria-prima. Construímos barreiras contra a tolice, tornando o nosso agenciamento algo gentil e inesquecível.
Em qualquer momento da minha vida, sem questão, serei assolado, tocado, pelas divinas cativas, as pequeninas almas que a presença de vocês deixou para mim, como meu cortejo.
Agora que nos despedimos, retomo: a criança é uma matéria-prima; é uma potência; múltiplas forças em movimento. O que com ela, a criança, temos de fazer – é entendê-la. Aprender com ela, a criança, que ensinar é fazer uma viagem.
Sinceramente,
Claudio Ulpiano
Em 2010 o site estará de cara nova! Estamos trabalhando para tornar o acesso às aulas em áudio mais simples e o site mais interativo, o que permitirá uma troca maior com os antigos e novos alunos. Enquanto isso, não deixem de ler, na atualização de final de ano, o artigo de Tatiana Roque na seção Claudio Ulpiano:
A Amizade Filosófica – o encontro de Gilles Deleuze com Claudio Ulpiano
As aulas 6, 7 e 9 do Curso de Verão:
Tornar visível o invisível
A potência não-orgâniaa da vida
Personagem Conceitual e Personagem Estético
A aula 3 do curso “O que é a filosofia”: Corpo orgânico e corpo expressivo, de 24 de janeiro de 1996
Em filosofia e Cinema: O artigo O Pornógrafo – Quanto mais quente melhor, de Mariza Gualano, na coluna Plano Geral.
Fonte: "Centro de Estudos Claudio Upiano" - Brasil http://www.claudioulpiano.org.br/maladireta_dezembro09.htm
Isabel Roete - pesquisa e divulgação
Centro de Estudos Claudio Ulpiano
www.claudioulpiano.org.br
O que nos une não são as festividades de final de ano, mas os agenciamentos.
Foram dois cursos diferentes, identificados pelo mesmo espírito: o da invenção e o da criação. Falei-lhes de amantes que só oferecem, às suas amadas, o amor; o amor do corpo expressivo. Falei-lhes de orquídeas, enamoradas de vespas – e de pássaros que cantam para o crepúsculo. Mostrei-lhes as trevas barrocas e os clarões, como um inconsciente livre das formas do hábito. Os nossos cursos foram musicais, desde que a música seja aquilo capaz de tornar belo seja o que for. Enfim, o nosso encontro, - encontro de corpos -, pertenceu ao reino do encantamento, mostrando que a filosofia é uma linha melódica, tão poderosa, que produziu em nós um acorde, digo, ou melhor, repito – um acordo: o dos amantes do corpo expressivo, que só oferecem, um ao outro, o amor.
A filosofia é uma tarefa criativa; uma festa de delírio lógico – um excesso de entendimento. Ensinei-lhes filosofia, a minha festa privada. Quebramos os relógios, e tornamos as horas intensas; fizemos do tempo uma mistura de palavras lindas; fizemos do tempo um vazio, e o percorremos como se fôssemos cavalheiros do pensamento: mais exatamente, como se fôssemos exploradores das tempestades dos mundos possíveis. Compreendemos a diferença entre forma e matéria-prima. Construímos barreiras contra a tolice, tornando o nosso agenciamento algo gentil e inesquecível.
Em qualquer momento da minha vida, sem questão, serei assolado, tocado, pelas divinas cativas, as pequeninas almas que a presença de vocês deixou para mim, como meu cortejo.
Agora que nos despedimos, retomo: a criança é uma matéria-prima; é uma potência; múltiplas forças em movimento. O que com ela, a criança, temos de fazer – é entendê-la. Aprender com ela, a criança, que ensinar é fazer uma viagem.
Sinceramente,
Claudio Ulpiano
Em 2010 o site estará de cara nova! Estamos trabalhando para tornar o acesso às aulas em áudio mais simples e o site mais interativo, o que permitirá uma troca maior com os antigos e novos alunos. Enquanto isso, não deixem de ler, na atualização de final de ano, o artigo de Tatiana Roque na seção Claudio Ulpiano:
A Amizade Filosófica – o encontro de Gilles Deleuze com Claudio Ulpiano
As aulas 6, 7 e 9 do Curso de Verão:
Tornar visível o invisível
A potência não-orgâniaa da vida
Personagem Conceitual e Personagem Estético
A aula 3 do curso “O que é a filosofia”: Corpo orgânico e corpo expressivo, de 24 de janeiro de 1996
Em filosofia e Cinema: O artigo O Pornógrafo – Quanto mais quente melhor, de Mariza Gualano, na coluna Plano Geral.
Fonte: "Centro de Estudos Claudio Upiano" - Brasil http://www.claudioulpiano.org.br/maladireta_dezembro09.htm
Isabel Roete - pesquisa e divulgação
Centro de Estudos Claudio Ulpiano
www.claudioulpiano.org.br
"Guerra justa" e o Nobel da Paz
O debate da política externa: a moral internacional e o poder
Ao receber o Nobel da Paz, Obama recorreu às idéias de São Agostinho e de Santo Tomás de Aquino sobre a legitimidade moral das "guerras justas". Ao fazer isso, retomou a tese medieval de que existiria uma única moral internacional, situada acima de todas as culturas e civilizações.
José Luís Fiori
“No grau de cultura em que ainda se encontra o gênero humano, a guerra é um meio inevitável para estender a civilização, e só depois que a cultura tenha se desenvolvido (Deus sabe quando), será saudável e possível uma paz perpétua.”
Immanuel Kant, “Começo verossímil da história humana”, 1796
A confusão já era grande, e ficou ainda maior, depois do discurso do presidente norte-americano, Barack Obama, em defesa da guerra, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, de 2009. Como liberal, Obama poderia ter utilizado os argumentos do filósofo alemão, Immanuel Kant (1724-1804), que também defendeu, na sua época, a legitimidade das guerras, como meio de difusão da civilização européia, até que chegasse a hora da “paz perpétua”. Mas Obama preferiu voltar à Idade Média e recorrer às idéias de São Agostinho (354-430) e de Santo Tomás de Aquino (1225-1274), sobre a legitimidade moral das “guerras justas”.
A opção do presidente Obama não foi casual: através dos santos católicos, em vez dos filósofos iluministas, ele tentou retomar a tese medieval de que existiria uma única moral internacional, situada acima de todas as culturas e civilizações, capaz de embasar juízos objetivos e imparciais, sobre a conduta de todos os povos e todos os estados. E não deve ter passado despercebido do presidente Obama, que o argumento da “guerra justa” - sobretudo no caso de Santo Tomas de Aquino - estava associado como projeto de construção de uma monarquia universal, da Igreja Católica, dos séculos XII e XIII. O que talvez ele tenha esquecido ou desconsiderado é que este projeto “cosmopolita” de Roma foi derrotado e desapareceu depois do nascimento dos estados nacionais europeus. Da mesma forma que a tese da “guerra justa” foi engavetada, depois da crítica demolidora de Hugo Grotius (1583-1645), o jurista holandês e liberal que demonstrou que no novo sistema inter-estatal que havia se formado na Europa, era possível que frente à uma única “justiça objetiva”, coexistissem várias “inocências subjetivas”.
Em outras palavras: mesmo que se acreditasse na existência de uma única moral internacional, dentro de um sistema de estados eqüipotentes, não haverá jamais como arbitrar “objetivamente”, sobre a legitimidade de uma guerra entre dois estados. Por isto, na prática, esta arbitragem coube sempre, através dos tempos, aos estados que tiveram capacidade de impor seus interesses e seus valores, como se fossem interesses e valores universais. Nos séculos seguintes, este “paradoxo de Grotius”, se transformou na principal contradição e limite da utopia liberal inventada pelos europeus. Thomas Hobbes (1588-1679) e Immanuel Kant (1724-1804) perceberam desde o primeiro momento do novo sistema, que a garantia da ordem dos estados e da liberdade dos indivíduos, exigia a presença de um poder soberano absoluto, acima de todos os demais poderes, e da própria liberdade dos indivíduos. Por outro lado, François Quesnais (1694-1774) e a escola liberal dos fisiocratas franceses, também concluíram que o bom funcionamento de uma economia de mercado requereria sempre um “tirano esclarecido” que eliminasse pela força, os obstáculos políticos ao próprio mercado. E finalmente, Immanuel Kant concluiu que as guerras eram um meio inevitável de difusão da civilização européia.
Em todos os casos, se pode identificar o mesmo paradoxo, no reconhecimento liberal da necessidade do poder e da guerra para difundir e sustentar a própria moral em que se funda a liberdade, e o reconhecimento de que no campo das relações internacionais, o que se chama de “moral internacional” será sempre a “moral” dos povos e dos estados mais poderosos. Edward Carr (1892-1982), o pai da teoria política internacional inglesa, referiu-se a estes países como sendo membros de um “círculo dos criadores da moral internacional” , formado nos dois últimos séculos, pela Grã Bretanha, os EUA e a França.
Para entender na prática, como se dão estas relações, basta olhar hoje para a posição dos anglo-saxões e dos franceses, frente ao programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos patrocinaram o golpe que derrubou o presidente eleito do Irã, em 1953, e sustentaram o regime autoritário do Xá Reza Pahlavi, junto com seu programa nuclear, até sua deposição em 1979. Mas antes disto, já tinham permitido que Israel tivesse acesso a tecnologia nuclear, com o auxilio da França e da Grã Bretanha, por volta de 1965. Quando entrou em vigor o Tratado de Não Proliferação Nuclear, em 1970, EUA, GB e França conheciam esconderam o arsenal atômico do Israel, e nunca protestaram contra Israel por não ter assinado o Tratado, nem ter aceitado as inspeções da Agencia de Energia Atômica das NU, além de ter rejeitado a Resolução 487, de 1981, do Conselho de Segurança das NU, que se propunha colocar as “facilidades atômicas” de Israel, sob a salvaguarda da IAEA. Como resultado, existe hoje uma assimetria gigantesca de poder militar dentro do Oriente Médio: são 15 países, com 260 milhões de habitantes, e o só Israel, com apenas 7,5 milhões de habitantes e 20 mil km2, detém uma arsenal de cerca de 250 cabeças atômicas, com um sistema balístico extremamente sofisticado, e com o apoio permanente da capacidade atômica e de ataque dos EUA, dentro do próprio Oriente Médio.
Neste contexto, o esquecimento do “poder” no tratamento da “questão nuclear iraniana”, e sua substituição por um juízo moral e de política interna, é uma hipocrisia e uma manipulação publicitária. Por isso, quando se lê hoje a imprensa americana– em particular os jornais liberais de Nova York – fica-se com a impressão que as bombas de Hiroshima e Nagasaki caíram do céu, sem que tivesse havido interferência dos aviões norte-americanos no único ataque atômico jamais feito à populações civis, na história da humanidade. Fica-se com a impressão que o arsenal atômico de Israel também caiu do céu sem a interferência da França e da Grã Bretanha, e com aquiescência dos EUA, os grandes “criadores de moral internacional”. E o que é pior, fica-se com a impressão que o Holocausto aconteceu no Irã, ou no mundo islâmico, e não na Alemanha do filósofo Immanuel Kant, situada no coração da Europa cristã.
José Luís Fiori, cientista político, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Fonte: "Carta Maior" (31/12/2009)
Isabel Rosete - ésquisa e divulgação
Ao receber o Nobel da Paz, Obama recorreu às idéias de São Agostinho e de Santo Tomás de Aquino sobre a legitimidade moral das "guerras justas". Ao fazer isso, retomou a tese medieval de que existiria uma única moral internacional, situada acima de todas as culturas e civilizações.
José Luís Fiori
“No grau de cultura em que ainda se encontra o gênero humano, a guerra é um meio inevitável para estender a civilização, e só depois que a cultura tenha se desenvolvido (Deus sabe quando), será saudável e possível uma paz perpétua.”
Immanuel Kant, “Começo verossímil da história humana”, 1796
A confusão já era grande, e ficou ainda maior, depois do discurso do presidente norte-americano, Barack Obama, em defesa da guerra, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, de 2009. Como liberal, Obama poderia ter utilizado os argumentos do filósofo alemão, Immanuel Kant (1724-1804), que também defendeu, na sua época, a legitimidade das guerras, como meio de difusão da civilização européia, até que chegasse a hora da “paz perpétua”. Mas Obama preferiu voltar à Idade Média e recorrer às idéias de São Agostinho (354-430) e de Santo Tomás de Aquino (1225-1274), sobre a legitimidade moral das “guerras justas”.
A opção do presidente Obama não foi casual: através dos santos católicos, em vez dos filósofos iluministas, ele tentou retomar a tese medieval de que existiria uma única moral internacional, situada acima de todas as culturas e civilizações, capaz de embasar juízos objetivos e imparciais, sobre a conduta de todos os povos e todos os estados. E não deve ter passado despercebido do presidente Obama, que o argumento da “guerra justa” - sobretudo no caso de Santo Tomas de Aquino - estava associado como projeto de construção de uma monarquia universal, da Igreja Católica, dos séculos XII e XIII. O que talvez ele tenha esquecido ou desconsiderado é que este projeto “cosmopolita” de Roma foi derrotado e desapareceu depois do nascimento dos estados nacionais europeus. Da mesma forma que a tese da “guerra justa” foi engavetada, depois da crítica demolidora de Hugo Grotius (1583-1645), o jurista holandês e liberal que demonstrou que no novo sistema inter-estatal que havia se formado na Europa, era possível que frente à uma única “justiça objetiva”, coexistissem várias “inocências subjetivas”.
Em outras palavras: mesmo que se acreditasse na existência de uma única moral internacional, dentro de um sistema de estados eqüipotentes, não haverá jamais como arbitrar “objetivamente”, sobre a legitimidade de uma guerra entre dois estados. Por isto, na prática, esta arbitragem coube sempre, através dos tempos, aos estados que tiveram capacidade de impor seus interesses e seus valores, como se fossem interesses e valores universais. Nos séculos seguintes, este “paradoxo de Grotius”, se transformou na principal contradição e limite da utopia liberal inventada pelos europeus. Thomas Hobbes (1588-1679) e Immanuel Kant (1724-1804) perceberam desde o primeiro momento do novo sistema, que a garantia da ordem dos estados e da liberdade dos indivíduos, exigia a presença de um poder soberano absoluto, acima de todos os demais poderes, e da própria liberdade dos indivíduos. Por outro lado, François Quesnais (1694-1774) e a escola liberal dos fisiocratas franceses, também concluíram que o bom funcionamento de uma economia de mercado requereria sempre um “tirano esclarecido” que eliminasse pela força, os obstáculos políticos ao próprio mercado. E finalmente, Immanuel Kant concluiu que as guerras eram um meio inevitável de difusão da civilização européia.
Em todos os casos, se pode identificar o mesmo paradoxo, no reconhecimento liberal da necessidade do poder e da guerra para difundir e sustentar a própria moral em que se funda a liberdade, e o reconhecimento de que no campo das relações internacionais, o que se chama de “moral internacional” será sempre a “moral” dos povos e dos estados mais poderosos. Edward Carr (1892-1982), o pai da teoria política internacional inglesa, referiu-se a estes países como sendo membros de um “círculo dos criadores da moral internacional” , formado nos dois últimos séculos, pela Grã Bretanha, os EUA e a França.
Para entender na prática, como se dão estas relações, basta olhar hoje para a posição dos anglo-saxões e dos franceses, frente ao programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos patrocinaram o golpe que derrubou o presidente eleito do Irã, em 1953, e sustentaram o regime autoritário do Xá Reza Pahlavi, junto com seu programa nuclear, até sua deposição em 1979. Mas antes disto, já tinham permitido que Israel tivesse acesso a tecnologia nuclear, com o auxilio da França e da Grã Bretanha, por volta de 1965. Quando entrou em vigor o Tratado de Não Proliferação Nuclear, em 1970, EUA, GB e França conheciam esconderam o arsenal atômico do Israel, e nunca protestaram contra Israel por não ter assinado o Tratado, nem ter aceitado as inspeções da Agencia de Energia Atômica das NU, além de ter rejeitado a Resolução 487, de 1981, do Conselho de Segurança das NU, que se propunha colocar as “facilidades atômicas” de Israel, sob a salvaguarda da IAEA. Como resultado, existe hoje uma assimetria gigantesca de poder militar dentro do Oriente Médio: são 15 países, com 260 milhões de habitantes, e o só Israel, com apenas 7,5 milhões de habitantes e 20 mil km2, detém uma arsenal de cerca de 250 cabeças atômicas, com um sistema balístico extremamente sofisticado, e com o apoio permanente da capacidade atômica e de ataque dos EUA, dentro do próprio Oriente Médio.
Neste contexto, o esquecimento do “poder” no tratamento da “questão nuclear iraniana”, e sua substituição por um juízo moral e de política interna, é uma hipocrisia e uma manipulação publicitária. Por isso, quando se lê hoje a imprensa americana– em particular os jornais liberais de Nova York – fica-se com a impressão que as bombas de Hiroshima e Nagasaki caíram do céu, sem que tivesse havido interferência dos aviões norte-americanos no único ataque atômico jamais feito à populações civis, na história da humanidade. Fica-se com a impressão que o arsenal atômico de Israel também caiu do céu sem a interferência da França e da Grã Bretanha, e com aquiescência dos EUA, os grandes “criadores de moral internacional”. E o que é pior, fica-se com a impressão que o Holocausto aconteceu no Irã, ou no mundo islâmico, e não na Alemanha do filósofo Immanuel Kant, situada no coração da Europa cristã.
José Luís Fiori, cientista político, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Fonte: "Carta Maior" (31/12/2009)
Isabel Rosete - ésquisa e divulgação
Crítica da CRÍTICA: "alta cultura" e "baixa cultura"
A crítica nunca esteve tão desacreditada como nos dias de hoje. Entre leigos, a crítica é aquela de cinema, que sempre enche de “estrelinhas” os filmes difíceis de entender, ao mesmo tempo em que desqualifica a escolha da audiência. Para os artistas, é aquela senhora mal-humorada, que não compartilha do desbunde em relação à “obra”, chegando às vezes ao requinte de esculhambar seu realizador. E, para os críticos, a crítica é pura nostalgia, de um tempo em que eles ditavam o gosto, destruindo ou construindo reputações.
Lamentavelmente, hoje, a crítica é, em geral, vista como “elitista” (no sentido que as esquerdas conferiram ao termo). Numa época de “democracia” reinante (mesmo que fictícia), não se admite que uma “minoria” intelectual decida por uma “maioria” consumista. Para a indústria, aliás, não interessa que haja um padrão de qualidade mínimo, pois isso implicaria numa “exclusão” automática de quem (ou o quê) não atingisse os (pré-)requisitos.
Ao encontro de uma necessidade mercadológica (vender o que quer que seja – mesmo que ruim) e de um imperativo ideológico (igualdade, liberdade, fraternidade), toda uma nomenklatura veio neutralizar qualquer pensamento crítico a partir do século XX. A começar pela idéia de nobrow.
Quem é mais ou menos versado sabe que highbrow corresponde, aproximadamente, à “alta cultura” (erudita, clássica, considerada inatingível) e lowbrow corresponde à “baixa cultura” (popularesca, primitivista, sem sofisticação). Como ninguém vive só de Bach, Mozart e Beethoven, e como é preciso sobreviver na “cultura pop” (para não se isolar do resto do mundo), inventaram o middlebrow. Era, nos 1900s, uma maneira de conciliar Shakespeare com Lennon&McCartney, Picasso com o universo das HQs, Villa-Lobos com Agatha Christie. Até aí, uma coisa razoável. Digo, até surgir o nobrow.
O nobrow é a ausência de brow, ou seja, é o fim das classificações entre alta, baixa e média culturas. É o “vale tudo”. É o “qualquer maneira de amor vale a pena”. É o “cada um na sua”. É o tal (do) “gosto [que] não se discute” – que, para a crítica, foi um tremendo de um golpe.
Gosto se discute, sim, por vários motivos. Se não há crítica, não se avança. Ficamos sempre na estaca zero. Afinal, o crítico é aquele que, supostamente, conhece o assunto que aborda e vai dizer se determinada manifestação artística é válida ou se deve ser descartada. A partir do momento em que o crítico não consegue trabalhar (ou por que não lhe oferecem trabalho ou por que a crítica caiu em desuso), vive-se o caos. Como estamos vivendo agora: universitários assistindo a reality shows e gostando; governantes semi-analfabetos que não sabem quem são os colunistas da principal revista semanal (porque não lêem nem essa); as telenovelas como única forma de ficção a ser consumida, enquanto o mercado editorial míngua tiragens de alguns milhares (num País de muitos milhões); a imposição de um língua ortografica e gramaticalmente errada, uma vez que a “certa” seria considerada impopular e opressiva (já que a ignorância é dominante). Entre outras coisas.
Crítica é, também, falar mal – algo que o “politicamente correto” coíbe do início ao fim. Com eufemismos, e só com eufemismos, não há como fazer crítica. E, na era dos superadvogados e dos megaprocessos jurídicos, abrir a boca pode ser um perigo. No Brasil, ainda persiste o péssimo hábito da unanimidade. Assim, criticar uma figura unânime não é apenas uma maneira de ir rumo ao tribunal, é igualmente uma forma de declarar guerra a um “fã clube” (cujo radicalismo beira o dos fundamentalistas islâmicos).
A crítica, na verdade, está tão contida que só “passa” em forma de piada. Não admira que os mais populares colunistas da imprensa, hoje em dia, sejam os humoristas que – de uma maneira ou de outra – fazem... crítica. Crítica séria nem pensar. Vira ofensa. E os “ofendidos” são cada vez em maior número, embora sejam ainda considerados, eufemisticamente, “minorias”. Se você, por exemplo, tem uma opinião formada sobre um determinado grupo, e aplica sua opinião a um membro desse grupo, é logo chamado de “preconceituoso”.
Há muito tempo, eu digo que não tenho “preconceitos” mas “conceitos”. Se eu tenho uma opinião sobre determinado tipo de pessoa, e aplico essa mesma opinião a uma pessoa que – a meu ver – cabe nesse “tipo” específico, sou logo tachado de “preconceituoso”. Por quê? Ela tem penas, bota ovos e cria pintinhos que depois viram frangos... Digo de uma vez: “É uma galinha!”. Ao que alguém me responde: “Imagine que é uma galinha. Como você está sendo preconceituoso!”. (Claro, pode ser um elefante... Ou uma mosca...)
Felizmente, com a internet, parece que a crítica está voltando. Infelizmente, porém, prolifera nela o crítico amador, que é quase o anticrítico. Na maioria das vezes (há exceções), a critiquinha que vemos surgir na Web é aquela de alguém que começou ontem, tem centenas de opiniões (infundadas) sobre diversos assuntos e acredita estar fazendo jornalismo da melhor qualidade. É um erro. E você não pode falar nada, porque está sendo contra, por exemplo, a “liberdade de expressão”. (Contra os blogs...) Sinceramente, não acho que qualquer pessoa pode ser um crítico; como qualquer pessoa não pode ser um médico, um astronauta, um cientista – apenas porque quer; apenas porque, certo dia, acordou com vontade de “criticar” alguém ou alguma coisa.
Sou a favor da crítica e sou contra a “crítica” bem-comportada de hoje. Mas não apóio a crítica irresponsável. Exibida. Intolerável. Doutrinária – fingindo, digamos, “criticar” as ideologias em geral, mas, no fundo, impondo (nas entrelinhas) sua própria ideologia. Crítica pode ser manipulação também, e o desejo de transmitir “juízo crítico” a quem lê pode se converter em uma maneira de, aí sim, transmitir “preconceitos”, idéias e pensamentos preconcebidos. Portanto, os critiquinhos deveriam desistir do ofício.
A crítica, contudo, deve, de alguma forma, voltar. O público clama por orientação – e isso é nítido. Desde a popularidade dos manuais de auto-ajuda até o fanatismo religioso ressuscitado, todo mundo se sente destituído de certezas e não agüenta mais essa realidade relativística onde “tudo é válido”. A crítica não é determinismo e não vai obrigar ninguém a seguir por essa ou por aquela via – vai, simplesmente, iluminar o caminho. Aprendi o que sei com críticos; e não apenas jornalistas – mas gente que assumiu a tarefa de separar o joio do trigo. Você, aliás, pode até discordar de mim, mas garanto que, em algum momento, precisou igualmente de orientação. E de crítica.
Fonte: "Digestivo Cultural" (05/01/2010)
Isabel Rosete - pesaquisa e divulgação
Lamentavelmente, hoje, a crítica é, em geral, vista como “elitista” (no sentido que as esquerdas conferiram ao termo). Numa época de “democracia” reinante (mesmo que fictícia), não se admite que uma “minoria” intelectual decida por uma “maioria” consumista. Para a indústria, aliás, não interessa que haja um padrão de qualidade mínimo, pois isso implicaria numa “exclusão” automática de quem (ou o quê) não atingisse os (pré-)requisitos.
Ao encontro de uma necessidade mercadológica (vender o que quer que seja – mesmo que ruim) e de um imperativo ideológico (igualdade, liberdade, fraternidade), toda uma nomenklatura veio neutralizar qualquer pensamento crítico a partir do século XX. A começar pela idéia de nobrow.
Quem é mais ou menos versado sabe que highbrow corresponde, aproximadamente, à “alta cultura” (erudita, clássica, considerada inatingível) e lowbrow corresponde à “baixa cultura” (popularesca, primitivista, sem sofisticação). Como ninguém vive só de Bach, Mozart e Beethoven, e como é preciso sobreviver na “cultura pop” (para não se isolar do resto do mundo), inventaram o middlebrow. Era, nos 1900s, uma maneira de conciliar Shakespeare com Lennon&McCartney, Picasso com o universo das HQs, Villa-Lobos com Agatha Christie. Até aí, uma coisa razoável. Digo, até surgir o nobrow.
O nobrow é a ausência de brow, ou seja, é o fim das classificações entre alta, baixa e média culturas. É o “vale tudo”. É o “qualquer maneira de amor vale a pena”. É o “cada um na sua”. É o tal (do) “gosto [que] não se discute” – que, para a crítica, foi um tremendo de um golpe.
Gosto se discute, sim, por vários motivos. Se não há crítica, não se avança. Ficamos sempre na estaca zero. Afinal, o crítico é aquele que, supostamente, conhece o assunto que aborda e vai dizer se determinada manifestação artística é válida ou se deve ser descartada. A partir do momento em que o crítico não consegue trabalhar (ou por que não lhe oferecem trabalho ou por que a crítica caiu em desuso), vive-se o caos. Como estamos vivendo agora: universitários assistindo a reality shows e gostando; governantes semi-analfabetos que não sabem quem são os colunistas da principal revista semanal (porque não lêem nem essa); as telenovelas como única forma de ficção a ser consumida, enquanto o mercado editorial míngua tiragens de alguns milhares (num País de muitos milhões); a imposição de um língua ortografica e gramaticalmente errada, uma vez que a “certa” seria considerada impopular e opressiva (já que a ignorância é dominante). Entre outras coisas.
Crítica é, também, falar mal – algo que o “politicamente correto” coíbe do início ao fim. Com eufemismos, e só com eufemismos, não há como fazer crítica. E, na era dos superadvogados e dos megaprocessos jurídicos, abrir a boca pode ser um perigo. No Brasil, ainda persiste o péssimo hábito da unanimidade. Assim, criticar uma figura unânime não é apenas uma maneira de ir rumo ao tribunal, é igualmente uma forma de declarar guerra a um “fã clube” (cujo radicalismo beira o dos fundamentalistas islâmicos).
A crítica, na verdade, está tão contida que só “passa” em forma de piada. Não admira que os mais populares colunistas da imprensa, hoje em dia, sejam os humoristas que – de uma maneira ou de outra – fazem... crítica. Crítica séria nem pensar. Vira ofensa. E os “ofendidos” são cada vez em maior número, embora sejam ainda considerados, eufemisticamente, “minorias”. Se você, por exemplo, tem uma opinião formada sobre um determinado grupo, e aplica sua opinião a um membro desse grupo, é logo chamado de “preconceituoso”.
Há muito tempo, eu digo que não tenho “preconceitos” mas “conceitos”. Se eu tenho uma opinião sobre determinado tipo de pessoa, e aplico essa mesma opinião a uma pessoa que – a meu ver – cabe nesse “tipo” específico, sou logo tachado de “preconceituoso”. Por quê? Ela tem penas, bota ovos e cria pintinhos que depois viram frangos... Digo de uma vez: “É uma galinha!”. Ao que alguém me responde: “Imagine que é uma galinha. Como você está sendo preconceituoso!”. (Claro, pode ser um elefante... Ou uma mosca...)
Felizmente, com a internet, parece que a crítica está voltando. Infelizmente, porém, prolifera nela o crítico amador, que é quase o anticrítico. Na maioria das vezes (há exceções), a critiquinha que vemos surgir na Web é aquela de alguém que começou ontem, tem centenas de opiniões (infundadas) sobre diversos assuntos e acredita estar fazendo jornalismo da melhor qualidade. É um erro. E você não pode falar nada, porque está sendo contra, por exemplo, a “liberdade de expressão”. (Contra os blogs...) Sinceramente, não acho que qualquer pessoa pode ser um crítico; como qualquer pessoa não pode ser um médico, um astronauta, um cientista – apenas porque quer; apenas porque, certo dia, acordou com vontade de “criticar” alguém ou alguma coisa.
Sou a favor da crítica e sou contra a “crítica” bem-comportada de hoje. Mas não apóio a crítica irresponsável. Exibida. Intolerável. Doutrinária – fingindo, digamos, “criticar” as ideologias em geral, mas, no fundo, impondo (nas entrelinhas) sua própria ideologia. Crítica pode ser manipulação também, e o desejo de transmitir “juízo crítico” a quem lê pode se converter em uma maneira de, aí sim, transmitir “preconceitos”, idéias e pensamentos preconcebidos. Portanto, os critiquinhos deveriam desistir do ofício.
A crítica, contudo, deve, de alguma forma, voltar. O público clama por orientação – e isso é nítido. Desde a popularidade dos manuais de auto-ajuda até o fanatismo religioso ressuscitado, todo mundo se sente destituído de certezas e não agüenta mais essa realidade relativística onde “tudo é válido”. A crítica não é determinismo e não vai obrigar ninguém a seguir por essa ou por aquela via – vai, simplesmente, iluminar o caminho. Aprendi o que sei com críticos; e não apenas jornalistas – mas gente que assumiu a tarefa de separar o joio do trigo. Você, aliás, pode até discordar de mim, mas garanto que, em algum momento, precisou igualmente de orientação. E de crítica.
Fonte: "Digestivo Cultural" (05/01/2010)
Isabel Rosete - pesaquisa e divulgação











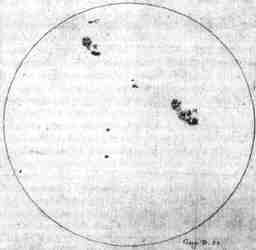















.jpg)