
NELSON GOODMAN: SIMBOLIZAÇÃO E COGNIÇÃO, por Isabel Rosete
O paradigma estético-filosófico goodmaniano é marcado por uma estreita relação entre a teoria dos símbolos e a teoria da cognição. Cognição e simbolismo são partes integrantes e inseparáveis de um mesmo sistema: o estudo da cognição, subjacente à teoria do funcionamento simbólico das obras de arte, é dependente do estudo do simbolismo. O simbolismo passa, necessariamente, pelo debate da problemática cognitiva. A teoria geral dos símbolos e a teoria da cognição não podem ser concebidas isoladamente.
Goodman enuncia esta tese, quando afirma, no parágrafo que encerra Languages of Art: «o meu objectivo consiste dar passos em direcção a um estudo sistemático dos símbolos e dos sistemas simbólicos e do modo como funcionaram as nossas percepções e acções, mas antes, nas ciências e por conseguinte na criação e compreensão dos nossos mundos»[1].
Para desenvolver este estudo, o filósofo parte da existência de um conjunto multifacetado de símbolos, e seguindo uma estratégia que lhe é familiar – esteja Goodman a falar acerca de arte ou de indução, o que sempre procura é a coerência com a prática real conforme se desenvolvem na história – se colher o que nas praticas quotidianas é considerado símbolo, o que é capaz de estar «no lugar da outra coisa». Consequentemente, ensaia sistematizar o que aí se encontra. Seguindo este percurso, assina-la nos símbolos duas direcções:
a) Põe os símbolos em contacto com os objectos;
b) Põe os símbolos em contacto com os contextos.
A segunda direcção assume uma importância particular em relação à primeira, na medida em que condiciona o sentido a atribuir aos símbolos: «As bibliografias da estética estão embaraçadas nos seus intentos desesperados de resolver a pergunta «O que é a arte?» (...) É um pára-choques de um carro todo retorcido que se expõe numa galeria de arte, uma obra de arte?»[2].
Este tipo de problemas tornam-se notórios e passíveis de esclarecimento concreto recorrendo, uma vez mais às polémicas criações de Marcel Duchamp. Lembremo-nos, a este propósito, do seu ready-made «Roda de Bicicleta» (1913) que consiste apenas na junção de um banco branco e de uma roda de bicicleta preta colocada em cima do banco. Desde objecto, o seu criador comenta tão simplesmente, sem apontar qualquer motivo para o fazer: «Gosto de olhar para ela, tal como gosto de olhar para as chamas a dançarem na fogueira». Que podemos nós dizer deste objecto? Talvez seguir a ideia dos modeladores da época que reconheceram nele um tipo de dispositivo usado pelos físicos, para demonstrar os efeitos da dinâmica angular ou para provar as forças centrífugas sobre um eixo livre.
Ou, seguindo um outro tipo de interpretação, e firmando-nos na sua forma fortemente antropomórfica, a obra faz-nos lembrar um estranho retracto que Duchamp pintou em 1911 da mãe de Gustave Candel, onde um pedestal inerte está combinado com uma cabeça animada (a roda da bicicleta também a tornamos animada sempre que a fizermos rodar com a nossa mão).
Talvez possamos adiantar, ainda, que o ready-made é a expressão emblemática de uma noção expansiva da arte e das infinitas possibilidades de criação que esta nos oferece. Afirmar, por isso, o poder infinito do criador, daquele que esvazia o objecto anónimo e ubíquo da sua função trivial para a obra de autor.
Digamos, contra todos os cépticos, que os ready-made são arte somente porque não admitidos em contextos artísticos. Assim, mostram o poder dos contextos para alterar o sentido dos objectos. Mas o inverso é igualme4nte correcto: os objectos têm capacidade para alterar a identidade dos contextos. E isto pode evidenciar-se pela arte. Habitualmente, os objectos são inscritos nos contextos que identificam o que é artístico e nos que diferenciam os modos artísticos, como por exemplo, o que é arte de imagem e arte de linguagem.
Porém, a identidade destes contextos é ameaçada pelo surrealismo, tal como sublinha Breton:
«A fusão das duas artes (pintura e poesia) tende a operar-se tão estreitamente nos nossos dias, que se torna por assim dizer indiferente a homens como Arp ou como Dali exprimirem-se sobre a forma poética ou plástica (...)»[3]. Pelo que segundo Morizot, e seguindo a mesma ordem de razões, podemos inferir que: «A classificação das artes é pois muito arbitrária, só importa verdadeiramente a inscrição de um símbolo dentro de uma configuração que ao mesmo tempo o compreenda e evolui com ele»[4].
A teoria dos símbolos analisa assim o movimento entre símbolos e contextos e a presença deste ponto percorre a teoria goodmaniana do funcionamento simbólico das obras de arte. Mas analisa também as relações dos símbolos entre si e as que estabelecem com um domínio referencial. Ao fazê-lo orienta-se pela distinção entre sintaxe e semântica:
«O princípio base é a distinção tomada à lógica entre propriedades sintácticas (relações internas entre marcas, sua pertença a uma mesmo carácter, as regas de concatenação, etc.), e semânticas (relacionamento do conjunto sintáctico com um domínio de aplicação ou de interpretação)»[5]
O que entende o autor por “carácter”, por, “marca” e por “objecto”?
a) “Marca”: é todo o índice material, inscrição gráfica, escrita, sonora, etc., susceptível de se concatenar linearmente, alfanumericamente, ou de modo pluridimensional, como acontece com as notações musicais ou com as relações espaciais;
b) “Carácter”: a classe de equivalência das marcas;
c) “Objecto”: domínio ou campo de referência das marcas.
Através destes três conceitos, a teoria geral dos símbolos recorta o universo simbólico propriamente dito. Mas, para se aprender como se relacionam os objectos, as marcas, e o carácter é necessário fazer intervir a teoria da cognição. Para Goodman, a compreensão da semântica e da sintaxe depende da intervenção da projecção, conceito de ordem puramente cognitiva: «Aprender e usar uma linguagem é resolver problemas de projecção. Na base de exemplos de inscrição temos de decidir se outras marcas, como elas aparecem, pertencem ao carácter, e na base de exemplos de concordantes de um carácter, se poucos objectos concordam com ele»[6].
A teoria da cognição irrompe, em síntese, neste novo paradigma estético, por trás da teoria geral dos símbolos. Porém, não nos parece menos correcto dizer que a teoria dos símbolos orienta o estudo da cognição. Para compreender a cognição e os seus tipos fundamentais é necessário analisar as relações que entrelaçam os símbolos, seguir os vectores que os percorrem.
A recusa do objecto original torna-se imperativa. Tão imperativa como a afirmação da ideia de «Actividade» associada à noção de «Construção». Aqui se entrelaça, por seu turno, a noção de referência, “estar em vez de “, que é a abordada a partir do conceito de representação. Por ele relacionamos símbolos e objectos. E assim a teoria da cognição confronta-se, necessariamente, com as questões relativas à concepção dos objectos.
Embora as “tradicionais” teorias gnoseológicas se debatam, amiúde, com a problemática dos objectos a partir dos quais o conhecimento se constrói, para Goodman devemos abandonar este debate concebido em termos exclusivos, pois qualquer concepção é válida e, por isso, nenhuma vale por si só: quer pensemos no fisicalismo ou no fenomenismo, quer enveredemos pela posição de Kant ou de Carnap, nenhum destes posicionamentos invalida qualquer esforço filosófico. A razão desta decisão, que abandona qualquer espécie de postura reducionista, já habitual em Goodman, relaciona-se com o abandono da questão da origem do conhecimento, com a questão: Qual é a organização real da experiência antes de qualquer organização cognitiva tomar lugar?, a qual parece perguntar, em última análise, por uma descrição da experiência cognitivamente não organizada. Porém, sabêmo-lo há muito que toda a descrição por isso mesmo efectua, de um certo modo uma organização cognitiva.
Recusando-se validade às questões relativas à origem do conhecimento, pois qualquer dado é sempre interpretado, torna-se evidente que a recepção e a interpretação não são operações separáveis. São, antes de mais, interdependentes. E o “dictum” kantiano ecoa aqui com a máxima acuidade: «o olho inocente é cego e a mente virgem é vazia»[7].
As implicações que daqui possamos extrair para o domínio da compreensão da teoria estética goodmaniana são fundamentais, tendo em consideração a importância das noções de “actividade”, “construção” e “representação” no corpus filosófico do autor. De resto, importa não esquecer, em primeiro lugar, que a noção de “representação” é usada para se pensar a relação entre os símbolos e os objectos.
Isabel Rosete
Novembro, 2007
O paradigma estético-filosófico goodmaniano é marcado por uma estreita relação entre a teoria dos símbolos e a teoria da cognição. Cognição e simbolismo são partes integrantes e inseparáveis de um mesmo sistema: o estudo da cognição, subjacente à teoria do funcionamento simbólico das obras de arte, é dependente do estudo do simbolismo. O simbolismo passa, necessariamente, pelo debate da problemática cognitiva. A teoria geral dos símbolos e a teoria da cognição não podem ser concebidas isoladamente.
Goodman enuncia esta tese, quando afirma, no parágrafo que encerra Languages of Art: «o meu objectivo consiste dar passos em direcção a um estudo sistemático dos símbolos e dos sistemas simbólicos e do modo como funcionaram as nossas percepções e acções, mas antes, nas ciências e por conseguinte na criação e compreensão dos nossos mundos»[1].
Para desenvolver este estudo, o filósofo parte da existência de um conjunto multifacetado de símbolos, e seguindo uma estratégia que lhe é familiar – esteja Goodman a falar acerca de arte ou de indução, o que sempre procura é a coerência com a prática real conforme se desenvolvem na história – se colher o que nas praticas quotidianas é considerado símbolo, o que é capaz de estar «no lugar da outra coisa». Consequentemente, ensaia sistematizar o que aí se encontra. Seguindo este percurso, assina-la nos símbolos duas direcções:
a) Põe os símbolos em contacto com os objectos;
b) Põe os símbolos em contacto com os contextos.
A segunda direcção assume uma importância particular em relação à primeira, na medida em que condiciona o sentido a atribuir aos símbolos: «As bibliografias da estética estão embaraçadas nos seus intentos desesperados de resolver a pergunta «O que é a arte?» (...) É um pára-choques de um carro todo retorcido que se expõe numa galeria de arte, uma obra de arte?»[2].
Este tipo de problemas tornam-se notórios e passíveis de esclarecimento concreto recorrendo, uma vez mais às polémicas criações de Marcel Duchamp. Lembremo-nos, a este propósito, do seu ready-made «Roda de Bicicleta» (1913) que consiste apenas na junção de um banco branco e de uma roda de bicicleta preta colocada em cima do banco. Desde objecto, o seu criador comenta tão simplesmente, sem apontar qualquer motivo para o fazer: «Gosto de olhar para ela, tal como gosto de olhar para as chamas a dançarem na fogueira». Que podemos nós dizer deste objecto? Talvez seguir a ideia dos modeladores da época que reconheceram nele um tipo de dispositivo usado pelos físicos, para demonstrar os efeitos da dinâmica angular ou para provar as forças centrífugas sobre um eixo livre.
Ou, seguindo um outro tipo de interpretação, e firmando-nos na sua forma fortemente antropomórfica, a obra faz-nos lembrar um estranho retracto que Duchamp pintou em 1911 da mãe de Gustave Candel, onde um pedestal inerte está combinado com uma cabeça animada (a roda da bicicleta também a tornamos animada sempre que a fizermos rodar com a nossa mão).
Talvez possamos adiantar, ainda, que o ready-made é a expressão emblemática de uma noção expansiva da arte e das infinitas possibilidades de criação que esta nos oferece. Afirmar, por isso, o poder infinito do criador, daquele que esvazia o objecto anónimo e ubíquo da sua função trivial para a obra de autor.
Digamos, contra todos os cépticos, que os ready-made são arte somente porque não admitidos em contextos artísticos. Assim, mostram o poder dos contextos para alterar o sentido dos objectos. Mas o inverso é igualme4nte correcto: os objectos têm capacidade para alterar a identidade dos contextos. E isto pode evidenciar-se pela arte. Habitualmente, os objectos são inscritos nos contextos que identificam o que é artístico e nos que diferenciam os modos artísticos, como por exemplo, o que é arte de imagem e arte de linguagem.
Porém, a identidade destes contextos é ameaçada pelo surrealismo, tal como sublinha Breton:
«A fusão das duas artes (pintura e poesia) tende a operar-se tão estreitamente nos nossos dias, que se torna por assim dizer indiferente a homens como Arp ou como Dali exprimirem-se sobre a forma poética ou plástica (...)»[3]. Pelo que segundo Morizot, e seguindo a mesma ordem de razões, podemos inferir que: «A classificação das artes é pois muito arbitrária, só importa verdadeiramente a inscrição de um símbolo dentro de uma configuração que ao mesmo tempo o compreenda e evolui com ele»[4].
A teoria dos símbolos analisa assim o movimento entre símbolos e contextos e a presença deste ponto percorre a teoria goodmaniana do funcionamento simbólico das obras de arte. Mas analisa também as relações dos símbolos entre si e as que estabelecem com um domínio referencial. Ao fazê-lo orienta-se pela distinção entre sintaxe e semântica:
«O princípio base é a distinção tomada à lógica entre propriedades sintácticas (relações internas entre marcas, sua pertença a uma mesmo carácter, as regas de concatenação, etc.), e semânticas (relacionamento do conjunto sintáctico com um domínio de aplicação ou de interpretação)»[5]
O que entende o autor por “carácter”, por, “marca” e por “objecto”?
a) “Marca”: é todo o índice material, inscrição gráfica, escrita, sonora, etc., susceptível de se concatenar linearmente, alfanumericamente, ou de modo pluridimensional, como acontece com as notações musicais ou com as relações espaciais;
b) “Carácter”: a classe de equivalência das marcas;
c) “Objecto”: domínio ou campo de referência das marcas.
Através destes três conceitos, a teoria geral dos símbolos recorta o universo simbólico propriamente dito. Mas, para se aprender como se relacionam os objectos, as marcas, e o carácter é necessário fazer intervir a teoria da cognição. Para Goodman, a compreensão da semântica e da sintaxe depende da intervenção da projecção, conceito de ordem puramente cognitiva: «Aprender e usar uma linguagem é resolver problemas de projecção. Na base de exemplos de inscrição temos de decidir se outras marcas, como elas aparecem, pertencem ao carácter, e na base de exemplos de concordantes de um carácter, se poucos objectos concordam com ele»[6].
A teoria da cognição irrompe, em síntese, neste novo paradigma estético, por trás da teoria geral dos símbolos. Porém, não nos parece menos correcto dizer que a teoria dos símbolos orienta o estudo da cognição. Para compreender a cognição e os seus tipos fundamentais é necessário analisar as relações que entrelaçam os símbolos, seguir os vectores que os percorrem.
A recusa do objecto original torna-se imperativa. Tão imperativa como a afirmação da ideia de «Actividade» associada à noção de «Construção». Aqui se entrelaça, por seu turno, a noção de referência, “estar em vez de “, que é a abordada a partir do conceito de representação. Por ele relacionamos símbolos e objectos. E assim a teoria da cognição confronta-se, necessariamente, com as questões relativas à concepção dos objectos.
Embora as “tradicionais” teorias gnoseológicas se debatam, amiúde, com a problemática dos objectos a partir dos quais o conhecimento se constrói, para Goodman devemos abandonar este debate concebido em termos exclusivos, pois qualquer concepção é válida e, por isso, nenhuma vale por si só: quer pensemos no fisicalismo ou no fenomenismo, quer enveredemos pela posição de Kant ou de Carnap, nenhum destes posicionamentos invalida qualquer esforço filosófico. A razão desta decisão, que abandona qualquer espécie de postura reducionista, já habitual em Goodman, relaciona-se com o abandono da questão da origem do conhecimento, com a questão: Qual é a organização real da experiência antes de qualquer organização cognitiva tomar lugar?, a qual parece perguntar, em última análise, por uma descrição da experiência cognitivamente não organizada. Porém, sabêmo-lo há muito que toda a descrição por isso mesmo efectua, de um certo modo uma organização cognitiva.
Recusando-se validade às questões relativas à origem do conhecimento, pois qualquer dado é sempre interpretado, torna-se evidente que a recepção e a interpretação não são operações separáveis. São, antes de mais, interdependentes. E o “dictum” kantiano ecoa aqui com a máxima acuidade: «o olho inocente é cego e a mente virgem é vazia»[7].
As implicações que daqui possamos extrair para o domínio da compreensão da teoria estética goodmaniana são fundamentais, tendo em consideração a importância das noções de “actividade”, “construção” e “representação” no corpus filosófico do autor. De resto, importa não esquecer, em primeiro lugar, que a noção de “representação” é usada para se pensar a relação entre os símbolos e os objectos.
Isabel Rosete
Novembro, 2007
Notas:
[1] Nelson Goodman, Languages of Arts, p. 265.
[2] N. Goodman, op.cit., p.66
[3] Breton, Manifestos do Surrealismo, Lisboa, Moraes Editores, 1979, p. 303:
[4] Morizot, “Eloge de la Construction”, in AA. VV., Lire Goodman, p.34.
[5] Morizot, «L’arte et la Logique», in Philosophie 5, (1985), p. 77
[6] N. Goodman, Languages of Art, p. 201.
[7] Ibidem, p. 8.
[1] Nelson Goodman, Languages of Arts, p. 265.
[2] N. Goodman, op.cit., p.66
[3] Breton, Manifestos do Surrealismo, Lisboa, Moraes Editores, 1979, p. 303:
[4] Morizot, “Eloge de la Construction”, in AA. VV., Lire Goodman, p.34.
[5] Morizot, «L’arte et la Logique», in Philosophie 5, (1985), p. 77
[6] N. Goodman, Languages of Art, p. 201.
[7] Ibidem, p. 8.











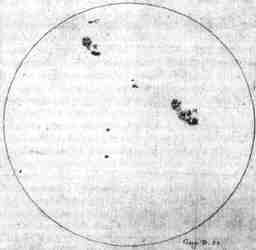















.jpg)
Sem comentários:
Enviar um comentário