 COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL E MULTIMÉDIA:
COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL E MULTIMÉDIA:O LUGAR DO «ENSINO PARALELO», por Isabel Rosete
1. Apresentação
Privilegiando-se, no contexto situacional da temática global da comunicação, a dimensão específica da denominada «comunicação escolar» e no seio desta as dimensões da confirmação e da infirmação, fazendo-se convergir esta análise para o processo de ensino-aprendizagem, seria deveras redutor – face ao estado actual de desenvolvimento das tecnologias e dos processos informativos perfeitamente ao alcance de todos nós e cujo poder de persuasão é inegavelmente instalado nas mentes dos jovens errantes – não reservar um momento da nossa reflexão geral sobre a Educação à abordagem desta matéria, tendo especialmente em consideração a influência da imagem e dos meios de comunicação audiovisual no âmago da educação escolar propriamente dita, pelo menos aos níveis mais notórios e imediatos que esta problemática enferma.
2. A “escola normal” e a “escola paralela”: da aprendizagem pelo texto oral/escrito à aprendizagem pelo texto icónico
A chamada cultura audiovisual, que se tem situado sempre no primeiro lugar de todos os “topes” dos meios de comunicação de massa é, inegavelmente, transmitida por um tipo de imagem particularmente concebido e em cuja concepção se pesam todos os pormenores, com o intuito de alcançar a maior persuasão e eficácia junto do espectador, a qual é deveras mais forte e tremendamente mais influenciável não só do que as palavras, mas também do que as ideias que elas possam transmitam, por mais brilhantes e sugestivas que sejam, quer em termos do respectivo conteúdo, quer no que concerne ao respectivo modo de apresentação.
O primado da visão, em relação aos restantes órgãos dos sentidos, sempre foi destacado, desde a Grécia Clássica, mesmo pelos filósofos mais vincadamente idealistas/racionalistas, como é o caso de Platão (427-347 a.C.). Esta tese é, agora, cada vez mais obvia, tendo surtido, como é do conhecimento comum, alterações ao nível dos processos de desenvolvimento da inteligência, consubstanciados num aumento progressivo e determinante da capacidade intuitiva, em função de um certo empobrecimento e até mesmo detrimento da capacidade reflexiva, que, por exemplo, a cultura da leitura e da escrita naturalmente exige.
Importa definirmos, antes de procedermos à definição e análise do conceito de imagem, o que entendemos por inteligência, por intuição e por reflexão, recorrendo a leituras filosóficas e psicológicas, uma vez que a compreensão destes conceitos é fundamental, não apenas para a determinação adequada do processo de ensino-aprendizagem, como para o entendimento do funcionamento dos processos mentais do educando e, por consequência, para a delimitação, por parte do docente, do tipo de comunicação/categorias comunicacionais mais eficazes, face à caracteriologia apresentada por cada aluno/grupo-turma.
3. Inteligência e multimédia: do reflexivo ao intuitivo
Devemos distinguir, num primeiro momento, as expressões “conceito de inteligência” e “natureza da inteligência”. Relativamente à primeira, e tendo em consideração a sua etimológica (do latim “intelligentia”), o termo “inteligência” significaria apenas a “qualidade do que é inteligente” (do latim intus = inter + legere = eligere), ou seja, “ler dentro”, “escolher entre”, “discernir”, remetendo assim para aquele que tem a capacidade de penetrar nas coisas, captar a sua intimidade ou a sua essência. Porém, e em virtude dos variadíssimos equívocos da linguagem psicológica e filosófica, o termo aparece como sinónimo de entendimento, de intelecto, de razão, de ser espiritual, para designar funções cognitivas, incluindo as sensoriais.
No que concerne à “natureza da inteligência” propriamente dita, e tendo por referencial básico os aspectos mais recentes da investigação científica, destacam-se duas linhas fundamentais: a psicotécnica e a psicológica. A primeira debruça-se sobre o estudo da inteligência pelo cálculo factorial e pela inteligência medida pelos testes; na segunda linha, encontramos a “escola funcional”, que descreve o conceito como mecanismo de adaptação ao meio, e a “escola gestaltista” que tenta explicá-lo em termos do conceito de “organização”.
Não obstante o conceito de “inteligência” ainda permanecer basicamente indefinido, entendemo-lo, grosso modo, como o “poder” ou a “força” do raciocínio; como a “energia” ou a “capacidade de resolver problemas”[1]. Segundo esta perspectiva, consideramos que a inteligência integra, pelo menos, três componentes fundamentais:
a) a capacidade de adquirir e acumular experiências, a qual comporta a aptidão que permite compreender as relações entre os elementos de uma mesma situação;
b) o modo de aplicar útil e racionalmente as experiências adquiridas e retidas na memória;
c) a capacidade de adaptação às múltiplas situações emergentes e aos respectivos elementos, de molde a realizar os próprios fins determinados e a resolver os eventuais problemas que se oponham à obtenção desses mesmos fins.
A inteligência é integrada por duas funções essenciais: uma adaptadora e inovadora; outra ordenadora e reguladora. Assim concebemos a «inteligência como um dinamismo psíquico ordenado a conhecer a consciência do mundo, a criar um comportamento universal e individual e a influir na consciência do mundo». A explicação mais detalhada desde dinamismo essencial à vivência e à sobrevivência de todo o ser humano, indica-nos que as suas funções associadas encontra-se:
a) na aquisição de experiências, entre as quais se destaca a atenção, a capacidade de retenção, a distinção e o treino;
b) na ordenação das experiências, onde encontramos mecanismos como a combinação e a crítica;
c) na conservação das experiências, onde se destaca a memória;
d) na aplicação das experiências, face à qual são accionados os mecanismos de reconhecimento de situações, o juízo, a aplicação do processo adequado e o sentido comum.
Digamos que a inteligência se apresenta – partindo-se de uma tentativa de conjugação dialéctica das múltiplas e quiçá paradoxais teses sobre este conceito, cuja cabal definição continua a escapar aos maiores especialistas neste domínio – como «o conjunto de todas as funções que têm por objecto o conhecimento, ou seja, a sensação, a associação, a memória, a imaginação, o entendimento, a razão e a consciência»[2].
4. A intuição e multimédia: do racional ao empírico
Apesar das dissemelhantes definições sobre este conceito, entendemos por “intuição”: a visão directa e imediata de uma realidade ou a compreensão directa e imediata de uma verdade. Um raciocínio deste tipo elimina elementos intermediários ou de ligação entre proposições e juízos. Assim, e por extensão, a característica fundamental da inteligência ou do raciocínio intuitivo é a imediatez.
Poderemos usar este conceito para designar diferentes procedimentos do acto de conhecer, embora em todos se mantenha a característica da imediatez, quer nos situemos ao nível da “intuição empírica” quer nos mantenhamos ao nível da “intuição racional”.
A “intuição empírica” é aquela que nos conduz, numa primeira visão, ao “conhecimento” do que se julga ser essencial num objecto dado na sua exterioridade.
A “intuição racional”, por sua vez, traduz-se no conhecimento da evidência, seja esta de que natureza for. Pode aplicar-se quer à verdade antevista enquanto tal, quer a um objecto especial do pensamento, previamente considerado ou não como transcendental. Porém, permanece a questão de saber que tipo de intuição nos dá acesso não só aos conceitos, mas também às relações estabelecidas entre eles. Não obstante todas as investigações efectuadas nesta área, esta questão continua a ser uma das controvérsias da psicologia e da filosofia do conhecimento.
No âmbito desta conceptualização distinguimos, segundo as características apresentadas, a capacidade intuitiva do sujeito em função da utilização, pelo mesmo, de uma “intuição empírica” ou de uma “intuição racional”. No entanto, deveremos frisar que a cultura da imagem em que vivemos, contrariamente à cultura do livro, desenvolve substancialmente a capacidade de “intuição empírica” em detrimento da “intuição racional”, uma vez que o predomínio do sentido da “visão sensitiva” supera o da “visão racional” dos objectos·.
5. Reflexão e multimédia: em busca de um outro modo de “Pensar”
Por “reflexão”, e consequentemente por capacidade ou “raciocínio reflexivo”, entendemos «a volta atenta do pensamento consciente sobre si próprio que, tanto sob um ponto de vista psicológico como ontológico constitui a sua principal manifestação»[3].
Compreendida num sentido puramente psicológico, a reflexão consiste no «abandono da atenção ao conteúdo intencional dos actos para se voltar sobre os próprios actos». De acordo com esta perspectiva, a reflexão apresenta-se como uma «espécie da direcção natural dos actos», criando-se, deste modo as «condições necessárias para a reversão completa da consciência e a consecução da consciência de si mesmo».
Extrapolando-se, a este nível, as fronteiras da Psicologia, ligamo-nos a uma compreensão de pender gnoseológico, por nos permitir, embora sempre em conjugação com a perspectiva psicológica, uma análise mais completa de todas as questões concernentes aos actos propriamente reflexivos·.
Como afirmámos no ponto anterior, uma vez que o predomínio da visão e da linguagem da imagem têm proporcionado o desenvolvimento substancial da “intuição empírica” em função de um certo detrimento da “intuição racional”, torna-se notório que a capacidade reflexiva das novas gerações é cada vez mais diminuta: a esfera do imediato e do instantâneo tem vindo a substituir o domínio de um pensar autêntico por atrofiar, em certa medida, essa capacidade essencial da mente humana de penetrar no interior das coisas e de captar a sua essencialidade, de perscrutar o sentido mais profundo das múltiplas significações que o universo ontológico, linguístico e conceptual nos oferece a cada momento.
Talvez encontremos, por intermédio de uma reflexão conjugada destes três conceitos em análise, a explicação que nos permita compreender porque é que os alunos não são mais capazes de interpretar (tendo presente o sentido genuinamente hermenêutico que atribuímos a este termo) um simples artigo de jornal, embora compreendam de imediato o desenrolar da história de um banda desenhada; porque são incapazes de interpretar um dos textos mais “elementares” da literatura contemporânea, embora descodifiquem facilmente um “slogan” publicitário.
A imediatez que esta civilização multimédia tem feito despoletar a um ritmo verdadeiramente frenético, coarcta a emergência efectiva da capacidade de abstracção que nos permite chegar ao conceito, aos domínios do universal e do essencial, em prol do instantâneo e do superficial. Por estas razões, urge a edificação da consciência, quer no aluno quer no professor, de que a imagem, o “slogan” publicitário, a banda desenhada, o cinema, o vídeo, etc., também são um texto e, como todo e qualquer texto, devem ser sempre sujeitos a um rigoroso exercício hermenêutico, o qual resulta de um determinado tipo de aprendizagem que a escola e o professor deve promover a cada momento.
Em virtude da instalação definitiva da cultura da imagem, a linguagem oral e escrita passa a ser secundarizada por outro tipo de linguagem que a imagem eficazmente produz: a icónica. E esta linguagem requer um outro tipo de aprendizagem ao nível dos processos mentais e dos conteúdos que a imagem por si mesma encerra, a qual, segundo o nosso ponto de vista, se deve articular com a aprendizagem da linguagem oral e escrita, igualmente considerada ao nível dos processos mentais e dos conteúdos nela imbricados. Esta é a realidade mais evidente do quotidiano escolar perante a qual a educação jamais se poderá alhear.
6. O texto como imagem
Definir o termo “imagem” como uma reprodução exacta ou representação analógica de qualquer objecto. Se preferirmos a via etimológica, diremos que o termo designa, a um tempo, a função de representação e a categoria da semelhança, pois o verbo latino “imitor” (do qual deriva o termo “imagem”), significa “reproduzir por imitação”. Todavia, deveremos ser mais precisos e evitar toda a ambiguidade possível que estas aproximações conceptuais produzem.
Segundo Fulchignoni (1969), a imagem pode ser concebida, numa primeira leitura, como o dado sensorial do órgão visual, isto é, como a percepção directa do mundo exterior no seu aspecto mais imediato, visível e luminoso e, numa segunda leitura, como a representação subjectiva desse mundo exterior que extravasa a componente estritamente sensorial. Se nos situarmos, por outro lado, no ponto de vista da linguagem da imagem, poderemos corroborar a posição de Thibault-Laulan (1971), segundo a qual «a imagem é em primeiro lugar uma repetição e uma inversão»[4].
Ultrapassando uma certa desconfiança por parte dos filósofos em relação à imagem e à imaginação – por se situarem num espaço exterior ao campo de acção da razão, sendo, por conseguinte, mestras do erro e da falsidade – teremos de admitir que o estatuto da imagem se constitui como um discurso icónico paralelo, mas de poder superior, ao chamado texto linear e contínuo: «o estatuto da imagem não tem nada de sagrado, já não há reverencia pelas imagens, mas estas constituem-se como um discurso icónico (apanhadas como um conjunto de momentos visuais) paralelo ao texto linear e contínuo».[5]
É preciso ultrapassar o medo e a desconfiança de alguns educadores ou moralistas no que concerne às formas modernas da imagem, o qual não é mais do que o eco permanente de um certo medo ancestral relativamente a qualquer coisa que se apresente de um modo indefinível ou dificilmente determinável, cujo poder transcende o alcance do domínio e da capacidade intelectual humana – como havia dito Kant, somos portadores de um entendimento finito, pelo que nos é de todo impossível abarcar a totalidade da realidade na sua essencialidade mais íntima. De qualquer modo, a convivência quotidiana com a imagem, nas suas diversas formas, torna-se cada vez mais inevitável para o professor, no âmbito de todo e qualquer processo educacional.
Este é o universo vivencial e existencial dos alunos, trazido a cada momento e em qualquer situação para a sala de aula, afectando sempre, e de modos multifacetados, o processo de comunicação estabelecido entre o professor e o aluno, bem como o próprio processo de ensino-aprendizagem, pela postura intelectual e relacional em que o aluno naturalmente se situa perante o modo como os conteúdos programáticos lhe são apresentados.
A imagem não é o simples reflexo inocente e imediatamente legível do real. Pelo contrário, exige, da parte do sujeito, um esforço de percepção e de interpretação para o qual a cultura “tradicional” da escola não o tem preparado minimamente.
Há um certo desfasamento entre os domínios da aprendizagem pela escola e os domínios de aprendizagem pelos meios de comunicação audiovisual, face aos quais a escola não se deveria alhear, mas ministrar instrumentos adequados em vista de uma frutífera articulação: por um lado, porque a percepção da imagem não é independente da influência cultural exercida pelo meio em que o indivíduo se circunscreve; por outro, porque a percepção é, em si mesma, institucionalizada e a imagem funciona segundo um código icónico que lhe é próprio.
Uma mensagem visual para ser correctamente recebida e apreendida exige necessariamente uma certa aprendizagem social e cultural, além das aquisições intelectuais correspondentes ao estádio de desenvolvimento da inteligência em que o educando se encontra, aprendizagem essa que a escola, enquanto instrumento de cultura e de socialização tem, por direito, proporcionar. O «tradicional triângulo informativo e formativo que passava pela casa-escola-igreja há muito que está ultrapassado por esta civilização multimédia, influenciando o desenvolvimento cultural, social, político, psicológico e moral da criança que nos chega à escola.(...)». A escola não pode continuar alheia a esta conjuntura, devendo consciencializar-se de que vivemos, de facto, na época dos média e dos multimédia.
A escola deva adaptar a sua acção pedagógica no sentido de a integrar nessa nova civilização multimédia. Antes de mais porque é necessário que os alunos saiam da escola «com hábitos de informação e com uma capacidade crítica perante as múltiplas mensagens que continuamente os media veiculam»[6]
É necessário que a escola interiorize e veicule que “perceber”, “compreender”, “entender”, significa precisamente apreender os “universais” – quer dizer, aquilo que é apenas comum às coisas particulares, o que permanece comum para além das respectivas características individuais, sendo alcançado através de um processo de abstracção que parte do particular para o geral, representando, por isso, a totalidade do conceito [7] – as “coisas” que estão exactamente denominadas e em correspondência com as palavras, entendidas enquanto unidades do nosso pensamento.
É imprescindível, por isso, um determinado tempo de educação e de aprendizagem que a escola está em perfeitas condições de proporcionar, de modo a permitir um relacionamento mais eficaz de cada ser humano com o mundo: só apreendemos e reconstruímos mentalmente um objecto, tornando-o assim matéria nossa, quando aprendemos a dominá-lo autonomamente.
A actividade de compreensão da significação das imagens, nomeadamente a capacidade de distinção entre o sentido ou significado oculto e aparente que as mesmas encerram, se relaciona não apenas directamente com a aprendizagem dessa capacidade de dominar mentalmente o objecto representado e em seguida apropriado pelo espírito, mas quiçá e sobretudo com actividades de comparação ou de oposição que estão na base de todas as operações de codificação e de descodificação.
Devemos sublinhar, também, a dificuldade de diferenciação por parte dos jovens entre o que se vê e o que é concebido. Eis outra dimensão em que o papel da escola é deveras relevante, se nos situarmos ao nível da relação comunicacional estabelecida na sala de aula entre aluno-professor, em adequação com as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas pelo docente (o vídeo, o retroprojector, o projector de slides, o computador, etc.), como meios de ilustração/explicitação de determinados conteúdos programáticos, naturalmente correlacionados com toda a problemática da aprendizagem da leitura da imagem, em estreita ligação com a abordagem efectuada pela semiologia icónica, que nos permite o estudo da imagem por si própria.
A aprendizagem da leitura da imagem deve afigurar-se, aos olhos sempre atentos do educador, como verdadeiramente fundamental, antes de mais, porque «a imagem é ambígua, polissémica, a mensagem que ela transmite não pode ser decifrada com toda a certeza, contrariamente à mensagem linguística que é capaz de realizar uma comunicação não ambígua».
A ambiguidade da mensagem não é, contudo, um defeito, mas uma qualidade que é preciso aprender a compreender, a interpretar, a descodificar e a considerar nas devidas proporções. A ambiguidade da mensagem constitui mesmo a sua riqueza fundamental. Todavia, as imagens transmitem significados múltiplos e diversos, tornando-se difícil saber exactamente o que elas dizem e como o fazem.
É precisamente pela semiologia icónica que podemos investigar o problema da significação das imagens, que nos é permitido estudar os factos por ela transmitidos, enquanto eles significam, uma vez que é sempre postulada a relação entre dois termos, o significante e o significado, da qual resulta um terceiro, o signo, que é o total associativo dos dois primeiros, ou seja, o resultado da associação entre um conceito e a sua imagem mental.
A semiologia não incide senão sobre a linguagem, não conhece senão uma operação: a leitura ou a decifração, que a imagem enquanto texto exige, e para a qual a escola e o professor não podem deixar de preparar os seus alunos.
7. A semiologia icónica
A semiologia icónica, alimentando-se através dos métodos de análise extraídos da linguística, fornece-nos a possibilidade de estudar a imagem por si própria, ao concebê-la como um determinado sistema que veicula, concomitantemente, a significação e a comunicação. Permite-nos, portanto, a abordagem da imagem como um sistema, cujas leis de funcionamento podem ser cientificamente dominadas. A imagem pode ser vista como um sinal ou como um instrumento, cujo objectivo primacial se circunscreve à transmissão de mensagens.
A transmissão de mensagens requer a existência de um código segundo o qual as mesmas são pensadas e produzidas, pelo que a respectiva decifração exige, por sua vez, a posse de um código que seja comum ao receptor/espectador. Sem o conhecimento adequado do código avança-se com muita dificuldade na leitura da imagem, ou torna-se mesmo impossível decifrá-la.
No decorrer do processo de aprendizagem pela imagem, importa que o docente tenha presente que o aluno pode apresentar pelo menos duas espécies de atitudes distintas: por uma lado, a atitude de contemplação, que remete para o aspecto formal da imagem; por outro, a atitude de acção, que consiste em compreender, identificar e decifrar a mensagem, bem como à apreensão do conteúdo da imagem.
No primeiro caso, estamos perante uma “leitura estética”: apenas é captado o que se mostra pela percepção visual, o conteúdo manifesto da imagem. Permanecemos aqui no domínio da conotação linguística. No segundo, a leitura não é estética, mas semântica. Trata-se, neste caso, de um tipo de leitura que permite auscultar o que a mensagem visual significa, pelo efeito de denotação que produz, acedendo ao seu conteúdo latente.
É da inter-relação destes dois tipos de atitudes face à imagem que resulta o já referido jogo hermenêutico da interpretação/compreensão. É este que indica ao docente que, na interpretação da imagem (como na interpretação de qualquer outra forma em que o texto se apresente), deve predominar a acção sobre a contemplação, que o aspecto formal da imagem deve ser comandado pelo domínio da compreensão/descodificação da imagem, a fim de que o aluno possa alcançar o conteúdo essencial que a mesma encerra. Por outras palavras, a “leitura semântica” apresenta-se como o sustentáculo, como o fundamento, da “leitura estética”
A leitura da imagem encontra, no entanto, algumas dificuldades que importa não negligenciar, as quais se prendem, particularmente com a inexistência de uma gramática “pura” da imagem, existente à semelhança de uma gramática pura da língua: a linguagem icónica não se reduz a um único código, aplicável uniformemente a todas as mensagens audiovisuais. Ultrapassa, por conseguinte, qualquer quadro formal que lhe seja imposto.
O enunciado audiovisual oferece-se ao espectador como um tecido “intelectual-sensitivo” que possibilita, em primeiro lugar, a recepção visual global, por intermédio da qual se procura identificar as significações já conhecidas e, em segundo lugar, permite a descoberta progressiva das figuras. Como observa a propósito Judith Lazar[8] «nunca é o real que se encontra numa mensagem icónica, mas as figuras análogas do real retocadas pelos códigos específicos. O sentido de uma mensagem icónica aparece quando o espectador se torna capaz de traduzir a mensagem – conduzir o desconhecido ao conhecido – e reunir os dados visuais num saber pré-existente».
Concebemos a imagem como um meio de comunicação de massas por excelência, que pode espantar, convencer, seduzir, aborrecer ou aterrorizar… Em qualquer dos casos, a imagem é sempre acompanhada da mesma função essencial: a de entrar em contacto com o seu decifrador, tendo por objectivo principal assegurar a comunicação e a informação eficiente, numa perspectiva de qualidade, embora estes desejáveis atributos nem sempre estejam presentes na sala de aula e nos programas transmitidos pelos Mass Media.
Não obstante as questões éticas colocas a este respeito, não podemos olvidar que vivemos num mundo permanentemente invadido pela imagem, que as crianças e os jovens passam horas a fio frente ao ecrã, sem grandes preocupações selectivas; que os olhos notam primeiro a imagem do que o texto e que, independentemente de se saber ler ou escrever, a atracção da imagem é fatal. «As imagens são veículos de comunicação, escreve Lazar, trazem uma verdade. (...). O espectador da imagem recebe ao mesmo tempo a mensagem receptiva e a mensagem cultural e veremos que esta confusão de leitura corresponde à função da imagem de massas»[9].
Sabemos, ainda, que a imagem é muito poderosa e pode criar alguma passividade indesejável a todo o processo de desenvolvimento da inteligência do educando. Enquanto educadores cabe-nos, então, perguntar: a imagem na escola para quê? Por mais paradoxal que pareça, para o aluno, a imagem tem a dupla função de o encantar e, por extensão, de o fazer apreender melhor, em virtude desse primado da inteligência ou raciocínio intuito sobre a inteligência ou raciocínio reflexivo, secundarizando o “tradicional” poder de persuasão dos conceitos austeramente dados por um texto denso.
Há imagens por todo o lado. A criança de hoje vive num mundo invadido pela imagem. Desde o rótulo do gelado aos cromos ou aos posters afixados nas paredes do seu quarto, nas ruas da sua cidade, a criança está rodeada pela imagem. Regra geral, os sues olhos notam primeiro a imagem e só depois o texto. Mesmo quando não sabem ler, as crianças já são fortemente atraídas pela imagem. A imagem manipula-as, exerce sobre elas um poder de persuasão irresistível que domina instantaneamente o seu cérebro.
É actualmente um facto incontestável que as crianças ingressam na escola repletas de experiências muito diversificadas com o mundo das máquinas, com o cérebro impregnado de imagens oriundas da televisão, do vídeo e do cinema.
Esta constatação não será por si mesmo suficiente para pôr em causa o sistema escolar tal como ele tem sido estruturado, se pensarmos não só nos curricula, mas especialmente nos modos de processamento da comunicação feita pelo professor?
Os Media não podem mais ser tratados, pelo educador, como um monstro absoluto, como o rival terrivelmente detestado da sua prática lectiva e, particularmente, das suas estratégias comunicacionais, ou como o veículo de uma comunicação de teor apenas infirmativo nos domínios da socialização e da formação da personalidade do educando.
É necessário que o educador mude de mentalidade e de postura, no sentido de averiguar o outro lado do problema que nos indica, segundo algumas experiências recentemente realizadas em jovens espectadores, que é possível criar nestes, pela imagem, mesmo tratando-se da imagem televisiva, comportamentos activos, comportamentos que encerrem em si mesmo a atitude crítica, a curiosidade e a selectividade, graças a actividades de compreensão prática da imagem, da distinção entre o real e o imaginário, pela formação de um novo modus vivendi que se traduz, em última instância, na dimensão confirmativa da comunicação da imagem pelos Media.
Como pertinentemente sublinha José Cerca, «É necessário que a escola ajude os alunos, ao mesmo tempo, a distinguir o real e o imaginário entre o facto e a ficção, entre o directo e o diferido, entre a realização factual e a realização virtual de um acontecimento. É urgente que a escola desenvolva nos alunos capacidades e competências de discernimento e de descodificação crítica da linguagem dos media, de modo a tomarem consciência das múltiplas manipulações mediáticas da sociedade em que vivem».
De facto, «os média, prossegue o autor, ao exercerem uma enorme atracção sobre os seus receptores, acabam por seduzir, com grande facilidade, muitos dos seus consumidores, despersonalizando-os, muitas vezes, controlando-os frequentemente, sobretudo quando estes são incapazes de assumirem uma posição crítica perante as suas múltiplas mensagens».
Por esta ordem de razões, a grande precaução do docente deverá centra-se em manter, invariavelmente, uma preocupação pedagógica e científica adequada não apenas aos curricula, mas ao perfil e à estrutura natural do educando/grupo-turma.
Este pressuposto permite-nos mostrar, embora jamais façamos uma apologia da imagem em detrimento do texto escrito ou oral, como jamais é hoje possível que tudo se passe nos estabelecimentos de ensino como se a imagem representasse um certo perigo e atentasse contra a instituição escolar.
A repressão da imagem não pode constituir uma estratégia mais ou menos inconsciente da escola. Ao invés, deve ser requerida como um dos seus instrumentos fundamentais, como um dos meios pelos quais a aprendizagem se pode processar eficazmente, desde que devidamente tratada e utilizada, ou seja, desde que os docentes tenham sempre presente as regras hermenêuticas da semiologia icónica, pelas quais lhe será permitido evitar todos os perigos que a aprendizagem pela imagem pode eventualmente proporcionar aos jovens.
Também não poderemos permitir que se cave mais o desfasamento entre o saber dos alunos e o saber dos professores em matéria da imagem, que o professor seja o ignorante e que deva colocar as “orelhas de burro”, mas que seja o primeiro a acompanhar e a desenvolver, nos alunos, as potencialidades de aprendizagem que a imagem oferece. Por isso, o nosso campo de investigação, o do professor, deve situar-se na encruzilhada da sociologia da comunicação, da psicopedagogia e da semiótica.
É evidente que a escola está em crise, que a televisão, a imagem, o audiovisual, são o “bode expiatório”, mas não seguramente a causa única dessa crise. Urge, por conseguinte, rever as noções de aprendizagem, de ensino, de educação, de instrução, de cultura, de aluno, de professor, de escola e de sociedade, se pretendemos, de facto, senão superar, pelo menos minimizar os aspectos mais negativos desta conjuntura educativa.
Teremos de desenvolver todos os esforços para que possamos deixar de corroborar a tese de Jaquinot, segundo a qual «a pedagogia apostou tradicionalmente nos valores da informação mais do que nos valores da evasão, na observação à custa da imaginação e no documentário em detrimento da ficção. A imagem, quer seja mental ou técnica, é igualmente desvalorizada pela escola. Desconfia-se dela, se é aceite, é para perverter – outros diriam é para a dominar – posta ao serviço do verbo, tomada por ele, controlada por ele, numa palavra, negada»[10].
Isabel Rosete
Agosto, 2006/
Novembro, 2007
Notas
[1] Cf. Leandro Almeida (1994), Inteligência. Definição e Medida, p. 50-51 e p. 53
[2] Cf. Logos , Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia (1990), Vol. 2, pp. 1458‑1459.
[3] Cf. Gerard Legrand (!986), Dicionário de Filosofia, p. 328.
[4] Thibault-Laulan (1971), L’image dans la Société Contemporaine, p. 18.
[5][5] Moles (1981), L’image Communications Fonctionnelle, p. 132.
[6] José Cerca, (1996), “Uma Civilização Multimédia”, Revista Noesis nº37, p. 12.
[7] Para sermos mais precisos na determinação deste conceito cuja “definição” foi sempre tão polémica ao longo da história do pensamento filosófico ocidental, deveremos distinguir entre “universais” e “universal”. Segundo a escolástica, reagrupavam-se com o nome de “Universais” os termos (universais, não particulares) da lógica clássica: os géneros e as espécies definidas por Aristóteles. A chamada polémica dos Universais pôs em confronto duas grandes correntes do pensamento: o nominalismo e o realismo. Segundo os primeiros os universais apresentam-se como simples nomes sem qualquer existência verdadeira; para os segundos os universais possuíam, ao invés, uma existência real que precedia e estruturava os objectos aos quais se aplicavam. Por outro lado, o termo “universal” diz-se, na lógica clássica, “de um atributo que pertence a todos os indivíduos de uma classe tomados individualmente. A proposição universal é a que aplica este atributo a cada um dos indivíduos contidos na extensão do sujeito”.(Cf. Gerard Legrand (1986), Dicionário de Filosofia, p. 378).
[8] Ibid., p. 138.
[9] Ibid., p. 140.
[10] G. Jacquinot (1981), Communications, Apprendre des Média, p.209
[1] Cf. Leandro Almeida (1994), Inteligência. Definição e Medida, p. 50-51 e p. 53
[2] Cf. Logos , Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia (1990), Vol. 2, pp. 1458‑1459.
[3] Cf. Gerard Legrand (!986), Dicionário de Filosofia, p. 328.
[4] Thibault-Laulan (1971), L’image dans la Société Contemporaine, p. 18.
[5][5] Moles (1981), L’image Communications Fonctionnelle, p. 132.
[6] José Cerca, (1996), “Uma Civilização Multimédia”, Revista Noesis nº37, p. 12.
[7] Para sermos mais precisos na determinação deste conceito cuja “definição” foi sempre tão polémica ao longo da história do pensamento filosófico ocidental, deveremos distinguir entre “universais” e “universal”. Segundo a escolástica, reagrupavam-se com o nome de “Universais” os termos (universais, não particulares) da lógica clássica: os géneros e as espécies definidas por Aristóteles. A chamada polémica dos Universais pôs em confronto duas grandes correntes do pensamento: o nominalismo e o realismo. Segundo os primeiros os universais apresentam-se como simples nomes sem qualquer existência verdadeira; para os segundos os universais possuíam, ao invés, uma existência real que precedia e estruturava os objectos aos quais se aplicavam. Por outro lado, o termo “universal” diz-se, na lógica clássica, “de um atributo que pertence a todos os indivíduos de uma classe tomados individualmente. A proposição universal é a que aplica este atributo a cada um dos indivíduos contidos na extensão do sujeito”.(Cf. Gerard Legrand (1986), Dicionário de Filosofia, p. 378).
[8] Ibid., p. 138.
[9] Ibid., p. 140.
[10] G. Jacquinot (1981), Communications, Apprendre des Média, p.209











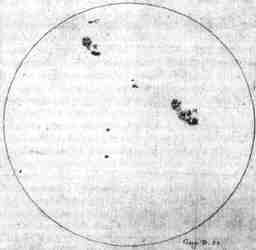















.jpg)
Sem comentários:
Enviar um comentário