“A Filosofia devia ser um dos pilares da política”
Isabel Rosete, cuja vida tem sido dedicada à Filosofia, é autora de várias obras poético-literárias, preparando-se para publicar outras três em breve
Carla Real
Com 45 anos, Isabel Rosete, de Aveiro, possui um mestrado em “Estética e Filosofia da Arte”, é doutoranda na mesma área. Professora de Filosofia, é também responsável pela publicação de várias obras poético-literárias e de cariz científico.
Porque decidiu enveredar pela área da Filosofia?
A Filosofia tornou-se uma verdadeira paixão (eterna), desde o meu 11.o ano. Tive a sorte de me ter cruzado, nessa altura, com dois professores extraordinários, que, até hoje, recordo como autênticos modelos do que é ser, de facto, professor de Filosofia: sabiam o que é a Filosofia, qual a sua real utilidade e como a ensinar, devidamente, aos adolescentes em formação pessoal e social continuada.
Mostraram-me como a Filosofia é absolutamente imprescindível na vida quotidiana, porque só fala do que é e de quem é o Homem, do seu ser e do seu estar consigo mesmo, com os outros homens, com a Natureza e com o Universo; que é essa radical e abrangente área do saber que mostra todas as coisas tal como são na sua autenticidade, rompendo os ignóbeis véus das aparências, sem preconceitos de qualquer espécie, quais cancros que minam, cada vez mais, a sociedade presente, lamentavelmente afastada das lides filosóficas.
Demonstraram-me que a Filosofia é, primeiro: a própria vida em todas as dimensões, e que, por conseguinte, viver sem ela, não é propriamente viver, mas, tão-só, sobreviver de olhos cegos e ouvidos surdos; e segundo: o maior e mais nutritivo alimento do espírito, do pensamento, a que, afinal, nós, Homens, nos reduzimos, sem esses abstraccionismos linguísticos ou conceptuais que lhe costumam atribuir.
E a Psicologia? Quando aparece?
A Psicologia surgiu por arrastamento, embora como um complemento integrante e indispensável da própria Filosofia, sempre com ela interseccionada. Esta outra paixão (também eterna e em crescendo), surgiu quando frequentava o 10.o ano. E, tal como a paixão pela Filosofia, intensificou-se profundamente enquanto cursava a licenciatura de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde tive o privilégio de ser aluna de grandes mestres, de conviver com verdadeiros professores, igualmente modelos de docência, a quem devo tudo o que sei e sou hoje.
A Isabel destaca-se pela forma peculiar como aborda a cadeira de Filosofia, muitas vezes considerada “monótona” pelos alunos. Como faz para os cativar para essas matérias?
Transmitindo-lhes o entusiasmo, plenamente vivo e sentido que, em mim, a Filosofia fez emergir, pela sua irredutível necessidade e utilidade permanente. A Filosofia, que só deve ser leccionada pelos profissionais portadores da convicção do ser filósofo e não por aqueles apanhados pelas negras malhas que regem o docente-funcionário público, “cumpridor” de programas para as estatísticas, é um bálsamo para as novas mentes em formação, e não mais uma actividade supérflua ou um conjunto de ideias abstractas reservadas a uma determinada elite.
Esse cliché de que a Filosofia é “abstracta” surgiu daqueles que subverteram a sua essência em virtude de uma leccionação “monótona”, resultante, não da Filosofia em si, mas de um mero e terrível papaguear de conhecimentos exclusivamente a partir de um manual escolar, sem criatividade de materiais e de estratégias didácticas que estimulem os alunos para o crucial acto de pensar.
O Portugal de hoje é um exemplo, “claramente visto”, da ausência desta atitude nos políticos que nos (des)governam. Esta é uma constatação convicta da real e urgente necessidade da Filosofia como um dos pilares fundamentais onde a política deve alicerçar-se.
O verdadeiro professor de Filosofia é, por essência, um pedagogo, um guia, um orientador que auxilia os alunos nos respectivos partos intelectuais, que os estimula a parir ideias que, nas suas mentes, estavam em estado de latência e que, por esta forma de amor à sabedoria, são espicaçadas e, então, brotam para o estado manifesto.
Descreva, sucintamente, as obras poético-literárias que publicou até agora.
São obras de cariz eminentemente filosófico. Aliás, devo confessar-lhe que foi justamente a Filosofia, assim sentida e vivida, que me abriu o caminho para a poesia, para a prosa poética e para a literatura. Estas sementes começaram a germinar com mais visibilidade aquando da feitura do curso de mestrado em “Estética e Filosofia da Arte” e, sobretudo, durante as investigações realizadas para a tese de Doutoramento em curso, dedicada – a partir do pensamento de Martin Heidegger – à poesia e ao canto dos poetas, perspectivado ecologicamente.
Concebe-se a poesia enquanto forma privilegiada da arte se dar (para Heidegger, e para mim também, toda arte é poesia), como a forma explícita de salvaguarda da Terra, como o grande grito universal do pensamento contra as investidas do projecto da ciência-técnica modernas que minam e corrompem a Natureza, provocando constantes desequilíbrios eco-sistemáticos. E, deste modo, como meio de alerta para a necessidade de se redimensionar e reestruturar uma outra humanidade, cujo pensamento não seja mais inconsciente e calculista, e cujas mãos não sejam mais exterminadoras.
Cada obra minha publicada em antologias poético-literárias nacionais e internacionais, exprime estas preocupações, esta minha forma de auscultar o mundo humanamente e em plena harmonia com a Natureza, onde me integro ou não, completamente, quer me refira a “Vide-Verso”, “Roda Mundo 2008”, “Poiesis” ou “Roteiro(s) da Alma”.
Nelas, pode ler-se, entre outras, “Quantos são os mistérios da escrita”, “Nas montanhas do coração” (ensaio sobre o poeta alemão Rainer Maria Rilke), “Advém o turbilhão dos sentidos”, Ouso ousar o tudo”, “Abomino o egocentrismo”…
Qual o tema dominante na sua escrita?
Movo-me por vários temas e autores, de âmbito muito diverso. Tanto escrevo sobre Heidegger, Nietzsche, Kant, Platão, Freud ou Piaget, no âmbito da Filosofia /Psicologia, ou sobre Vergílio Ferreira, Fernando Pessoa(s), Padre António Vieira, Rainer Maria Rilke ou Holderlin, nos domínios da literatura e da poesia.
Talvez por influência dos assuntos centralmente abordados por estes autores, que venho estudando ao longo de todos estes anos, escreva, com particular incidência, sobre a vida e a morte, sobre o estado actual da Humanidade e da Natureza, sobre a linguagem, o pensamento e o acto de escrever, sobre o amor, o mistério, a criatividade, a arte ou a identidade, a hipocrisia, os preconceitos e a inveja, que muito me atormentam…
Como caracteriza a sua próxima obra “Vozes do Pensamento – Uma Obra para Espíritos Críticos”, cujo lançamento está previsto para o próximo mês?
Esta obra, a primeira individual que publico em Portugal, composta por duas partes, “Interiores” e “Versões de Mundos”, exterioriza, precisamente, e como o próprio título indica, as vozes que há muito ecoam dentro do meu pensamento, que viaja, por vezes, hiperbolicamente, por todos os lugares, nessa eterna busca pela verdade e pela sabedoria, pelas essências das coisas que, amiúde, se nos ocultam. Talvez esteja a fazer Filosofia através da poesia, como sugerem alguns dos meus leitores.
São pensamentos dispersos, vividos e por viver, projectados, sonhados ou recordados, sobre temas que o meu pensamento foi ditando e as minhas mãos escreveram.
Trata-se de um desabafo da minha alma e do meu corpo sobre mim mesma, e sobre o mundo, tal como ele é e se me apresenta em todas as suas dimensões que, quiçá, corresponde a muitos desabafos da grande generalidade dos seres humanos.
É um livro intimista, onde podem ler-me, integralmente, na mais pura transparência do meu (vosso!?) ser e existir, pensar e sentir. Também altruísta, onde os actos ignóbeis dos homens são condenados, dos pontos de vista ético, social e político, e os seus nobre feitos celebrados.
Nada mais vou adiantar sobre este livro, para que os meus eventuais leitores (espero que sejam muitos), adolescentes, jovens e adultos, descubram, por si próprios, o espírito que o percorre e, quiçá, nele se vejam ou revejam, como num espelho, e se redescubram, sem narcisismo.
Estas “Vozes” ainda não se silenciaram. Far-se-ão ouvir, ainda mais alargadamente, nos meus próximos três livros, já no prelo: “Entre-Corpos”, “Fluxos da Memória” e “Mundos do Ser e do Não-Ser”.
LEGENDA DR: “Lamentavelmente, a sociedade actual está afastada das lides filosóficas”
FIM
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010
Auschwitz - A indústria da morte nazista.

A indústria da morte
Símbolo da crueldade nazista, o campo de concentração onde 1,1 milhão de pessoas perderam a vida revela como as atrocidades foram o resultado de um trabalho planejado, disciplinado e eficiente.
Matar um inimigo é fácil. Basta disposição, oportunidade e alguma força. Matar milhares de inimigos dá mais trabalho. Requer poder e, não raro, uma guerra. Agora, matar milhões de pessoas, eliminar populações inteiras e varrer do mapa comunidades não é para qualquer um. Requer um arraigado sentimento de superioridade, doses cavalares de fundamentalismo, e consentimento popular. E, do ponto de vista puramente logístico, um grande esforço de organização, planejamento minucioso e disciplina. É preciso ter uma máquina extremamente eficiente em mãos.
Prisioneiros a espera do trem que os levaria ao campo
Poucas vezes na história, talvez nunca antes nem depois, um governo se sentiu tão à vontade para executar a terceira situação descrita acima quanto os nazistas na Alemanha, Áustria, Romênia, Iugoslávia, Itália, França, Bélgica, Holanda, Bulgária, Hungria, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Bielo-Rússia e Checoslováquia, mas, principalmente na Polônia. Nesses países, os seguidores de Hitler colocaram em prática um projeto inédito de limpeza étnica que levou a deportações, evacuações em massa, expurgos, migrações forçadas, prisões e, por fim, ao extermínio planejado de quase 6 milhões de pessoas. O modelo ultimado dessa máquina de extermínio só ficou pronto com os campos construídos e operados durante a guerra na Polônia. Entre eles, o maior, localizado em Auschwitz, no sul do país. Lá, entre maio de 1940 e janeiro de 1945, cerca de 1,1 milhão de pessoas morreram. A maioria era de judeus, mas havia prisioneiros de guerra soviéticos, dissidentes políticos poloneses, ciganos e testemunhas-de-jeová. Esta reportagem não vai explicar o porquê de toda essa gente ter sido morta. Isso tem rendido nos últimos 60 anos especulações e estudos profundos da alma e da política do nazismo e da Alemanha. Nosso esforço vai se concentrar em explicar como os nazistas planejaram e operaram a maior indústria de extermínio de todos os tempos. Que inteligência esteve por trás dessa máquina de assassínio em massa? Que ideologia a justificou? E quem foi quem no sistema: militares, empresários, cientistas, arquitetos, políticos, juristas, carcereiros e burocratas.
Raízes do mal
No final de abril de 1940, uma comitiva militar de 6 veículos cruzou a região da Alta Silésia, no sul da Polônia. As estradas poeirentas tornavam a viagem difícil e o avanço lento. A paisagem se limitava a extensos trechos de florestas e campos sem cultivo. Por duas horas, nenhum vilarejo foi visto. No segundo carro do cortejo estava Rudolf Hoss, um proeminente capitão da SS, a temida tropa de choque nazista. O local que eles procuravam aparecia nos velhos mapas como um conjunto de galpões construídos pelo Império Austro-Húngaro durante a 1ª Guerra Mundial, todos de madeira, a maioria em péssimo estado. No mapa da nova Europa que os nazistas desenhavam, porém, o nome daquele lugar no meio do nada ganharia destaque e ficaria para sempre marcado na história.
Seis meses antes, a Alemanha tinha invadido a Polônia e iniciado a 2ª Guerra. Agora os nazistas colocavam em marcha o plano de utilizar o número crescente de prisioneiros de guerra nas fábricas e indústrias alemãs, onde seriam explorados como mão-de-obra escrava. Hoss tinha uma missão e tanto pela frente: “Precisava criar um campo que pudesse abrigar 10 000 pessoas, antes da chegada do inverno”, escreveu. Em apenas 20 dias chegariam os 728 primeiros prisioneiros de Auschwitz: todos homens poloneses, fortes e saudáveis, acusados de resistência. Entraram pelo portão da frente, onde Hoss mandara escrever: Arbeit macht frei (ou “O trabalho liberta”). A frase, que cheira como um apfelstrudel de sarcasmo, revela a prioridade dos nazistas naqueles primeiros tempos da guerra: conquistar territórios para a Grande Alemanha e transformá-los, rapidamente, em mais um pistão da azeitada indústria de guerra. Apenas 3 meses após sua inauguração, já havia 8 000 pessoas no local.
Localizado a 30 km de um conjunto de minas com algumas das melhores jazidas de carvão da Europa, o campo de Auschwitz também chamou a atenção de um grande grupo industrial químico alemão, a IG Farben, que apresentou ao governo nazista um plano para instalar ali uma fábrica de borracha e combustíveis sintéticos. Os empresários fariam enormes investimentos na região. Em troca, pediam a garantia de mão-de-obra abundante. E barata.
Localização do campo no mapa
A idéia ganhou de cara um apoio de peso: o marechal Heinrich Himmler, comandante supremo da SS, um dos homens fortes do Reich. Segundo o historiador Christopher Browning, da Universidade da Carolina do Norte, nos EUA, longe de ser uma iniciativa isolada, a construção de campos como Auschwitz – que Himmler chamava de colônia-modelo – estava intimamente ligada aos planos de expansão da Alemanha, revelando dois dos principais temas que qualquer nazista recitaria de cor: o lebensraum (ou “espaço vital”) e a superioridade racial.
Aqui, talvez seja necessário um parêntese. Para os nazistas, o lebensraum era o espaço necessário para a expansão territorial e a prosperidade do povo alemão. O plano incluía a reintegração de todos os povos germânicos – inclusive os do Brasil. A idéia desse Shangri-lá nazista no leste desemboca na segunda máxima do rosário nazista: a questão racial. Já que era no lebensraum que os nazistas prometiam a reunificação da raça ariana, representada pelas populações de origem germânica, ficavam de fora eslavos, judeus, ciganos. “As teorias de supremacia racial não eram novas, nem exclusivas da política nazista nos anos 30. A novidade é que, com o início da guerra, os alemães sentiram-se à vontade para pôr em prática seus planos de limpeza étnica e racial”, diz Browning. Fecha parêntese.
Himmler esteve em Auschwitz pela primeira vez em março de 1941. Numa reunião secreta, ele anunciou seu desejo: que a capacidade do campo pulasse para 30 000, o que faria de Auschwitz o maior dos campos de prisioneiros. Esses planos de ampliação só foram descobertos recentemente, após a morte do arquiteto alemão Fritz Ertl, que tinha guardado reproduções do projeto. Pelas plantas, é possível ver que o novo complexo previa até dormitórios para oficiais da SS. Himmler tinha ali seus próprios aposentos, para os quais cada móvel, dos aparadores às poltronas, das mesas de trabalho aos enfeites na parede, foi desenhado com exclusividade.
Enquanto isso, os prisioneiros trabalhavam duro, cavando fossas, fabricando tijolos, construindo prédios, abrindo estradas, colocando trilhos, carregando e descarregando trens. E, apesar do foco no trabalho – como se diria hoje em dia –, Auschwitz já demostrava outra vocação: mais da metade dos 23 000 prisioneiros enviados no primeiro ano para o campo morreu antes de completar 20 meses na prisão, abatida pela fome, exaustão e maus-tratos.
Aniquilação
Em maio de 1941, as tropas alemãs invadiram a URSS. Em 4 semanas de combates, foram feitos 3 milhões de prisioneiros – 2 milhões morreriam antes de 9 meses na prisão. Segundo o historiador britânico Robert Gellately, autor de The Specter of Genocide (“O Espectro do Genocídio”, inédito no Brasil), a invasão da URSS alterou os rumos da guerra no leste, iniciando a guerra de aniquilação, ou vernichtungskrieg, termo utilizado por Hitler para explicar que o objetivo alemão seria destruir completamente o Estado comunista. Para os nazistas, a aniquilação dos soviéticos era justificável: primeiro por causa das crenças racistas, que viam na mistura do comunismo com o judaismo a pior raça possível – eram numerosas as comunidades judaicas na URSS. Depois, do ponto de vista prático e logístico, o desfecho das vitórias que fatalmente aconteceriam elevaria sobremaneira a quantidade de prisioneiros sob os cuidados da Alemanha, tornando-se inviável garantir sua sobrevivência.
Campo visto pelo alto
Em 22 de maio de 1941, a comissão econômica do 3º Reich se reuniu para discutir a logística após as primeiras semanas da invasão. As atas desse encontro foram encontradas em Berlim após a guerra e permaneceram durante muito tempo secretas. Recentemente foram publicadas pelo historiador americano Richard Overy, no livro Russia’s War (“A Guerra da Rússia”, sem tradução em português). “Se quisermos avançar em território soviético, temos que reduzir o consumo de alimentos e de energia das populações locais”, diz um trecho do relatório. Mais adiante, o documento conclui: “Nada de falsa piedade. Milhões morrerão de fome”.
A entrada em cena dos prisioneiros soviéticos acelerou os planos de extermínio nos campos. Em julho de 1941, membros do Programa de Eutanásia de Adultos, o Aktion T4, visitaram Auschwitz pela primeira vez. Criado em 1937, o programa de limpeza genética dos nazistas incluía a eliminação de crianças portadoras de deficiências ou com doenças terminais e a esterilização de adultos nessas condições. “Após o início da guerra, o T4 foi levado aos territórios ocupados e a lista passou a incluir adultos que não estivessem aptos para o trabalho”, diz Gellately. Os indesejáveis eram enviados para clínicas como a de Sonnestein e lá conduzidos a salas com falsos chuveiros, cujos canos não estavam ligados à água, mas a cilindros de monóxido de carbono. Cerca de 70 000 pacientes foram assassinados assim, entre 1939 e 1941. Naquele mês de julho, o T4 selecionou 575 prisioneiros de Auschwitz para morrer assim.
“A experiência da T4 na utilização de gás nas execuções foi a resposta para um problema logístico”, diz o historiador Michael Vildt, da Universidade de Hamburgo. Em 1941, os fuzilamentos em massa tornavam-se cada vez mais comuns. Os einsatzgruppen da SS (literalmente “grupos de mobilização”, mas que pode ser traduzido como “operações móveis de assassinato”), circulavam por trás das linhas de combate e perseguiam civis soviéticos e membros das comunidades judaicas da região, contando, muitas vezes, com o apoio de voluntários locais – ucranianos, lituanos, letões, entre outros – para capturar, fuzilar e enterrar os corpos. Em 15 de agosto daquele ano, Himmler assistiu à execução de prisioneiros acusados de incitar uma revolta contra os alemães em Minsk, na Bielo-Rússia. Em seus diários, encontrados em 1998 nos arquivos da extinta KGB, Himmler relatou que as vítimas chegaram em caminhões a um campo onde havia valas já abertas. Ao ver as covas, alguns presos tentaram correr e foram baleados, 1, 2, às vezes 3 vezes. “Enorme esforço para fuzilar apenas 100 pessoas”, anotou o líder da SS. Após o “esforço”, o general Erich von dem Bach Zelewski teria dito a Himmler que havia mais um inconveniente: o efeito negativo sobre os soldados. O rito sumário, a morte de crianças, velhos e mulheres civis, estaria abalando o moral dos seus homens.
“Himmler saiu dali convencido de que era preciso arrumar uma maneira melhor de matar”, afirma Vildt. “Tanto que incumbiu Albert Widman, tenente da polícia técnica e científica da SS, um veterano do T4 na Alemanha, de adaptar suas experiência com monóxido de carbono aos campos de prisioneiros.” Em junho, Widman havia questionando a viabilidade de deslocar cilindros do gás para locais de execução fora da Alemanha. Diante disso, ele sugeria um novo tipo de câmara de gás volante – caminhões fechados que tinham o cano de descarga voltado para o interior do veículo. Na mesma época, em Auschwitz, Karl Fritzch, tenente da SS e vice de Rudolf Hoss no comando do campo, fazia suas próprias experiências. Segundo Hoss, foi durante uma viagem dele a Berlim, que Fritzch teria tido a idéia de usar ácido cianídrico para eliminar os prisioneiros. Na época, uma marca popular desse produto era comercializada com o nome de Zyklon B (“ciclone”, em português) e ele estava fartamente disponível em Auschwitz, onde era usado para combater as constantes infestações de piolhos e outros insetos – o veneno tinha a vantagem de ser altamente tóxico e invariavelmente letal. Fritzch escolheu o bloco 11 para seu primeiro teste com Zyklon B. Numa noite entre o fim de agosto e o início de setembro de 1941, portas e janelas do galpão foram vedadas e os guardas da SS receberam máscaras de proteção. Cerca de 160 prisioneiros foram colocados nas celas do porão e o Zyklon, espalhado pelo local. Na manhã seguinte, muitos continuavam vivos. A dose teve de ser repetida até que todos morressem. Hoss admitiu “Essa história do gás me tranqüilizou. Sempre tive horror das execuções com pelotões de fuzilamento. Fiquei aliviado ao pensar que seríamos poupados daqueles banhos de sangue”.
No final daquele ano, Auschwitz havia ficado pequeno para tanta atividade, e o engenheiro Karl Bischoff foi incumbido de desenhar o projeto que praticamente criaria um novo campo, a 3 km do anterior. O local escolhido fora ocupado por uma pequena aldeia que os poloneses chamavam de Brzezinka, mas ficaria famoso pelo nome em alemão: Birkenau. O projeto previa 100 000 prisioneiros e estrutura de uma pequena cidade. Diferentemente do antigo Auschwitz, de onde a maioria das plantas e projetos desapareceram, o desenho original de Birkenau foi localizado entre os documentos secretos da antiga URSS, em 1990. Ele revela que, desde o início, o local foi desenhado para abrigar os prisioneiros em condições repugnantes. Não havia água encanada ou assoalho nos barracões. Adaptados dos antigos campos da Alemanha, onde cada preso tinha seu catre, os planos de Birkenau previam a colocação de 3 pessoas no mesmo espaço, ou 550 pessoas por barracão. As plantas originais revelam que Bischoff não ficou satisfeito com esses números. Onde se lia “550 por barracão” há uma anotação feita à mão, com o número riscado e trocado por 774. Ou seja, o espaço que nos campos da Alemanha era usado por 1 prisioneiro em Birkenau receberia 4.
Solução final
A invasão da URSS revelou outro aspecto que teria desdobramentos trágicos nos territórios ocupados: o anti-semitismo. A presença de um grande número de comunidades judaicas no país sempre foi apregoada pelos nazistas como prova da conspiração entre bolcheviques e judeus, que teria sido responsável pelos males que assolaram a Alemanha após a 1ª Guerra. “Os judeus começaram a ser sistematicamente perseguidos na Alemanha em 1933, bem antes da guerra. Mas foi nos territórios soviéticos que o anti-semitismo se manifestou numa vertente até então inédita: o extermínio sistemático”, diz Robert Gellately. O britânico Christopher Browning concorda: “O plano nazista para liquidação dos judeus desenvolveu-se por etapas, durante a 2ª metade de 1941, e não era consensual em toda a cúpula nazista. Até a invasão da URSS não se pode afirmar que havia o objetivo de realizar o extermínio”, diz. Segundo ele, o aumento brutal do número de prisioneiros, que superlotou campos e guetos, e a percepção de que a vitória na URSS não seria rápida, fez os nazistas concluir que deportar judeus para o leste consumia homens, armamentos e recursos demais.
Em 31 de julho de 1941, Hermann Goering, um dos homens mais poderosos da cúpula nazista e próximo de Hitler, encomendou ao general Reinhard Heydrich da SS a elaboração de um plano completo de “solução final da questão judaica”, que se tornaria o Protocolo de Wannsee, apresentado à cúpula nazista em Berlim no início de 1942 numa reunião que teve como anfitrião Adolf Eichman, do Ministério Central da Segurança (leia quadro acima). Antes mesmo do encontro em Wannsee, porém, os primeiros trens de deportação de judeus para os campos de extermínio já haviam partido em 15, 16 e 18 de outubro de 1941, de Viena, Praga e Berlim, respectivamente.
Os superlotados guetos poloneses tornaram-se a primeira escala da viagem de centenas de milhares de judeus rumo aos campos de extermínio. Em janeiro de 1942, os primeiros 2 500 judeus de Lodz foram enviados para Chelmno, um pequeno campo na Polônia, dirigido por Herbert Lange, um dos líderes do Programa de Eutanásia de Adultos. Imediatamente ao chegar, os prisioneiros foram obrigados a se despir e levados até uma casa sem janelas. Atrás deles as portas foram lacradas. Um caminhão encostou junto a uma das laterais do prédio e o escapamento foi conectado a uma rede de canos que levava o monóxido de carbono para dentro da casa. Depois de algumas horas, a maioria estava morta. Aqueles que resistiram foram fuzilados. Operações semelhantes estavam sendo feitas em diversos campos na Polônia, como em Belzec, por exemplo, onde morreram os judeus do gueto de Lublin.
Em julho de 1942, Himmler anunciou que todos os judeus sob autoridade do Governo Geral – que era como chamavam a Polônia ocupada – deveriam ser evacuados até o fim do ano. Uma meta e tanto, já que havia 2 milhões de judeus na Polônia, 400 000 só no gueto de Varsóvia. O impacto da notícia em Auschwitz foi tamanho que Rudolf Hoss passou a realizar duas e não mais uma reunião semanal. Todas às terças e sextas, pontualmente às 9 horas, ele juntava seu pessoal para discutir a administração do campo, garantir o ritmo das obras em Birkenau e coordenar a chegada dos novos prisioneiros. Num desses encontros foi decidida a construção de novas câmaras de gás. Adaptadas a partir de duas velhas casas, as chamadas “casinha vermelha” e “casinha branca” tornaram-se, na prática, duas caixas de tijolos com portas e janelas lacradas e apenas duas aberturas: uma na frente por onde os prisioneiros entravam caminhando e uma saída na parte de trás, por onde os corpos eram retirados. Outros campos poloneses, como Treblinka, Sobibor e Belzec, tornaram-se genuínas fábricas de morte. Treblinka, o maior deles, ficava a 100 km de Varsóvia e lá 900 000 pessoas foram mortas. Muito menor que Auschwitz, o campo todo tinha apenas apenas uma plataforma de trens, meia dúzia de barracões e um enorme complexo de câmaras de gás, com capacidade para 2 000 pessoas ao mesmo tempo. O comandante de Treblinka, Franz Stangl, mandou plantar flores, pintou as plataformas em tons vivos e colocou placas com os horários de chegada e partida dos trens, como se aquilo fosse uma estação de verdade. Disfarçou as câmaras de gás em salas de banho, para que os prisioneiros permanecessem calmos, sem reclamar, sem tentar fugir ou provocar confusão. A oferta do banho tinha, ainda, um objetivo muito prático (e muito cínico). Nus, os corpos depois de mortos não precisavam ser despidos, o que poupava as roupas para serem reaproveitadas. Entre os prisioneiros enviados para lá, 99% estavam mortos duas horas após desembarcar do trem.
Portão de entrada do campo onde se ler a frase: O Trabalho liberta
A escalada de mortes causava outro desafio logístico: livrar-se de tantos corpos. Em Auschwitz, no início, eles eram enterrados, mas com o verão o cheiro se tornava insuportável. Em setembro de 1942, Hoss visitou o campo de Chelmno e lá conheceu um método de cremação único e muito eficiente. Ele contou que o coronel Paul Blobel tinha mandado abrir valas de 3 x 3 metros e 4 metros de profundidade. A um metro do fundo, instalava barras de aço transversais. Depois, despejava gasolina no buraco. Sobre as barras ele depositava os corpos intercalando-os com lenha, para que queimassem completamente. As cinzas caiam pelo vão entre as barras, liberando a grelha para que pudesse ser usada novamente. Quando elas atingissem a altura das barras de aço, bastava manejar a estrutura para cima, até que toda a vala ficasse repleta de cinzas. Humanas.
Em março de 1942, embora mais de 1 milhão de judeus já estivessem mortos, cerca de 80% de todos os que morreriam durante a guerra ainda estavam vivos. Durante os 12 meses seguintes, a porcentagem se inverteria. Em maio de 1943, apenas 20% de todos os judeus que morreram no Holocausto ainda estavam vivos.
Apogeu e queda
Os arquitetos alemães estavam trabalhando duro em Auschwitz na 2ª metade de 1942, na construção dos novos crematórios em Birkenau. No projeto inicial, os prédios sob o nível do solo serviriam como necrotérios, para onde os corpos seriam levados e queimados. No entanto, as plantas passaram por consecutivas alterações. O enorme porão foi dividido em salas menores e a rampa entre os porões 1 e 2, por onde desceriam os corpos, deu lugar a uma escada de degraus largos. Algo aparentemente incoe*rente, já que o prédio receberia mais gente morta do que viva. As portas duplas, que abririam para dentro, foram substituídas por uma porta única, abrindo para fora, com vedação reforçada e um visor. No final das alterações, o necrotério havia se transformado numa supercâmara de gás, que matava até 2 000 pessoas em uma hora e garantiria a fama do lugar.
Outro nome para sempre associado a Auschwitz, o médico Josef Mengele, chegou ao campo no início de 1943. Mengele instalou-se no crematório 2, onde mantinha consultório, ambulatório com 8 leitos e laboratório. Ali, ele realizou estudos genéticos – uma obsessão nazista – e fez experiências médicas ligadas à guerra, como com gangrena e queimaduras. Uma de suas atividades prediletas era realizar autópsias simultâneas em gêmeos, algo raríssimo – em que outras circunstâncias dois irmãos gêmeos morrem ao mesmo tempo e no mesmo lugar? No laboratório de Mengele, assim que morria um gêmeo, seu irmão era trazido e assassinado.
Um dos alojamentos do campo
Em meados de 1943, Auschwitz atingiu seu tamanho máximo. A estrutura se parecia com uma pequena cidade. Para os soldados da SS, a vida era boa. Havia mercearias, cantinas, cinema, clube esportivo e um teatro com programação regular. A turma promovia festas e bebedeiras. O complexo industrial montado pela IG Farben produzia de armamentos a tinta e faturava US$ 250 milhões ao ano, em valores atualizados. Os cerca de 100 000 prisioneiros ficavam divididos em 45 subcampos. Havia um só para mulheres, com 30 000 prisioneiras. Perto dali ficava o “Canadá”, uma área que recebeu esse nome porque o Canadá era tido como um país rico, próspero e, sobretudo, pacífico. Lá funcionava a triagem da bagagem dos presos: de roupas a relógios, o que pudesse ser reaproveitado era enviado para a Alemanha. Para os prisioneiros, aquele era um dos poucos serviços almejados, pois era onde se vivia melhor.
Câmara de gas
Havia também prisioneiros que trabalhavam diretamente com os alemães, como alfaiates, barbeiros e garçons. Mas o trabalho sujo sobrava para o sonderkommando (“comando especial”, em português), o grupo de prisioneiros, judeus ou não, que ajudavam os alemães na operação dos assassinatos. Cada conjunto de câmaras e crematório funcionava com 100 prisioneiros e apenas 4 alemães, aos quais cabia somente introduzir os cristais de Zyklon B. Os prisioneiros eram quem recolhia os corpos e os levava a um elevador. Outra turma os recolhia lá em cima e tratava de queimá-los nos fornos ou em grandes valas a céu aberto.
Até o início de 1944, 550 000 pessoas já haviam sido mortas em Auschwitz. A essa altura, os Aliados sabiam o que ocorria lá e nos demais campos poloneses. Os prisioneiros passaram a conviver com a esperança (e com a desilusão) ao verem e ouvirem aviões aliados sobrevoar o complexo. Em agosto, a unidade da IG Farben em Monowitz, a apenas 6 km de Birkenau foi destruída por um ataque britânico. Os prisioneiros se perguntavam por que as linhas de trem ou as câmaras de gás não eram bombardeadas. E essa é uma das grandes questões da guerra que continuam sem resposta.
Com americanos e ingleses pelo ar e o Exército Vermelho pelo chão, o ritmo de mortes em Auschwitz caiu. Se em julho foram 10 000 execuções por dia, nos meses seguintes o número chegou a menos de 1 000. Hoss, então, resolveu eliminar o maior número de prisioneiros possível. No dia 2 de agosto, 21 000 ciganos foram ao crematório 5. Imaginando que seriam os próximos, os sonderkommando se rebelaram – em 7 de outubro. Atacaram os guardas e tentaram fugir, mas foram capturados e só não acabaram todos mortos porque havia 4 000 cadáveres para serem queimados. Para puni-los, Hoss decidiu alinhá-los e fuzilar 1 em cada 3. Sobraram apenas 92.
Em janeiro de 1945, veio a ordem para que se esvaziasse o campo. Documentos, plantas e telegramas foram queimados e crematórios e câmaras de gás, explodidos. Os soviéticos haviam interrompido as linhas e os trens não chegavam mais ao campo. Por isso, os últimos 50 000 prisioneiros que restavam foram obrigados a andar por 35 km, em meio à neve e sob - 20 ºC. Quem parou ou atrasou a marcha foi morto no caminho. O Exército Vermelho chegou a Auschwitz em 27 de janeiro. Não havia muito mais gente a libertar – apenas 1 200 prisioneiros fracos e doentes que haviam sido abandonados. Em 30 de abril, Adolf Hitler se matou num porão de Berlim. Em 5 de maio, a Academia Naval de Murwick, em Flensburg, norte da Alemanha, território ainda controlado pelos nazistas, foi sede da última reunião da SS. Rudolf Hoss esperava que uma derradeira e heróica ação fosse anunciada. Mas o marechal Himmler despediu-se do grupo e recomendou que todos aproveitassem o colapso do 3º Reich para sumirem no meio da multidão. Hoss então trocou sua farda de oficial por um traje comum da Marinha e se misturou a outros marinheiros em Sylt, uma ilha de veraneio sem nenhum valor estratégico. Himmler foi capturado dias depois e se matou engolindo cápsulas de cianeto de potássio.
Com o nome de Franz Lang, Hoss empregou-se numa fazenda em Gottrupel, norte da Alemanha. Acabou denunciado pela esposa, que havia sido presa e estava sob ameaça de deportação para a URSS. Preso enquanto dormia num estábulo, Hoss foi levado ao Tribunal de Nuremberg. O julgamento levou 3 semanas – tempo que aproveitou para escrever suas memórias, de onde as declarações reproduzidas nesta reportagem foram retiradas. A sentença – morte na forca – foi cumprida em 16 de abril de 1947, num pátio quase vazio em Auschwitz.
Mengele escapou para a Itália e com a colaboração das autoridades locais conseguiu passaporte e uma passagem para a Argentina. Viveu no Paraguai e no Brasil, onde morreu, em 1979, incógnito. Adolf Eichmann se escondeu na Argentina até 1960, quando foi seqüestrado por espiões israelenses. Julgado em Tel-Aviv, ele foi condenado e enforcado. Franz Stangl, o eficiente comandante de Treblinka, fugiu para o Brasil, onde trabalhou no almoxarifado da Volkswagen usando o próprio nome, até 1967, quando foi enfim deportado para a Alemanha. Morreu de ataque do coração aguardando o julgamento. Personagens menos importantes, como o tenente Oskar Gronning, que recolhia os bens dos prisioneiros no “Canadá”, também ficaram impunes. Após a guerra, ele empregou-se na área de recursos humanos de uma multinacional . Em 1964, foi nomeado juiz trabalhista, função que exerceu até se aposentar. Nunca foi julgado e vive hoje em Hannover.
Pilhas de corpos a espera de ser cremados.
Em 1963, os 22 últimos acusados por crimes em Auschwitz foram julgados: 17 saíram condenados, 6 à pena máxima de prisão perpétua. Ao todo, 8 000 homens da SS trabalharam em Auschwitz. Sete mil sobreviveram à guerra. Oitocentos foram julgados. A 90% deles, nunca foi imputado qualquer crime.
Rudolf Hoss
Proeminente capitão da Schutzstaffel, a polícia política de Hitler, mais conhecida pela sigla SS, liderou o campo de prisioneiros de Daschau, na Alemanha, antes de ser nomeado para comandar Auschwitz. Super- dedicado ao trabalho, em suas memórias escreveu que só se arrependia de “não ter podido dedicar mais tempo aos filhos”.
Lebensraum
Elaborado por Konrad Meyer, professor da Universidade de Berlim, o Plano Geral do Leste previa o reassentamento, na região entre a Alemanha e a Rússia, de 10 milhões de alemães espalhados pelo mundo. Para isso, cerca de 31 milhões de pessoas seriam declaradas “racialmente indesejáveis” e enviadas para a Sibéria. E as restantes, usadas como escravas.
Heinrich Himmler
O plano nazista para liquidação dos judeus não era consensual em toda a cúpula nazista, dividida entre o extermínio e a exploração. Comandante supremo da SS, Himmler era um dos expoentes do grupo que defendia o “extermínio pelo trabalho”.
Karl Fritzch
Tenente da SS, era um tipo de vice de Hoss em Auschwitz que assumia o comando quando o chefe estava fora. Numa dessas ausências, foi o primeiro a testar o Zyklon B para envenenar prisioneiros.
Zyklon B
Era comercializado na forma de cristais, que sublimavam em um gás tóxico ao entrarem contato com o ar. Só foi utilizado pela primeira vez por causa da iniciativa de Fritzch. Mas logo cairia nas graças dos nazistas, ao se mostrar o gás capaz de matar mais rápido.
Albert Widman
Membro do programa de eutanásia de adultos, Albert Widman recebeu a missão de adaptar suas experiências com monóxido de carbono aos campos de prisioneiros. Como transportar os cilindros seria caro demais, Widman sugeriu criar caminhões fechados, com o escapamento voltado para dentro do veículo. Mas a idéia não emplacou: o processo era lento demais – e matava apenas 30 prisioneiros por viagem.
Karl Bischoff
Engenheiro aviador e major da SS, foi um dos autores do projeto de expansão de Auschwitz que criou o novo campo de Birkenau. Depois disso, conseguiu se esconder – seu envolvimento com o genocídio só foi descoberto depois de sua morte, em 1950.
Chelmno
Foi o primeiro campo de extermínio a usar gases tóxicos para matar judeus, no final de 1941. Mais tarde, seria também o primeiro a desenvolver fornos crematórios. Quem chegava lá era informado que seria enviado para trabalhar na Alemanha, mas que antes deveria passar por um banho de higienização. Para dar veracidade ao teatro, os soldados da SS se preocupavam em vestir jalecos brancos e se fingir de médicos. No total, 152 000 pessoas foram assassinadas em Chelmno.
Josef Mengele
Médico e cientista, serviu na frente leste, onde recebeu a cruz de ferro por bravura. Em Auschwitz realizou experiências com cobaias humanas, como Eva Mozes Kor, húngara judia, que tinha 9 anos. “Três vezes por semana meu braço era amarrado para restringir o fluxo sanguíneo. Depois eles tiravam meu sangue até eu desmaiar.” A irmã gêmea de Eva, Míriam, não passava pelas mesmas privações, para que os efeitos do “tratamento” pudessem ser comparados.
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://img133.imageshack.us/img133/6593/auschwitz25sg0.jpg&imgrefurl=http://adrenaline.com.br/forum/showthread.php%3F202364-Auschwitz-A-indstria-da-morte-nazista%26p%3D3593197&usg=__MXp_R2T4q0f2ELlsQQ0XSwShye4=&h=346&w=504&sz=34&hl=pt-PT&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=YghC0v7X5tM53M:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dauschwitz%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
Isabel Rosete
Investigação

A civilização que imaginou Auschwitz
Published by Nuno Guerreiro Josuéat 2/18/2010 in Citações and História. "English" Translation
Estudar o nazismo não é a mesma coisa que estudar outro período histórico qualquer. Sem compreendermos este fenómeno nunca poderemos compreender o que foi o século XX. Mais: temos de saber que foi no mesmo país em que nasceu Bach que se imaginou Auschwitz, e que enquanto matavam judeus nos campos ouviam as suas composições para piano e faziam-no em nome da cultura alemã. Auschwitz foi construído em nome da civilização e contra uma suposta barbárie. Os nazis estavam convencidos de que eles é que eram os bons, os “decentes”. Himmler sempre utilizou essa linguagem, pois pedia aos seus homens para aguentarem esse trabalho “tão duro” que era o do assassínio em massa e, ao mesmo tempo, não se deixarem contaminar e manterem a sua “decência”. Auschwitz não foi um acidente, não foi apenas um excesso do nazismo, Auschwitz interroga-nos sobre o carácter da cultura e da modernidade. Auschwitz obriga-nos a pensar que temos de estar sempre conscientes de que a nossa capacidade para mudar o mundo e o poderio que nos dão as tecnologias têm de ser sempre balizados por referências morais muito fortes que evitem que a técnica sem moral conduza ao utilitarismo. Em Auschwitz escondem-se, condensam-se, todas as contradições das nossas sociedades modernas. Até a ideia de progresso, pois um médico como Mengele não se via como um criminoso, mas como alguém que procurava fazer avançar a ciência, que queria perceber as raízes biológicas dos comportamentos humanos e o fazia pelo método experimental.”
Ferran Gallego, historiador e autor do livro ‘Os Homens do Fuhrer: A Elite do Nacional-Socialismo 1919-1945‘ (Esfera dos Livros), em entrevista ao Ípsilon, edição de 12 de Fevereiro de 2010. (Citado por um voo cego a nada, via Mário Pires.)
Isabel Rosete dá entrevista ao "Diário de Aveiro" (18/02/2010) - Filosofia e Poesia
Realrosete: Jornalista Crala Rela
“A Filosofia devia ser um dos pilares da política”
Isabel Rosete, cuja vida tem sido dedicada à Filosofia, é autora de várias obras poético-literárias, preparando-se para publicar outras três em breve
Carla Real
Com 45 anos, Isabel Rosete, de Aveiro, possui um mestrado em “Estética e Filosofia da Arte”, é doutoranda na mesma área. Professora de Filosofia, é também responsável pela publicação de várias obras poético-literárias e de cariz científico.
Porque decidiu enveredar pela área da Filosofia?
A Filosofia tornou-se uma verdadeira paixão (eterna), desde o meu 11.o ano. Tive a sorte de me ter cruzado, nessa altura, com dois professores extraordinários, que, até hoje, recordo como autênticos modelos do que é ser, de facto, professor de Filosofia: sabiam o que é a Filosofia, qual a sua real utilidade e como a ensinar, devidamente, aos adolescentes em formação pessoal e social continuada.
Mostraram-me como a Filosofia é absolutamente imprescindível na vida quotidiana, porque só fala do que é e de quem é o Homem, do seu ser e do seu estar consigo mesmo, com os outros homens, com a Natureza e com o Universo; que é essa radical e abrangente área do saber que mostra todas as coisas tal como são na sua autenticidade, rompendo os ignóbeis véus das aparências, sem preconceitos de qualquer espécie, quais cancros que minam, cada vez mais, a sociedade presente, lamentavelmente afastada das lides filosóficas.
Demonstraram-me que a Filosofia é, primeiro: a própria vida em todas as dimensões, e que, por conseguinte, viver sem ela, não é propriamente viver, mas, tão-só, sobreviver de olhos cegos e ouvidos surdos; e segundo: o maior e mais nutritivo alimento do espírito, do pensamento, a que, afinal, nós, Homens, nos reduzimos, sem esses abstraccionismos linguísticos ou conceptuais que lhe costumam atribuir.
E a Psicologia? Quando aparece?
A Psicologia surgiu por arrastamento, embora como um complemento integrante e indispensável da própria Filosofia, sempre com ela interseccionada. Esta outra paixão (também eterna e em crescendo), surgiu quando frequentava o 10.o ano. E, tal como a paixão pela Filosofia, intensificou-se profundamente enquanto cursava a licenciatura de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde tive o privilégio de ser aluna de grandes mestres, de conviver com verdadeiros professores, igualmente modelos de docência, a quem devo tudo o que sei e sou hoje.
A Isabel destaca-se pela forma peculiar como aborda a cadeira de Filosofia, muitas vezes considerada “monótona” pelos alunos. Como faz para os cativar para essas matérias?
Transmitindo-lhes o entusiasmo, plenamente vivo e sentido que, em mim, a Filosofia fez emergir, pela sua irredutível necessidade e utilidade permanente. A Filosofia, que só deve ser leccionada pelos profissionais portadores da convicção do ser filósofo e não por aqueles apanhados pelas negras malhas que regem o docente-funcionário público, “cumpridor” de programas para as estatísticas, é um bálsamo para as novas mentes em formação, e não mais uma actividade supérflua ou um conjunto de ideias abstractas reservadas a uma determinada elite.
Esse cliché de que a Filosofia é “abstracta” surgiu daqueles que subverteram a sua essência em virtude de uma leccionação “monótona”, resultante, não da Filosofia em si, mas de um mero e terrível papaguear de conhecimentos exclusivamente a partir de um manual escolar, sem criatividade de materiais e de estratégias didácticas que estimulem os alunos para o crucial acto de pensar.
O Portugal de hoje é um exemplo, “claramente visto”, da ausência desta atitude nos políticos que nos (des)governam. Esta é uma constatação convicta da real e urgente necessidade da Filosofia como um dos pilares fundamentais onde a política deve alicerçar-se.
O verdadeiro professor de Filosofia é, por essência, um pedagogo, um guia, um orientador que auxilia os alunos nos respectivos partos intelectuais, que os estimula a parir ideias que, nas suas mentes, estavam em estado de latência e que, por esta forma de amor à sabedoria, são espicaçadas e, então, brotam para o estado manifesto.
Descreva, sucintamente, as obras poético-literárias que publicou até agora.
São obras de cariz eminentemente filosófico. Aliás, devo confessar-lhe que foi justamente a Filosofia, assim sentida e vivida, que me abriu o caminho para a poesia, para a prosa poética e para a literatura. Estas sementes começaram a germinar com mais visibilidade aquando da feitura do curso de mestrado em “Estética e Filosofia da Arte” e, sobretudo, durante as investigações realizadas para a tese de Doutoramento em curso, dedicada – a partir do pensamento de Martin Heidegger – à poesia e ao canto dos poetas, perspectivado ecologicamente.
Concebe-se a poesia enquanto forma privilegiada da arte se dar (para Heidegger, e para mim também, toda arte é poesia), como a forma explícita de salvaguarda da Terra, como o grande grito universal do pensamento contra as investidas do projecto da ciência-técnica modernas que minam e corrompem a Natureza, provocando constantes desequilíbrios eco-sistemáticos. E, deste modo, como meio de alerta para a necessidade de se redimensionar e reestruturar uma outra humanidade, cujo pensamento não seja mais inconsciente e calculista, e cujas mãos não sejam mais exterminadoras.
Cada obra minha publicada em antologias poético-literárias nacionais e internacionais, exprime estas preocupações, esta minha forma de auscultar o mundo humanamente e em plena harmonia com a Natureza, onde me integro ou não, completamente, quer me refira a “Vide-Verso”, “Roda Mundo 2008”, “Poiesis” ou “Roteiro(s) da Alma”.
Nelas, pode ler-se, entre outras, “Quantos são os mistérios da escrita”, “Nas montanhas do coração” (ensaio sobre o poeta alemão Rainer Maria Rilke), “Advém o turbilhão dos sentidos”, Ouso ousar o tudo”, “Abomino o egocentrismo”…
Qual o tema dominante na sua escrita?
Movo-me por vários temas e autores, de âmbito muito diverso. Tanto escrevo sobre Heidegger, Nietzsche, Kant, Platão, Freud ou Piaget, no âmbito da Filosofia /Psicologia, ou sobre Vergílio Ferreira, Fernando Pessoa(s), Padre António Vieira, Rainer Maria Rilke ou Holderlin, nos domínios da literatura e da poesia.
Talvez por influência dos assuntos centralmente abordados por estes autores, que venho estudando ao longo de todos estes anos, escreva, com particular incidência, sobre a vida e a morte, sobre o estado actual da Humanidade e da Natureza, sobre a linguagem, o pensamento e o acto de escrever, sobre o amor, o mistério, a criatividade, a arte ou a identidade, a hipocrisia, os preconceitos e a inveja, que muito me atormentam…
Como caracteriza a sua próxima obra “Vozes do Pensamento – Uma Obra para Espíritos Críticos”, cujo lançamento está previsto para o próximo mês?
Esta obra, a primeira individual que publico em Portugal, composta por duas partes, “Interiores” e “Versões de Mundos”, exterioriza, precisamente, e como o próprio título indica, as vozes que há muito ecoam dentro do meu pensamento, que viaja, por vezes, hiperbolicamente, por todos os lugares, nessa eterna busca pela verdade e pela sabedoria, pelas essências das coisas que, amiúde, se nos ocultam. Talvez esteja a fazer Filosofia através da poesia, como sugerem alguns dos meus leitores.
São pensamentos dispersos, vividos e por viver, projectados, sonhados ou recordados, sobre temas que o meu pensamento foi ditando e as minhas mãos escreveram.
Trata-se de um desabafo da minha alma e do meu corpo sobre mim mesma, e sobre o mundo, tal como ele é e se me apresenta em todas as suas dimensões que, quiçá, corresponde a muitos desabafos da grande generalidade dos seres humanos.
É um livro intimista, onde podem ler-me, integralmente, na mais pura transparência do meu (vosso!?) ser e existir, pensar e sentir. Também altruísta, onde os actos ignóbeis dos homens são condenados, dos pontos de vista ético, social e político, e os seus nobre feitos celebrados.
Nada mais vou adiantar sobre este livro, para que os meus eventuais leitores (espero que sejam muitos), adolescentes, jovens e adultos, descubram, por si próprios, o espírito que o percorre e, quiçá, nele se vejam ou revejam, como num espelho, e se redescubram, sem narcisismo.
Estas “Vozes” ainda não se silenciaram. Far-se-ão ouvir, ainda mais alargadamente, nos meus próximos três livros, já no prelo: “Entre-Corpos”, “Fluxos da Memória” e “Mundos do Ser e do Não-Ser”.
LEGENDA DR: “Lamentavelmente, a sociedade actual está afastada das lides filosóficas”
FIM
“A Filosofia devia ser um dos pilares da política”
Isabel Rosete, cuja vida tem sido dedicada à Filosofia, é autora de várias obras poético-literárias, preparando-se para publicar outras três em breve
Carla Real
Com 45 anos, Isabel Rosete, de Aveiro, possui um mestrado em “Estética e Filosofia da Arte”, é doutoranda na mesma área. Professora de Filosofia, é também responsável pela publicação de várias obras poético-literárias e de cariz científico.
Porque decidiu enveredar pela área da Filosofia?
A Filosofia tornou-se uma verdadeira paixão (eterna), desde o meu 11.o ano. Tive a sorte de me ter cruzado, nessa altura, com dois professores extraordinários, que, até hoje, recordo como autênticos modelos do que é ser, de facto, professor de Filosofia: sabiam o que é a Filosofia, qual a sua real utilidade e como a ensinar, devidamente, aos adolescentes em formação pessoal e social continuada.
Mostraram-me como a Filosofia é absolutamente imprescindível na vida quotidiana, porque só fala do que é e de quem é o Homem, do seu ser e do seu estar consigo mesmo, com os outros homens, com a Natureza e com o Universo; que é essa radical e abrangente área do saber que mostra todas as coisas tal como são na sua autenticidade, rompendo os ignóbeis véus das aparências, sem preconceitos de qualquer espécie, quais cancros que minam, cada vez mais, a sociedade presente, lamentavelmente afastada das lides filosóficas.
Demonstraram-me que a Filosofia é, primeiro: a própria vida em todas as dimensões, e que, por conseguinte, viver sem ela, não é propriamente viver, mas, tão-só, sobreviver de olhos cegos e ouvidos surdos; e segundo: o maior e mais nutritivo alimento do espírito, do pensamento, a que, afinal, nós, Homens, nos reduzimos, sem esses abstraccionismos linguísticos ou conceptuais que lhe costumam atribuir.
E a Psicologia? Quando aparece?
A Psicologia surgiu por arrastamento, embora como um complemento integrante e indispensável da própria Filosofia, sempre com ela interseccionada. Esta outra paixão (também eterna e em crescendo), surgiu quando frequentava o 10.o ano. E, tal como a paixão pela Filosofia, intensificou-se profundamente enquanto cursava a licenciatura de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde tive o privilégio de ser aluna de grandes mestres, de conviver com verdadeiros professores, igualmente modelos de docência, a quem devo tudo o que sei e sou hoje.
A Isabel destaca-se pela forma peculiar como aborda a cadeira de Filosofia, muitas vezes considerada “monótona” pelos alunos. Como faz para os cativar para essas matérias?
Transmitindo-lhes o entusiasmo, plenamente vivo e sentido que, em mim, a Filosofia fez emergir, pela sua irredutível necessidade e utilidade permanente. A Filosofia, que só deve ser leccionada pelos profissionais portadores da convicção do ser filósofo e não por aqueles apanhados pelas negras malhas que regem o docente-funcionário público, “cumpridor” de programas para as estatísticas, é um bálsamo para as novas mentes em formação, e não mais uma actividade supérflua ou um conjunto de ideias abstractas reservadas a uma determinada elite.
Esse cliché de que a Filosofia é “abstracta” surgiu daqueles que subverteram a sua essência em virtude de uma leccionação “monótona”, resultante, não da Filosofia em si, mas de um mero e terrível papaguear de conhecimentos exclusivamente a partir de um manual escolar, sem criatividade de materiais e de estratégias didácticas que estimulem os alunos para o crucial acto de pensar.
O Portugal de hoje é um exemplo, “claramente visto”, da ausência desta atitude nos políticos que nos (des)governam. Esta é uma constatação convicta da real e urgente necessidade da Filosofia como um dos pilares fundamentais onde a política deve alicerçar-se.
O verdadeiro professor de Filosofia é, por essência, um pedagogo, um guia, um orientador que auxilia os alunos nos respectivos partos intelectuais, que os estimula a parir ideias que, nas suas mentes, estavam em estado de latência e que, por esta forma de amor à sabedoria, são espicaçadas e, então, brotam para o estado manifesto.
Descreva, sucintamente, as obras poético-literárias que publicou até agora.
São obras de cariz eminentemente filosófico. Aliás, devo confessar-lhe que foi justamente a Filosofia, assim sentida e vivida, que me abriu o caminho para a poesia, para a prosa poética e para a literatura. Estas sementes começaram a germinar com mais visibilidade aquando da feitura do curso de mestrado em “Estética e Filosofia da Arte” e, sobretudo, durante as investigações realizadas para a tese de Doutoramento em curso, dedicada – a partir do pensamento de Martin Heidegger – à poesia e ao canto dos poetas, perspectivado ecologicamente.
Concebe-se a poesia enquanto forma privilegiada da arte se dar (para Heidegger, e para mim também, toda arte é poesia), como a forma explícita de salvaguarda da Terra, como o grande grito universal do pensamento contra as investidas do projecto da ciência-técnica modernas que minam e corrompem a Natureza, provocando constantes desequilíbrios eco-sistemáticos. E, deste modo, como meio de alerta para a necessidade de se redimensionar e reestruturar uma outra humanidade, cujo pensamento não seja mais inconsciente e calculista, e cujas mãos não sejam mais exterminadoras.
Cada obra minha publicada em antologias poético-literárias nacionais e internacionais, exprime estas preocupações, esta minha forma de auscultar o mundo humanamente e em plena harmonia com a Natureza, onde me integro ou não, completamente, quer me refira a “Vide-Verso”, “Roda Mundo 2008”, “Poiesis” ou “Roteiro(s) da Alma”.
Nelas, pode ler-se, entre outras, “Quantos são os mistérios da escrita”, “Nas montanhas do coração” (ensaio sobre o poeta alemão Rainer Maria Rilke), “Advém o turbilhão dos sentidos”, Ouso ousar o tudo”, “Abomino o egocentrismo”…
Qual o tema dominante na sua escrita?
Movo-me por vários temas e autores, de âmbito muito diverso. Tanto escrevo sobre Heidegger, Nietzsche, Kant, Platão, Freud ou Piaget, no âmbito da Filosofia /Psicologia, ou sobre Vergílio Ferreira, Fernando Pessoa(s), Padre António Vieira, Rainer Maria Rilke ou Holderlin, nos domínios da literatura e da poesia.
Talvez por influência dos assuntos centralmente abordados por estes autores, que venho estudando ao longo de todos estes anos, escreva, com particular incidência, sobre a vida e a morte, sobre o estado actual da Humanidade e da Natureza, sobre a linguagem, o pensamento e o acto de escrever, sobre o amor, o mistério, a criatividade, a arte ou a identidade, a hipocrisia, os preconceitos e a inveja, que muito me atormentam…
Como caracteriza a sua próxima obra “Vozes do Pensamento – Uma Obra para Espíritos Críticos”, cujo lançamento está previsto para o próximo mês?
Esta obra, a primeira individual que publico em Portugal, composta por duas partes, “Interiores” e “Versões de Mundos”, exterioriza, precisamente, e como o próprio título indica, as vozes que há muito ecoam dentro do meu pensamento, que viaja, por vezes, hiperbolicamente, por todos os lugares, nessa eterna busca pela verdade e pela sabedoria, pelas essências das coisas que, amiúde, se nos ocultam. Talvez esteja a fazer Filosofia através da poesia, como sugerem alguns dos meus leitores.
São pensamentos dispersos, vividos e por viver, projectados, sonhados ou recordados, sobre temas que o meu pensamento foi ditando e as minhas mãos escreveram.
Trata-se de um desabafo da minha alma e do meu corpo sobre mim mesma, e sobre o mundo, tal como ele é e se me apresenta em todas as suas dimensões que, quiçá, corresponde a muitos desabafos da grande generalidade dos seres humanos.
É um livro intimista, onde podem ler-me, integralmente, na mais pura transparência do meu (vosso!?) ser e existir, pensar e sentir. Também altruísta, onde os actos ignóbeis dos homens são condenados, dos pontos de vista ético, social e político, e os seus nobre feitos celebrados.
Nada mais vou adiantar sobre este livro, para que os meus eventuais leitores (espero que sejam muitos), adolescentes, jovens e adultos, descubram, por si próprios, o espírito que o percorre e, quiçá, nele se vejam ou revejam, como num espelho, e se redescubram, sem narcisismo.
Estas “Vozes” ainda não se silenciaram. Far-se-ão ouvir, ainda mais alargadamente, nos meus próximos três livros, já no prelo: “Entre-Corpos”, “Fluxos da Memória” e “Mundos do Ser e do Não-Ser”.
LEGENDA DR: “Lamentavelmente, a sociedade actual está afastada das lides filosóficas”
FIM
sábado, 20 de fevereiro de 2010
A democracia moderna: a corrupção e a estética da moeda
A ideologia dominante na sociedade contemporânea é a dos novos ricos. O novo rico é aquele que conhece o preço de todas as coisas mas desconhece seu valor. Sob seus auspícios, a educação produz uma cultura embotadora da sensibilidade e do pensamento.
Olgária Mattos
Favorecimentos ilícitos, informações privilegiadas, tráfico de influências, gratificações particulares, desvio de verbas públicas, suborno, omissões por interesses próprios ou partidários, formação de cartéis e negligências várias são, nas democracias modernas, práticas de corrupção e, como tais, sujeitas às leis que regulam infrações. Deixando, pois, à Justiça a função de julgar, absolver ou condenar o Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, sua detenção suscitou, como veiculado pela mídia, júbilo, como ocorreu também com a do ex-governador Paulo Maluf, a dos proprietários da Daslu ou o da Schincariol respectivamente. Os dominantes não estão acima da lei. Como, desde o impeachement do ex-presidente Fernando Collor e até o momento, o fenômeno só se tem ampliado - não se tratando apenas de segredo de informação antes, maior visibilidade agora -, compreende-se que as diversas figuras da corrupção não são fato isolado, mas atravessam a sociedade inteira.
Identificando no capitalismo contemporâneo dispositivos que colocam as práticas autorizadas no limiar da ilegalidade, o filósofo W.Benjamin anotou: "o valor venal de cada poder é calculável. Nesse contexto só se pode falar de corrupção onde esse fenômeno se torna excessivamente manipulado. Tem seu sistema de comando num sólido jogo entrelaçado de imprensa, órgãos públicos, trustes, dentro de cujos limites permanece inteiramente legal". ("Imagens de Pensamento", Rua de Mão Única).
O dinheiro como valor hegemônico na sociedade contemporânea é suposto promover a ascensão social, baseada esta exclusivamente em critérios econômicos e no prestígio do dinheiro. Em seu livro "O Processo Civilizatório", Norbert Elias analisa os primórdios da "revolução burguesa" na França, indicando a democratização dos costumes de corte. A burguesia, no esforço de alcançar uma legitimidade que não fosse a do dinheiro que ainda não se impusera como valor, procurou "aristocratizar-se", adotando a etiqueta e "as boas maneiras". Como lhe faltava o universo das tradições e dos méritos da nobreza, esforçou-se para ascender aos bens culturais. Mas, com a institucionalização da sociedade de consumo, os bens culturais que exigiam iniciação para serem compreendidos em suas linguagens próprias - como as artes e os saberes literários - foram sendo abandonados e passaram a se reger pela obsolescência constante.
De onde o advento de "modas intelectuais". A ideologia "novo-rico" prescinde até mesmo do "verniz da cultura". Porque a ideologia dominante na sociedade é a da classe dominante, a contemporânea é a dos "novos ricos". O "novo rico" é aquele que conhece o preço de todas as coisas mas desconhece seu valor. Sob seus auspícios, a educação produz uma cultura embotadora da sensibilidade e do pensamento, pois é entendida pela ideologia "novo rico" como "serviço" e mercadoria mais ou menos barata dos quais o novo rico é cliente e consumidor.
Olgária Mattos é filósofa, professora titular da Universidade de São Paulo.
Olgária Mattos
Favorecimentos ilícitos, informações privilegiadas, tráfico de influências, gratificações particulares, desvio de verbas públicas, suborno, omissões por interesses próprios ou partidários, formação de cartéis e negligências várias são, nas democracias modernas, práticas de corrupção e, como tais, sujeitas às leis que regulam infrações. Deixando, pois, à Justiça a função de julgar, absolver ou condenar o Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, sua detenção suscitou, como veiculado pela mídia, júbilo, como ocorreu também com a do ex-governador Paulo Maluf, a dos proprietários da Daslu ou o da Schincariol respectivamente. Os dominantes não estão acima da lei. Como, desde o impeachement do ex-presidente Fernando Collor e até o momento, o fenômeno só se tem ampliado - não se tratando apenas de segredo de informação antes, maior visibilidade agora -, compreende-se que as diversas figuras da corrupção não são fato isolado, mas atravessam a sociedade inteira.
Identificando no capitalismo contemporâneo dispositivos que colocam as práticas autorizadas no limiar da ilegalidade, o filósofo W.Benjamin anotou: "o valor venal de cada poder é calculável. Nesse contexto só se pode falar de corrupção onde esse fenômeno se torna excessivamente manipulado. Tem seu sistema de comando num sólido jogo entrelaçado de imprensa, órgãos públicos, trustes, dentro de cujos limites permanece inteiramente legal". ("Imagens de Pensamento", Rua de Mão Única).
O dinheiro como valor hegemônico na sociedade contemporânea é suposto promover a ascensão social, baseada esta exclusivamente em critérios econômicos e no prestígio do dinheiro. Em seu livro "O Processo Civilizatório", Norbert Elias analisa os primórdios da "revolução burguesa" na França, indicando a democratização dos costumes de corte. A burguesia, no esforço de alcançar uma legitimidade que não fosse a do dinheiro que ainda não se impusera como valor, procurou "aristocratizar-se", adotando a etiqueta e "as boas maneiras". Como lhe faltava o universo das tradições e dos méritos da nobreza, esforçou-se para ascender aos bens culturais. Mas, com a institucionalização da sociedade de consumo, os bens culturais que exigiam iniciação para serem compreendidos em suas linguagens próprias - como as artes e os saberes literários - foram sendo abandonados e passaram a se reger pela obsolescência constante.
De onde o advento de "modas intelectuais". A ideologia "novo-rico" prescinde até mesmo do "verniz da cultura". Porque a ideologia dominante na sociedade é a da classe dominante, a contemporânea é a dos "novos ricos". O "novo rico" é aquele que conhece o preço de todas as coisas mas desconhece seu valor. Sob seus auspícios, a educação produz uma cultura embotadora da sensibilidade e do pensamento, pois é entendida pela ideologia "novo rico" como "serviço" e mercadoria mais ou menos barata dos quais o novo rico é cliente e consumidor.
Olgária Mattos é filósofa, professora titular da Universidade de São Paulo.
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010
Reflexão e multimédia: em busca de um outro modo de Pensar
Por reflexão e, consequentemente, por capacidade ou raciocínio reflexivo, entende-se «a volta atenta do pensamento consciente sobre si próprio que, tanto sob um ponto de vista psicológico como ontológico constitui a sua principal manifestação» .
Compreendida num sentido puramente psicológico, a reflexão consiste no abandono da atenção ao conteúdo intencional dos actos para se voltar sobre os próprios actos. De acordo com esta perspectiva, a reflexão apresenta-se como uma espécie da direcção natural dos actos, criando-se, deste modo as condições necessárias para a reversão completa da consciência e a consecução da consciência de si mesmo.
Extrapolando-se, a este nível, as fronteiras estritas da Psicologia, ligamo-nos a uma compreensão de pendor gnoseológico, por nos permitir, embora sempre em conjugação com a perspectiva psicológica, uma análise mais completa das questões concernentes aos actos propriamente reflexivos.
Uma vez que o predomínio da visão e da linguagem da imagem têm proporcionado o desenvolvimento substancial da intuição empírica em função de um certo detrimento da intuição racional, torna-se notório que a capacidade reflexiva das novas gerações é cada vez mais diminuta: a esfera do imediato e do instantâneo têm vindo a substituir o domínio de um pensar autêntico, por atrofiar, em certa medida, essa capacidade essencial da mente humana de penetrar no interior das coisas e de captar a sua essencialidade, de perscrutar o sentido mais profundo das múltiplas significações que o universo ontológico, linguístico e conceptual nos oferece a cada momento.
Talvez encontremos, por intermédio de uma análise conjugada destes três conceitos em análise, a explicação que nos permita compreender porque é que os alunos de hoje não são mais capazes de interpretar (tendo presente o sentido genuinamente hermenêutico que atribuímos a este termo) um simples artigo de jornal sobre um qualquer tema comum, embora apreendam, de imediato, o desenrolar da história de um banda desenhada ou as funcionalidades de um jogo de computador; porque são incapazes de interpretar um dos textos mais “elementares” da literatura contemporânea, embora descodifiquem facilmente um “slogan” publicitário.
A imediatez que esta civilização multimédia tem feito despoletar, a um ritmo verdadeiramente frenético, coarcta a emergência efectiva da capacidade de abstracção que permite chegar ao conceito, aos domínios do universal e do essencial, em prol do instantâneo e do superficial.
Urge a edificação da consciência de que a imagem, o “slogan” publicitário, a banda desenhada, o cinema, o vídeo, o jogo de computador… também são texto e, como tal, devem ser sempre sujeitos a um rigoroso exercício hermenêutico, resultante de um determinado tipo de aprendizagem no âmbito das regras do saber-ler, que a escola e o professor devem promover a cada momento.
Em virtude da instalação definitiva da cultura visual, a linguagem oral e escrita é secundarizada por um outro tipo de linguagem que a imagem eficazmente produz: a icónica. Esta requer, naturalmente, um outro tipo de aprendizagem ao nível dos processos mentais e dos conteúdos que a imagem por si mesma encerra, a qual deve ser dialecticamente articulada com a aprendizagem da linguagem oral e escrita, igualmente considerada no domínio dos processos mentais e dos conteúdos nela imbricados. Esta é a realidade mais evidente do quotidiano escolar perante a qual a educação jamais se poderá alhear.
Isabel Rosete
Por reflexão e, consequentemente, por capacidade ou raciocínio reflexivo, entende-se «a volta atenta do pensamento consciente sobre si próprio que, tanto sob um ponto de vista psicológico como ontológico constitui a sua principal manifestação» .
Compreendida num sentido puramente psicológico, a reflexão consiste no abandono da atenção ao conteúdo intencional dos actos para se voltar sobre os próprios actos. De acordo com esta perspectiva, a reflexão apresenta-se como uma espécie da direcção natural dos actos, criando-se, deste modo as condições necessárias para a reversão completa da consciência e a consecução da consciência de si mesmo.
Extrapolando-se, a este nível, as fronteiras estritas da Psicologia, ligamo-nos a uma compreensão de pendor gnoseológico, por nos permitir, embora sempre em conjugação com a perspectiva psicológica, uma análise mais completa das questões concernentes aos actos propriamente reflexivos.
Uma vez que o predomínio da visão e da linguagem da imagem têm proporcionado o desenvolvimento substancial da intuição empírica em função de um certo detrimento da intuição racional, torna-se notório que a capacidade reflexiva das novas gerações é cada vez mais diminuta: a esfera do imediato e do instantâneo têm vindo a substituir o domínio de um pensar autêntico, por atrofiar, em certa medida, essa capacidade essencial da mente humana de penetrar no interior das coisas e de captar a sua essencialidade, de perscrutar o sentido mais profundo das múltiplas significações que o universo ontológico, linguístico e conceptual nos oferece a cada momento.
Talvez encontremos, por intermédio de uma análise conjugada destes três conceitos em análise, a explicação que nos permita compreender porque é que os alunos de hoje não são mais capazes de interpretar (tendo presente o sentido genuinamente hermenêutico que atribuímos a este termo) um simples artigo de jornal sobre um qualquer tema comum, embora apreendam, de imediato, o desenrolar da história de um banda desenhada ou as funcionalidades de um jogo de computador; porque são incapazes de interpretar um dos textos mais “elementares” da literatura contemporânea, embora descodifiquem facilmente um “slogan” publicitário.
A imediatez que esta civilização multimédia tem feito despoletar, a um ritmo verdadeiramente frenético, coarcta a emergência efectiva da capacidade de abstracção que permite chegar ao conceito, aos domínios do universal e do essencial, em prol do instantâneo e do superficial.
Urge a edificação da consciência de que a imagem, o “slogan” publicitário, a banda desenhada, o cinema, o vídeo, o jogo de computador… também são texto e, como tal, devem ser sempre sujeitos a um rigoroso exercício hermenêutico, resultante de um determinado tipo de aprendizagem no âmbito das regras do saber-ler, que a escola e o professor devem promover a cada momento.
Em virtude da instalação definitiva da cultura visual, a linguagem oral e escrita é secundarizada por um outro tipo de linguagem que a imagem eficazmente produz: a icónica. Esta requer, naturalmente, um outro tipo de aprendizagem ao nível dos processos mentais e dos conteúdos que a imagem por si mesma encerra, a qual deve ser dialecticamente articulada com a aprendizagem da linguagem oral e escrita, igualmente considerada no domínio dos processos mentais e dos conteúdos nela imbricados. Esta é a realidade mais evidente do quotidiano escolar perante a qual a educação jamais se poderá alhear.
Isabel Rosete
Subscrever:
Comentários (Atom)











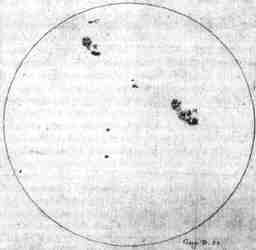















.jpg)