O debate da política externa: a moral internacional e o poder
Ao receber o Nobel da Paz, Obama recorreu às idéias de São Agostinho e de Santo Tomás de Aquino sobre a legitimidade moral das "guerras justas". Ao fazer isso, retomou a tese medieval de que existiria uma única moral internacional, situada acima de todas as culturas e civilizações.
José Luís Fiori
“No grau de cultura em que ainda se encontra o gênero humano, a guerra é um meio inevitável para estender a civilização, e só depois que a cultura tenha se desenvolvido (Deus sabe quando), será saudável e possível uma paz perpétua.”
Immanuel Kant, “Começo verossímil da história humana”, 1796
A confusão já era grande, e ficou ainda maior, depois do discurso do presidente norte-americano, Barack Obama, em defesa da guerra, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, de 2009. Como liberal, Obama poderia ter utilizado os argumentos do filósofo alemão, Immanuel Kant (1724-1804), que também defendeu, na sua época, a legitimidade das guerras, como meio de difusão da civilização européia, até que chegasse a hora da “paz perpétua”. Mas Obama preferiu voltar à Idade Média e recorrer às idéias de São Agostinho (354-430) e de Santo Tomás de Aquino (1225-1274), sobre a legitimidade moral das “guerras justas”.
A opção do presidente Obama não foi casual: através dos santos católicos, em vez dos filósofos iluministas, ele tentou retomar a tese medieval de que existiria uma única moral internacional, situada acima de todas as culturas e civilizações, capaz de embasar juízos objetivos e imparciais, sobre a conduta de todos os povos e todos os estados. E não deve ter passado despercebido do presidente Obama, que o argumento da “guerra justa” - sobretudo no caso de Santo Tomas de Aquino - estava associado como projeto de construção de uma monarquia universal, da Igreja Católica, dos séculos XII e XIII. O que talvez ele tenha esquecido ou desconsiderado é que este projeto “cosmopolita” de Roma foi derrotado e desapareceu depois do nascimento dos estados nacionais europeus. Da mesma forma que a tese da “guerra justa” foi engavetada, depois da crítica demolidora de Hugo Grotius (1583-1645), o jurista holandês e liberal que demonstrou que no novo sistema inter-estatal que havia se formado na Europa, era possível que frente à uma única “justiça objetiva”, coexistissem várias “inocências subjetivas”.
Em outras palavras: mesmo que se acreditasse na existência de uma única moral internacional, dentro de um sistema de estados eqüipotentes, não haverá jamais como arbitrar “objetivamente”, sobre a legitimidade de uma guerra entre dois estados. Por isto, na prática, esta arbitragem coube sempre, através dos tempos, aos estados que tiveram capacidade de impor seus interesses e seus valores, como se fossem interesses e valores universais. Nos séculos seguintes, este “paradoxo de Grotius”, se transformou na principal contradição e limite da utopia liberal inventada pelos europeus. Thomas Hobbes (1588-1679) e Immanuel Kant (1724-1804) perceberam desde o primeiro momento do novo sistema, que a garantia da ordem dos estados e da liberdade dos indivíduos, exigia a presença de um poder soberano absoluto, acima de todos os demais poderes, e da própria liberdade dos indivíduos. Por outro lado, François Quesnais (1694-1774) e a escola liberal dos fisiocratas franceses, também concluíram que o bom funcionamento de uma economia de mercado requereria sempre um “tirano esclarecido” que eliminasse pela força, os obstáculos políticos ao próprio mercado. E finalmente, Immanuel Kant concluiu que as guerras eram um meio inevitável de difusão da civilização européia.
Em todos os casos, se pode identificar o mesmo paradoxo, no reconhecimento liberal da necessidade do poder e da guerra para difundir e sustentar a própria moral em que se funda a liberdade, e o reconhecimento de que no campo das relações internacionais, o que se chama de “moral internacional” será sempre a “moral” dos povos e dos estados mais poderosos. Edward Carr (1892-1982), o pai da teoria política internacional inglesa, referiu-se a estes países como sendo membros de um “círculo dos criadores da moral internacional” , formado nos dois últimos séculos, pela Grã Bretanha, os EUA e a França.
Para entender na prática, como se dão estas relações, basta olhar hoje para a posição dos anglo-saxões e dos franceses, frente ao programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos patrocinaram o golpe que derrubou o presidente eleito do Irã, em 1953, e sustentaram o regime autoritário do Xá Reza Pahlavi, junto com seu programa nuclear, até sua deposição em 1979. Mas antes disto, já tinham permitido que Israel tivesse acesso a tecnologia nuclear, com o auxilio da França e da Grã Bretanha, por volta de 1965. Quando entrou em vigor o Tratado de Não Proliferação Nuclear, em 1970, EUA, GB e França conheciam esconderam o arsenal atômico do Israel, e nunca protestaram contra Israel por não ter assinado o Tratado, nem ter aceitado as inspeções da Agencia de Energia Atômica das NU, além de ter rejeitado a Resolução 487, de 1981, do Conselho de Segurança das NU, que se propunha colocar as “facilidades atômicas” de Israel, sob a salvaguarda da IAEA. Como resultado, existe hoje uma assimetria gigantesca de poder militar dentro do Oriente Médio: são 15 países, com 260 milhões de habitantes, e o só Israel, com apenas 7,5 milhões de habitantes e 20 mil km2, detém uma arsenal de cerca de 250 cabeças atômicas, com um sistema balístico extremamente sofisticado, e com o apoio permanente da capacidade atômica e de ataque dos EUA, dentro do próprio Oriente Médio.
Neste contexto, o esquecimento do “poder” no tratamento da “questão nuclear iraniana”, e sua substituição por um juízo moral e de política interna, é uma hipocrisia e uma manipulação publicitária. Por isso, quando se lê hoje a imprensa americana– em particular os jornais liberais de Nova York – fica-se com a impressão que as bombas de Hiroshima e Nagasaki caíram do céu, sem que tivesse havido interferência dos aviões norte-americanos no único ataque atômico jamais feito à populações civis, na história da humanidade. Fica-se com a impressão que o arsenal atômico de Israel também caiu do céu sem a interferência da França e da Grã Bretanha, e com aquiescência dos EUA, os grandes “criadores de moral internacional”. E o que é pior, fica-se com a impressão que o Holocausto aconteceu no Irã, ou no mundo islâmico, e não na Alemanha do filósofo Immanuel Kant, situada no coração da Europa cristã.
José Luís Fiori, cientista político, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Fonte: "Carta Maior" (31/12/2009)
Isabel Rosete - ésquisa e divulgação
quinta-feira, 7 de janeiro de 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)











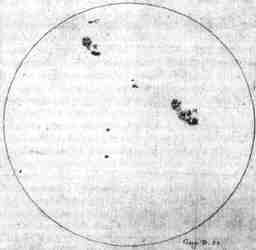















.jpg)
Sem comentários:
Enviar um comentário